«Simbologia do Ícone Bizantino»
Por: Manuel Vega
Tradução do espanhol por Pe. André Sperandio
Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/simbologia_del_icono_bizantino.html
«Simbologia do Ícone Bizantino»
Por: Manuel Vega
Tradução do espanhol por Pe. André Sperandio
Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/simbologia_del_icono_bizantino.html
A simbologia das cores

O célebre ícone da
«VIRGEM DE VLADIMIR»
(Constantinopla, ano 1125)
As cores, produto da decomposição da luz, têm na iconografia uma linguagem própria e são portadoras de uma linguagem mística, transcendente. Eugênio Troubotzkoï, filósofo russo do início de século XVIII, ao falar sobre os ícones expressa o seguinte:
«As cores são usadas pelo artista [iconógrafo] com o objetivo de separar o Céu de nossa existência terrena. Aí está a chave que permite compreender a beleza inefável da simbologia do ícone».
Os iconógrafos, escritores e não «pintores» dos ícones, posto que estes são escritos e não «pintados», não podem usar livremente as cores nem lhes dar tonalidades diversas, tão pouco podem obscurece-los com sombras, pois devem aplicar a cor que está previamente determinada. O II Concílio de Nicéia estabeleceu que...
«Somente o aspecto técnico da obra depende do pintor [escritor]. Todo o seu plano, sua disposição depende dos santos Padres.»
É por isso que foram estabelecidos manuais para a elaboração dos mesmos.
Em primeiro lugar, ao falar sobre as cores dos ícones, é necessário fazê-lo sobre a sua luz, pois neles a luz não provêm de um lugar específico como acontece na pintura ocidental, senão que, neles as figuras estão imersas na luz.
O DOURADO [OURO]

«A VIRGEM DA TERNURA»
(Constantinopla, séc. XIV)
O homem, desde as suas origens, contempla com admiração a dourada luz do sol, presumindo que tivesse sua origem na divindade, pois na natureza não é possível encontrar esta cor. Nos ícones, todos os fundos estão cobertos desta cor, o que é possível conseguir aplicando folhas de ouro que são polidas até conseguir seu brilho máximo.
Na iconografia bizantina representa-se a luz de Deus, daí porque, qualquer figura representada neles está plena da luz divina. O manto e a túnica do Pantokrátor, da Teothokos, ou Mãe de Deus, alguns arcanjos e santos, são decoradas com elaborados desenhos feitos com esta cor, pois a proximidade com Deus assim o requer.
O BRANCO
O branco não é propriamente uma cor, mas a soma de todos elas. É a luz mesma. É a cor da «Nova Vida». No ícone da Ressurreição, a túnica de Cristo é desta cor. Os primeiros cristãos, ao serem batizados, vestiam-se de com vestes brancas, como símbolo do seu novo nascimento para a nova vida transcendente.
O PRETO

«A VIRGEM COM O MENINO»
(Tessalônica, séc. XIV)
É a contraparte da cor anterior, pois é ausência total de luz, a carência total de cor.
O preto representa o vazio, o caos, a morte, pois sem luz a vida cessa... Nos ícones, é mostrado na gruta da Natividade, o menino se encontra fora dela, pois antes da sua vinda só existia a morte. Desta cor são os condenados e os demônios no ícone do «Juizo Fina», significando que para eles a vida eterna se extinguiu.
O VERMELHO
Essa cor tem sido amplamente utilizada pelos iconógrafoss nos mantos e túnicas de Cristo e dos mártires. Simboliza o sangue do sacrifício, bem como o amor, porque o amor é a causa principal do sacrifício. Ao contrário do branco. que simboliza o intangível, o vermelho é uma cor distintamente humana, representando, portanto, a plenitude da vida terrena. No ícone do Pretório, Jesus veste uma túnica vermelha que indica que ele é o «"Filho do Homem» e que está preparado para o sacrifício.
O PÚRPURA (ROXO)

«A VIRGEM COM O MENINO»
(autor siciliano de estilo bizantino)
Esta cor, que é extraída de um crustáceo do Mar Vermelho, era utilizada para tingir as mais finas sedas. A partir do «Código Justiniano» a sua utilização ficou reservada exclusivamente para o imperador, seus parentes mais próximos, os «augustos» e para alguns outros reis. Portanto, esta cor nos ícones é representante do poder imperial. É usado apenas nos mantos e túnicas do Pantokrátor e da Virgem Mãe de Deus, a Theotokos, indicando que Cristo, e por extensão, a sua mãe, detêm o poder o poder divino. E, como Cristo é também o Sumo Sacerdote da Igreja, simboliza assim o sacerdócio.
O AZUL
Todas as culturas antigas associavam o azul à divindade. Os egípcios o associaram à «verdade» e, portanto, com seus deuses. Nos muros de suas tumbas e templos pode se observar pinturas de sacerdotes, cujas vestimentas são dessa cor. A máscara funerária de Tutankhamon está decorada com franjas de lápis azul, de modo que na outra vida fosse identificado como um deus.
É natural que em bizâncio fosse estabelecida como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais lhes transmite a sua santidade.
Michel Quenot, em seu precioso livro «O Ícone», afirma:
«O azul oferece uma transparência que se verifica no vazio da água, do ar ou do cristal. O olhar penetraaí e vai até o infinito, e chega a Deus».
O VERDE

«CRISTO, A DIVINA SABEDORIA»
(Tessalônica, séc. XIV)
É a cor resultante da combinação do azul e do amarelo. Verde é a cor da natureza, a cor da vida sobre a Terra, do renascimento para a chegada da primavera. A iconografia lhe dá um significado de renovação espiritual.
Nos ícones, vemos muitos exemplos onde o verde é usado: nos túnicas e nos mantos dos profetas, na túnica de São João Batista, o Precursor etc, pois foram os que anunciaram a vinda de Cristo.
O MARRON OU CAFÉ
Esta cor também é um resultado da mistura de várias outras, tais como o vermelho,o azul, o branco e o preto. É a cor da terra e, por isso, a iconografia aplica esta cor no rosto das imagens que aparecem nos ícones, para recordar que o homem «é pó e ao pó retornará».
Significa também a «humildade», pois esta palavra vem do vocábulo latino «humus», que significa «terra». [...]
Ouro, branco, preto, vermelho, roxo, azul, verde e marrom são as únicas cores que podem ser utilizadas na pintura de ícones. O uso de outras combinações de cores são alheias a toda e qualquer regra iconográfica já que não são portadoras de nenhuma simbologia.
| O célebre ícone da «VIRGEM DE VLADIMIR» (Constantinopla, ano 1125) |
As cores, produto da decomposição da luz, têm na iconografia uma linguagem própria e são portadoras de uma linguagem mística, transcendente. Eugênio Troubotzkoï, filósofo russo do início de século XVIII, ao falar sobre os ícones expressa o seguinte:
«As cores são usadas pelo artista [iconógrafo] com o objetivo de separar o Céu de nossa existência terrena. Aí está a chave que permite compreender a beleza inefável da simbologia do ícone».
Os iconógrafos, escritores e não «pintores» dos ícones, posto que estes são escritos e não «pintados», não podem usar livremente as cores nem lhes dar tonalidades diversas, tão pouco podem obscurece-los com sombras, pois devem aplicar a cor que está previamente determinada. O II Concílio de Nicéia estabeleceu que...
«Somente o aspecto técnico da obra depende do pintor [escritor]. Todo o seu plano, sua disposição depende dos santos Padres.»
É por isso que foram estabelecidos manuais para a elaboração dos mesmos.
Em primeiro lugar, ao falar sobre as cores dos ícones, é necessário fazê-lo sobre a sua luz, pois neles a luz não provêm de um lugar específico como acontece na pintura ocidental, senão que, neles as figuras estão imersas na luz.
O DOURADO [OURO]
| «A VIRGEM DA TERNURA» (Constantinopla, séc. XIV) |
O homem, desde as suas origens, contempla com admiração a dourada luz do sol, presumindo que tivesse sua origem na divindade, pois na natureza não é possível encontrar esta cor. Nos ícones, todos os fundos estão cobertos desta cor, o que é possível conseguir aplicando folhas de ouro que são polidas até conseguir seu brilho máximo.
Na iconografia bizantina representa-se a luz de Deus, daí porque, qualquer figura representada neles está plena da luz divina. O manto e a túnica do Pantokrátor, da Teothokos, ou Mãe de Deus, alguns arcanjos e santos, são decoradas com elaborados desenhos feitos com esta cor, pois a proximidade com Deus assim o requer.
O BRANCO
O branco não é propriamente uma cor, mas a soma de todos elas. É a luz mesma. É a cor da «Nova Vida». No ícone da Ressurreição, a túnica de Cristo é desta cor. Os primeiros cristãos, ao serem batizados, vestiam-se de com vestes brancas, como símbolo do seu novo nascimento para a nova vida transcendente.
O PRETO
| «A VIRGEM COM O MENINO» (Tessalônica, séc. XIV) |
É a contraparte da cor anterior, pois é ausência total de luz, a carência total de cor.
O preto representa o vazio, o caos, a morte, pois sem luz a vida cessa... Nos ícones, é mostrado na gruta da Natividade, o menino se encontra fora dela, pois antes da sua vinda só existia a morte. Desta cor são os condenados e os demônios no ícone do «Juizo Fina», significando que para eles a vida eterna se extinguiu.
O VERMELHO
Essa cor tem sido amplamente utilizada pelos iconógrafoss nos mantos e túnicas de Cristo e dos mártires. Simboliza o sangue do sacrifício, bem como o amor, porque o amor é a causa principal do sacrifício. Ao contrário do branco. que simboliza o intangível, o vermelho é uma cor distintamente humana, representando, portanto, a plenitude da vida terrena. No ícone do Pretório, Jesus veste uma túnica vermelha que indica que ele é o «"Filho do Homem» e que está preparado para o sacrifício.
O PÚRPURA (ROXO)
«A VIRGEM COM O MENINO»
(autor siciliano de estilo bizantino) |
Esta cor, que é extraída de um crustáceo do Mar Vermelho, era utilizada para tingir as mais finas sedas. A partir do «Código Justiniano» a sua utilização ficou reservada exclusivamente para o imperador, seus parentes mais próximos, os «augustos» e para alguns outros reis. Portanto, esta cor nos ícones é representante do poder imperial. É usado apenas nos mantos e túnicas do Pantokrátor e da Virgem Mãe de Deus, a Theotokos, indicando que Cristo, e por extensão, a sua mãe, detêm o poder o poder divino. E, como Cristo é também o Sumo Sacerdote da Igreja, simboliza assim o sacerdócio.
O AZUL
Todas as culturas antigas associavam o azul à divindade. Os egípcios o associaram à «verdade» e, portanto, com seus deuses. Nos muros de suas tumbas e templos pode se observar pinturas de sacerdotes, cujas vestimentas são dessa cor. A máscara funerária de Tutankhamon está decorada com franjas de lápis azul, de modo que na outra vida fosse identificado como um deus.
É natural que em bizâncio fosse estabelecida como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais lhes transmite a sua santidade.
É natural que em bizâncio fosse estabelecida como a cor própria de Deus e das pessoas para as quais lhes transmite a sua santidade.
Michel Quenot, em seu precioso livro «O Ícone», afirma:
«O azul oferece uma transparência que se verifica no vazio da água, do ar ou do cristal. O olhar penetraaí e vai até o infinito, e chega a Deus».
O VERDE
| «CRISTO, A DIVINA SABEDORIA» (Tessalônica, séc. XIV) |
É a cor resultante da combinação do azul e do amarelo. Verde é a cor da natureza, a cor da vida sobre a Terra, do renascimento para a chegada da primavera. A iconografia lhe dá um significado de renovação espiritual.
Nos ícones, vemos muitos exemplos onde o verde é usado: nos túnicas e nos mantos dos profetas, na túnica de São João Batista, o Precursor etc, pois foram os que anunciaram a vinda de Cristo.
O MARRON OU CAFÉ
Esta cor também é um resultado da mistura de várias outras, tais como o vermelho,o azul, o branco e o preto. É a cor da terra e, por isso, a iconografia aplica esta cor no rosto das imagens que aparecem nos ícones, para recordar que o homem «é pó e ao pó retornará».
Significa também a «humildade», pois esta palavra vem do vocábulo latino «humus», que significa «terra». [...]
Ouro, branco, preto, vermelho, roxo, azul, verde e marrom são as únicas cores que podem ser utilizadas na pintura de ícones. O uso de outras combinações de cores são alheias a toda e qualquer regra iconográfica já que não são portadoras de nenhuma simbologia.
A simbologia na figura humana

«A CRUCIFIXÃO»
(Constantinopla, ano 1350)
A partir da Grécia clássica a arte ocidental buscou exaltar a beleza da figura humana.na Atenas de Péricles, para a elaboração das esculturas eram escolhidos modelos que eram arquétipos de beleza e perfeição anatômicos e, desta maneira, estabeleciam-se as proporções perfeitas de cada uma das partes do corpo humano. O Renascimento retomou os ideais da estética grega.
A pintura, de tradição bizantina, difere radicalmente do conceito ocidental que se baseia na beleza física. Nos ícones a figura humana revela uma carência total de realismo, buscando mostrar a realidade espiritual destas pinturas, posto que a beleza interior tem primazia sobre a estética, cumprindo asim, sobretudo, com a sua missão evangélica.
A CABEÇA HUMANA
Nos ícones, a cabeça não mantém nenhuma proporção com as demais partes do corpo, pois nela radica a inteligência e a sabedoria, sendo ela a receptoras das luzes divinas.
A cabeça feminina é apresentada sempre coberta por um manto ou por algum outro toque, ocultando por completo os cabelos.
Nos ícones do Menino Jesus e de alguns santos como os de São Nicolau, São Basílio etc, suas cabaças são representadas com um grande tamanho e com a frente abaulada significando que detêm uma inteligência superior e que esta é assistida pelo Espírito Santo.
As cabeças de Cristo, da Virgem (Theotokos), dos anjos e santos estão sempre circundadas por uma auréola, geralmente dourada, que representa a luz de Deus.
O ROSTO

«CRISTO PANTOKRÁTOR»
(Sérvia, [cuja cultura é devedora absoluta de Bizâncio] ano 1260)
O rosto das imagens, pode-se afirmar, é o centro espiritual do ícone. São apresentados, em geral, voltados (olhando) para frente, pois a frontalidade significa presença e, dessa maneira, estão em contato direto com quem os contempla. Encontram-se sempre em atitude de oração, já que seu pensamento está posto no Altíssimo. Não obstante, parecem estar permanentemente interrogando a quem deles se aproxima.
Algumas vezes os rostos se encontram num posição de "três quartos", isto é, estão voltados para o tema (motivo) principal do ícone e, ainda assim, seu olhar dirige-se para frente. Este é o caso da Virgem de Vladimir e da Virgem da Paixão em que a cabeça da Mãe está dirigida para o Filho, porém, seu olhar está orientado para quem os observa.
Outro ícone com estas mesmas características é o de São Lucas em seu ofício de pintor; sua cabeça está voltada para o trabalho que está executando, porém, seu olhar está fixo para frente.
Estas disposições foram expressamente fixadas pelo "Manual Herminio" que, atualmente, se encontra conservado em algum monastério athonita.
Alguns rostos são apresentados de perfil. Sua explicação iconográfica seria que os personagens assim apresentados não teriam alcançado ainda a santidade. Exemplo disto temos no ícone da Natividade, no qual o rosto dos Pastores apresentam esta configuração.

«ARCANJO MIGUEL»
(Constantinopla, séc. XIV)
A iconografia rejeita pintar a parte posterior dos rostos, isto é, a nuca. Na Grécia clássica denominavam aos escravos "aprosopos", que significa «os sem rosto». Num ícone de São João Batista, o Precursor, vê-se sua cabeça separada do corpo porém, seu rosto é perfeitamente visível. Esta simbologia está baseada num versículo do evangelho de São Lucas que diz: «o que põe a mão no arado e olha para tráz não serve ao Reino de Deus».
Muito se tem dito, de forma crítica, que nos ícones, o mesmo modelo de rosto se repete aqui e ali. Quanta verdade encerram estas palavras, porém, longe de ser este um demérito, é, pelo contrário, um louvor, pois ao serem plasmados nos ícones os rostos humanos, é do «homem novo» de que fala São Paulo, que já recebeu a graça divina, pois aos olhos de Deus, não existe diferença alguma entre seus filhos.
| «A CRUCIFIXÃO» (Constantinopla, ano 1350) |
A partir da Grécia clássica a arte ocidental buscou exaltar a beleza da figura humana.na Atenas de Péricles, para a elaboração das esculturas eram escolhidos modelos que eram arquétipos de beleza e perfeição anatômicos e, desta maneira, estabeleciam-se as proporções perfeitas de cada uma das partes do corpo humano. O Renascimento retomou os ideais da estética grega.
A pintura, de tradição bizantina, difere radicalmente do conceito ocidental que se baseia na beleza física. Nos ícones a figura humana revela uma carência total de realismo, buscando mostrar a realidade espiritual destas pinturas, posto que a beleza interior tem primazia sobre a estética, cumprindo asim, sobretudo, com a sua missão evangélica.
A CABEÇA HUMANA
Nos ícones, a cabeça não mantém nenhuma proporção com as demais partes do corpo, pois nela radica a inteligência e a sabedoria, sendo ela a receptoras das luzes divinas.
A cabeça feminina é apresentada sempre coberta por um manto ou por algum outro toque, ocultando por completo os cabelos.
Nos ícones do Menino Jesus e de alguns santos como os de São Nicolau, São Basílio etc, suas cabaças são representadas com um grande tamanho e com a frente abaulada significando que detêm uma inteligência superior e que esta é assistida pelo Espírito Santo.
As cabeças de Cristo, da Virgem (Theotokos), dos anjos e santos estão sempre circundadas por uma auréola, geralmente dourada, que representa a luz de Deus.
O ROSTO
«CRISTO PANTOKRÁTOR»
(Sérvia, [cuja cultura é devedora absoluta de Bizâncio] ano 1260) |
O rosto das imagens, pode-se afirmar, é o centro espiritual do ícone. São apresentados, em geral, voltados (olhando) para frente, pois a frontalidade significa presença e, dessa maneira, estão em contato direto com quem os contempla. Encontram-se sempre em atitude de oração, já que seu pensamento está posto no Altíssimo. Não obstante, parecem estar permanentemente interrogando a quem deles se aproxima.
Algumas vezes os rostos se encontram num posição de "três quartos", isto é, estão voltados para o tema (motivo) principal do ícone e, ainda assim, seu olhar dirige-se para frente. Este é o caso da Virgem de Vladimir e da Virgem da Paixão em que a cabeça da Mãe está dirigida para o Filho, porém, seu olhar está orientado para quem os observa.
Outro ícone com estas mesmas características é o de São Lucas em seu ofício de pintor; sua cabeça está voltada para o trabalho que está executando, porém, seu olhar está fixo para frente.
Estas disposições foram expressamente fixadas pelo "Manual Herminio" que, atualmente, se encontra conservado em algum monastério athonita.
Alguns rostos são apresentados de perfil. Sua explicação iconográfica seria que os personagens assim apresentados não teriam alcançado ainda a santidade. Exemplo disto temos no ícone da Natividade, no qual o rosto dos Pastores apresentam esta configuração.
| «ARCANJO MIGUEL» (Constantinopla, séc. XIV) |
A iconografia rejeita pintar a parte posterior dos rostos, isto é, a nuca. Na Grécia clássica denominavam aos escravos "aprosopos", que significa «os sem rosto». Num ícone de São João Batista, o Precursor, vê-se sua cabeça separada do corpo porém, seu rosto é perfeitamente visível. Esta simbologia está baseada num versículo do evangelho de São Lucas que diz: «o que põe a mão no arado e olha para tráz não serve ao Reino de Deus».
Muito se tem dito, de forma crítica, que nos ícones, o mesmo modelo de rosto se repete aqui e ali. Quanta verdade encerram estas palavras, porém, longe de ser este um demérito, é, pelo contrário, um louvor, pois ao serem plasmados nos ícones os rostos humanos, é do «homem novo» de que fala São Paulo, que já recebeu a graça divina, pois aos olhos de Deus, não existe diferença alguma entre seus filhos.
As partes do rosto
OS OLHOS

«PROFETA DANIEL
NA COVA DOS LEÕES»
(Constantinopla, séc. XIV)
Os olhos das figuras que aparecem nos ícones são extremamente grandes e emoldurados por sobrancelhas também arqueadas. Comparado com o tamanho da cabeça, estão fora de toda proporção, rompendo medidas antropométricas, bem como as estabelecidas pela arte ocidental.
Os olhos, como todos os órgãos sensoriais da face, levam implícito um símbolo baseado no texto do Evangelho de Lucas no qual se lê « Os mMeus olhos viram salvação que vem de Ti» Parecem sempre estar imóveis, pois não apenas vêem, mas vigilam e interrogam, penetrando as profundezas da alma do espectador.
Os iconógrafos, ao pintá-los dessa forma, pretendem revelar a verdade, pois, é nesses olhos de tamanho descomunal que se está aninhado. Seguem ao pé da letra o que diz no evangelho:«O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado; se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas». (Lc 11,34)
O NARIZ

«SÃO JORGE, MEGALOMÁRTIR»
(Constantinopla, séc. XV)
O nariz, órgão do olfato e do início das vias respiratórias, são apresentados nos ícones de forma aguda e alargada, quase como um filamento que liga os olhos à boca. É pintado de forma a impedir as fragrâncias do mundo material e para que possa capturar apenas o odor do sagrado, servindo como condutor ao hálito do espírito que deve inundar todo o ser do personagem representado no ícone.
A BOCA
Alguns filósofos gregos afirmavam que a boca é a parte mais sensual do corpo. Nela radica o sentido do paladar, que permite que os mais sofisticados pratos sejam saborados, e que sejam rejeitados aqueles que causam desconforto. Dela é que saem as palavras que louvam ou insultam. Com ela se dá a mais apreciada das carícias humanas, o beijo. Os iconógrafos quase a anulam como órgão sensorial, pintando-a extremamente fina, quase como uma linha com dois pequenos triângulos que simulam ser lábios. Permanecerá invariavelmente fechada, pois a verdadeira oração é silenciosa. Zacarias, no Antigo Testamento adverte: «Que tudo se cale diante do Senhor».
Num ícone russo, conhecido como «São João em Silêncio», aparece o Apóstolo com os dedos de uma de suas mãos sobre a boca, e a outra segurando o livro dos Evangelhos. Um anjo o comunica ao ouvido, ainda que seus lábios permaneçam fechados, uma mensagem; a sua pequena mão assim o adverte. Toda essa complexa simbologia explica a frase de Zacarias.
A ORELHA

«A ANUNCIAÇÃO»
(Constantinopla, séc. XIV)
As orelhas, diz-se que é a única parte do corpo humano que nunca pára de crescer. Nas figuras dos ícones estão representados de duas diferentes maneiras: Extraordinariamente grande, particularmente nas imagens de alguns santos, para indicar que esses personagens estão atentos para ouvir o chamado divino. Na maioria dos casos, são quase totalmente invisíveis, pois, somente o lóbulo não está coberta pelo manto ou pelos cabelos. Assim, a imagem permanece alheia aos ruídos do mundo e só está atenta às vozes de seu interior.
O QUEIXO
É representado forte e enérgico, mesmo em figuras femininas. Nas masculinas se esconde por detrás de longas barbas, expressando assim a força do espírito.
O COLO
É a união da cabeça com as demais partes do corpo. A iconografia o representa muito alongado, pois é o meio pelo qual o corpo recebe o alento vivificador do Espírito.
O CORPO HUMANO

«A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO»
(Grego de Byzagios, séc. XV)
Nos ícones, todos os corpos são representados altos e magros, desprovidos de qualquer volume, o que lhe é proporcionado pela ampla roupagem que ocultam qualquer aparência sexual.
A magreza do corpo indica a superioridade do espírito sobre a carne ao mesmo tempo em que acentua a sua renúncia às coisas materiais e a todos os assuntos terrenos.
Uma das críticas mais comuns a este estilo de pintura é a imobilidade das imagens. Isto revela ignorância sobre a iconografia bizantina, pois com a ausência de qualquer gesto denotando ação, simboliza-se a «Aghia Irene», isto é, a santa Paz. Movimentos bruscos expressam o contrário, isto é, o estado pecaminoso do homem. Nenguma sombra é projetada sobre estes corpos hieráticos, não só porque o ícone está imerso na luz, masporque, em Deus, não há sombras nem lugares ocultos.
Os braços geralmente aparecem cobertos pelo manto, túnica ou vestimentas litúrgicas, até abaixo do punho. Apenas no ícone da «Natividade da Virgem», duas figuras femininas aparecem com os braços descobertos e sem auréola, indicando que estas mulheres estão à serviço da figura principal do ícone.
Da parte inferior da manga surgem as mãos cujo significado dependerá da posição delas ou de seus dedos. Os dedos serão sempre muito longos e finos para simularserem os cabos condutores da energia espiritual. Neles também reside o poder, pois com o dedo indicador, sinaliza-se, indica-se e ordena-se.
No ícone da Virgem da Paixão ou «Nossa Senhora do Perpétuo Socorro», como é conhecido no Ocidente, os dedos de sua mão esquerda estão juntos e apontam para o Menino. Esta mão alongada representa o «Caminho», pois aponta para Cristo-Menino, manifestando, assim, as palavras do Evangelho «Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida». Da sua mão direita, observa-se apenas quatro dedos que estão postos com as suas pontas para cima, sinalizando também para o Menino, o anterior indica que o que foi escrito nos Quatro Evangelhos é a sua Palavra. Em outros ícones da Teothokos pode se observar a presença destes mesmos símbolos.
Quando as mãos aparecem mostrando as suas palmas simboliza uma súplica, uma oração. Quando um mendigo nos solicita uma ajuda, o fará mostrando a palma de sua mão estendida. No ícone da «Deesis» ou «Súplica», aparecem, tanto a Virgem como São João Batista (O Precursor) com as mãos nessa posição.


«I»
«C»
«X»
IC XC = «JESUS CRISTO»
BRAÇOS E MÃOS

« ASCENÇÃO, S. CATARINA DO SINAI»
(séc. VII)
As mãos do «Pantokrátor» são as mais expressivas. Nos dedos da mão, que se vê acima na figura, pode-se ler o seguinte: IC XC que é o anagrama do nome de Cristo.
Esta mão tem ainda uma segunda interpretação: os três dedos juntos simbiolizam a Trindade; os dois outros expressam que Ele é a segunda Pessoa da Santíssima Trindade. (1: Deus-Pai, 2: Deus-Filho, 3: Deus-Espírito-Santo).
A PAISAGEM
Nas pinturas de tradição bizantina, os campos e montanhas se vêem reduzidos à simples decorações localizadas em um plano secundário. Não estão sujeitas a nenhuma proporção com as imagens centrais. As montanhas, normalmente desprovidas de vegetação, se assemelham a uma acumulação desordenada de rochas que desafiam a gravidade. Árvores e arbustos são pequenos e de escassa folhagem. Casas e edifícios não mantêm nenhuma proporção (escala) com os outros elementos da pintura, e suas portas e janelas estão localizados sem nenhuma ordem. Os interiores são geralmente marcados como se fossem cortinas decoradas com diversos desenhos. Tudo isso simboliza que as coisas terrenas não têm ordem ou disposição e que, portanto, são perecíveis.

«SS. PROCÓPIO, DEMÉTRIO E NESTOR»
(séc. XI)
Em todos os ícones, os nomes das personagens que aparecem estão escritos sobre o fundo dourado e nos lados das imagens, em caracteres gregos ou cirílicos, conforme o seu local de origem. O que pode muito bem ser uma reiteração do costume romano adotado pelos primeiros cristãos. De acordo com a iconografia, o nome ativa a presença da personagem e lhe confere um significado sagrado.
A imagem de Cristo é sempre acompanhada pelas letras IC XC que é a abreviatura de seu nome. Na auréola do Pantokrátor deve-se incluir as letras gregas que são as iniciais da expressão «Eu sou quem eu sou». Quando se trata da figura da Virgem Maria, são inscritas as letras MP OY, que advertem tratar-se da «Mãe de Deus».
Como se pode notar, os ícones deixam de ser uma obra pictórica, convertendo-se num objeto litúrgico, pois que o seu significado ultrapassa o que alcança e capta o sentido da visão. Sua profunda simbologia está sustentada por textos retirados das Escrituras Sagradas, que o iconógrafo interpreta minunciosamente, seguindo os manuais escritos pelos Pais da Igreja.


«SINAXE DOS SANTOS APÓSTOLOS»
No primeiro plano estão Pedro, Tiago, João e Mateus.
( Por volta do ano 1300) Após a queda de Bizâncio,
continuam sendo feitos ícones de valor incalculável como este que representa:
«SANTO ANTÔNIO (ANTÃO) O GRANDE», magnificamente escrito
por Miguel Damaskinos
(segunda metade do séc. XVI)
FONTE:
Orai sem cessar
I
Fonte:
http://www.salvemaliturgia.com/2014/02/orai-sem-cessar-ii.html
Por Kairo Rosa Neves de Oliveira
"Orai sem cessar." este é o que diz o Apóstolo Paulo à igreja
de Tessalônica, mas não só a ela. A Igreja universal não cessa de elevar seus
louvores a Deus Pai, por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. O centro de
toda a oração da Igreja é a Santa Missa, na qual Cristo oferece na pessoa do
sacerdote a si próprio como oblação agradável a Deus; todavia não resume a ela
as preces públicas que dirige a Deus todos os dias. A liturgia eucarística e
dos sacramento se completa com a liturgia das horas. Esta última, também
chamada de Ofício Divino, é o conjunto das orações realizadas ao longo de todo
o dia. O Breviário, livro que trás os textos dessa liturgia, reformado por
decreto do Concílio Vaticano II apresenta sete horas canônicas, sendo elas:
Ofício das Leituras, Laudes, Terça, Sexta, Nona, Vésperas e Completas.
Atualmente o Breviário traduzido para o vernáculo para o Brasil é dividido em 4
volumes. O primeiro tempo do Advento e Natal; o segundo Quaresma e Páscoa; o
terceiro e o quarto, primeira e segunda parte do tempo comum, respectivamente.
Existe ainda à venda a versão de volume único que trás a oração das Laudes,
Sexta, Vésperas e Completas.
1. Estrutura da Liturgias das Horas
A estrutura de todas as horas é bastante parecida, embora cada uma delas
possua elementos característicos. A seguir apresentamos um esquema em que cada
coluna representa a estrutura de alguns horas canônicas, as linhas mescladas
representam elementos comuns às horas em questão.
OS OLHOS
| «PROFETA DANIEL NA COVA DOS LEÕES» (Constantinopla, séc. XIV) |
Os olhos das figuras que aparecem nos ícones são extremamente grandes e emoldurados por sobrancelhas também arqueadas. Comparado com o tamanho da cabeça, estão fora de toda proporção, rompendo medidas antropométricas, bem como as estabelecidas pela arte ocidental.
Os olhos, como todos os órgãos sensoriais da face, levam implícito um símbolo baseado no texto do Evangelho de Lucas no qual se lê « Os mMeus olhos viram salvação que vem de Ti» Parecem sempre estar imóveis, pois não apenas vêem, mas vigilam e interrogam, penetrando as profundezas da alma do espectador.
Os iconógrafos, ao pintá-los dessa forma, pretendem revelar a verdade, pois, é nesses olhos de tamanho descomunal que se está aninhado. Seguem ao pé da letra o que diz no evangelho:«O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado; se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas». (Lc 11,34)
O NARIZ
| «SÃO JORGE, MEGALOMÁRTIR» (Constantinopla, séc. XV) |
O nariz, órgão do olfato e do início das vias respiratórias, são apresentados nos ícones de forma aguda e alargada, quase como um filamento que liga os olhos à boca. É pintado de forma a impedir as fragrâncias do mundo material e para que possa capturar apenas o odor do sagrado, servindo como condutor ao hálito do espírito que deve inundar todo o ser do personagem representado no ícone.
A BOCA
Alguns filósofos gregos afirmavam que a boca é a parte mais sensual do corpo. Nela radica o sentido do paladar, que permite que os mais sofisticados pratos sejam saborados, e que sejam rejeitados aqueles que causam desconforto. Dela é que saem as palavras que louvam ou insultam. Com ela se dá a mais apreciada das carícias humanas, o beijo. Os iconógrafos quase a anulam como órgão sensorial, pintando-a extremamente fina, quase como uma linha com dois pequenos triângulos que simulam ser lábios. Permanecerá invariavelmente fechada, pois a verdadeira oração é silenciosa. Zacarias, no Antigo Testamento adverte: «Que tudo se cale diante do Senhor».
Num ícone russo, conhecido como «São João em Silêncio», aparece o Apóstolo com os dedos de uma de suas mãos sobre a boca, e a outra segurando o livro dos Evangelhos. Um anjo o comunica ao ouvido, ainda que seus lábios permaneçam fechados, uma mensagem; a sua pequena mão assim o adverte. Toda essa complexa simbologia explica a frase de Zacarias.
A ORELHA
| «A ANUNCIAÇÃO» (Constantinopla, séc. XIV) |
As orelhas, diz-se que é a única parte do corpo humano que nunca pára de crescer. Nas figuras dos ícones estão representados de duas diferentes maneiras: Extraordinariamente grande, particularmente nas imagens de alguns santos, para indicar que esses personagens estão atentos para ouvir o chamado divino. Na maioria dos casos, são quase totalmente invisíveis, pois, somente o lóbulo não está coberta pelo manto ou pelos cabelos. Assim, a imagem permanece alheia aos ruídos do mundo e só está atenta às vozes de seu interior.
O QUEIXO
É representado forte e enérgico, mesmo em figuras femininas. Nas masculinas se esconde por detrás de longas barbas, expressando assim a força do espírito.
O COLO
É a união da cabeça com as demais partes do corpo. A iconografia o representa muito alongado, pois é o meio pelo qual o corpo recebe o alento vivificador do Espírito.
O CORPO HUMANO
| «A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO» (Grego de Byzagios, séc. XV) |
Nos ícones, todos os corpos são representados altos e magros, desprovidos de qualquer volume, o que lhe é proporcionado pela ampla roupagem que ocultam qualquer aparência sexual.
A magreza do corpo indica a superioridade do espírito sobre a carne ao mesmo tempo em que acentua a sua renúncia às coisas materiais e a todos os assuntos terrenos.
Uma das críticas mais comuns a este estilo de pintura é a imobilidade das imagens. Isto revela ignorância sobre a iconografia bizantina, pois com a ausência de qualquer gesto denotando ação, simboliza-se a «Aghia Irene», isto é, a santa Paz. Movimentos bruscos expressam o contrário, isto é, o estado pecaminoso do homem. Nenguma sombra é projetada sobre estes corpos hieráticos, não só porque o ícone está imerso na luz, masporque, em Deus, não há sombras nem lugares ocultos.
Os braços geralmente aparecem cobertos pelo manto, túnica ou vestimentas litúrgicas, até abaixo do punho. Apenas no ícone da «Natividade da Virgem», duas figuras femininas aparecem com os braços descobertos e sem auréola, indicando que estas mulheres estão à serviço da figura principal do ícone.
Da parte inferior da manga surgem as mãos cujo significado dependerá da posição delas ou de seus dedos. Os dedos serão sempre muito longos e finos para simularserem os cabos condutores da energia espiritual. Neles também reside o poder, pois com o dedo indicador, sinaliza-se, indica-se e ordena-se.
No ícone da Virgem da Paixão ou «Nossa Senhora do Perpétuo Socorro», como é conhecido no Ocidente, os dedos de sua mão esquerda estão juntos e apontam para o Menino. Esta mão alongada representa o «Caminho», pois aponta para Cristo-Menino, manifestando, assim, as palavras do Evangelho «Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida». Da sua mão direita, observa-se apenas quatro dedos que estão postos com as suas pontas para cima, sinalizando também para o Menino, o anterior indica que o que foi escrito nos Quatro Evangelhos é a sua Palavra. Em outros ícones da Teothokos pode se observar a presença destes mesmos símbolos.
Quando as mãos aparecem mostrando as suas palmas simboliza uma súplica, uma oração. Quando um mendigo nos solicita uma ajuda, o fará mostrando a palma de sua mão estendida. No ícone da «Deesis» ou «Súplica», aparecem, tanto a Virgem como São João Batista (O Precursor) com as mãos nessa posição.
| ||||
BRAÇOS E MÃOS
| « ASCENÇÃO, S. CATARINA DO SINAI» (séc. VII) |
As mãos do «Pantokrátor» são as mais expressivas. Nos dedos da mão, que se vê acima na figura, pode-se ler o seguinte: IC XC que é o anagrama do nome de Cristo.
Esta mão tem ainda uma segunda interpretação: os três dedos juntos simbiolizam a Trindade; os dois outros expressam que Ele é a segunda Pessoa da Santíssima Trindade. (1: Deus-Pai, 2: Deus-Filho, 3: Deus-Espírito-Santo).
A PAISAGEM
Nas pinturas de tradição bizantina, os campos e montanhas se vêem reduzidos à simples decorações localizadas em um plano secundário. Não estão sujeitas a nenhuma proporção com as imagens centrais. As montanhas, normalmente desprovidas de vegetação, se assemelham a uma acumulação desordenada de rochas que desafiam a gravidade. Árvores e arbustos são pequenos e de escassa folhagem. Casas e edifícios não mantêm nenhuma proporção (escala) com os outros elementos da pintura, e suas portas e janelas estão localizados sem nenhuma ordem. Os interiores são geralmente marcados como se fossem cortinas decoradas com diversos desenhos. Tudo isso simboliza que as coisas terrenas não têm ordem ou disposição e que, portanto, são perecíveis.
| «SS. PROCÓPIO, DEMÉTRIO E NESTOR» (séc. XI) |
Em todos os ícones, os nomes das personagens que aparecem estão escritos sobre o fundo dourado e nos lados das imagens, em caracteres gregos ou cirílicos, conforme o seu local de origem. O que pode muito bem ser uma reiteração do costume romano adotado pelos primeiros cristãos. De acordo com a iconografia, o nome ativa a presença da personagem e lhe confere um significado sagrado.
A imagem de Cristo é sempre acompanhada pelas letras IC XC que é a abreviatura de seu nome. Na auréola do Pantokrátor deve-se incluir as letras gregas que são as iniciais da expressão «Eu sou quem eu sou». Quando se trata da figura da Virgem Maria, são inscritas as letras MP OY, que advertem tratar-se da «Mãe de Deus».
Como se pode notar, os ícones deixam de ser uma obra pictórica, convertendo-se num objeto litúrgico, pois que o seu significado ultrapassa o que alcança e capta o sentido da visão. Sua profunda simbologia está sustentada por textos retirados das Escrituras Sagradas, que o iconógrafo interpreta minunciosamente, seguindo os manuais escritos pelos Pais da Igreja.
| «SINAXE DOS SANTOS APÓSTOLOS» No primeiro plano estão Pedro, Tiago, João e Mateus. ( Por volta do ano 1300) | Após a queda de Bizâncio, continuam sendo feitos ícones de valor incalculável como este que representa: «SANTO ANTÔNIO (ANTÃO) O GRANDE», magnificamente escrito por Miguel Damaskinos (segunda metade do séc. XVI) |
FONTE:
Orai sem cessar I
Atualmente o Breviário traduzido para o vernáculo para o Brasil é dividido em 4 volumes. O primeiro tempo do Advento e Natal; o segundo Quaresma e Páscoa; o terceiro e o quarto, primeira e segunda parte do tempo comum, respectivamente. Existe ainda à venda a versão de volume único que trás a oração das Laudes, Sexta, Vésperas e Completas.
Laudes e Vésperas
|
Completas
|
Horas Médias
|
Ofiício das Leituras
|
Laudes é a oração da manhã, e
vésperas a oração do entardecer. São as duas horas mais importantes da
Liturgia das Horas, formando os polos do dia. Uma consagra o dia ao Senhor e
a outra agradece pela jornada de trabalho.
|
Completas é a última das horas
do dia, também a mais curta de todas. Agradece pelo dia, roga por uma noite
tranquila e uma morte santa.
|
Mantém o ritmo de oração do
longo da jornada de trabalho.
|
É a antiga hora noturna, que
todavia pode ser rezada a qualquer momento do dia ou da noite. É a hora mais
“didática” que além da salmodia, apresenta leituras bíblicas, da vida dos
Santos e dos Padres da Igreja
|
Invocação
Todas
as horas começam com um pequeno versículo, seguido do Gloria ao Pai e o
Aleluia.
"V/. Vinde, ó Deus em meu auxílio.
R/. Socorrei-me sem demora.
Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio agora e sempre. Amém. Aleluia."
Durante
o versículo, traça-se o sinal da cruz, ao glória ao pai faz-se inclinação
profunda. O Aleluia se omite apenas no tempo da quaresma.
Laudes
ou o Ofício das Leituras, conforme uma ou outra principie o dia de oração
será iniciada, não como foi dito acima, mas com a oração chamada
"inviatório" que consta do versículo:
" V/. Abri, Senhor, os meus lábios.
R/. E minha boca anunciará vosso louvor"
E do
salmo com respectiva antífona. O inviatório não é uma hora canônica, mas
apenas um elemento que substitui a introdução da primeira hora rezada no dia.
|
|||
-
|
Se recomenda um exame de
consciência e um ato penitêncial conforme consta no apêndice do Breviário.
|
-
|
-
|
Hino
O Hino
é uma pequena composição poética não-biblíca intimamente relacionado com o
ofício que se celebra. Sua última estrofe é uma doxologia, na qual se rende
glória à santissima trindade e deve-se fazer inclinação como que para o
Gloria ao Pai.
|
|||
Salmodia
A
Salmodia é o centro das horas. Nela o Cristo reza ao Pai com aqueles mesmos
textos que ele proferiu nas suas orações pessoais, com seus discípulos e
mesmo quando pregado na cruz. A salmodia de toda as horas constam de três
elementos. Todos os salmos ou cânticos possuem uma antífona que deve ser
rezada antes e depois dele, antes de repetir a antífona, ao fim do salmo, se
diz Gloria ao Pai, a não ser que as rubricas indiquem o contrário.
|
|||
Em
Laudes são dois salmos, intercalados por um cântico do antigo testamento. Em
Vésperas são dois salmos, seguidos por um cântico do novo testamento.
|
Nas
completas se diz apenas um salmo ou dois salmos curtos.
|
No
ofício das leituras e nas horas médias são três salmos.
|
|
Leitura Breve
Terminada
a salmodia, faz-se uma leitura breve. Diferentemente das leituras da missa, a
leitura breve não possui qualquer introdução ou conclusão, "Leitura do
Livro..." ou "Palavra do Senhor".
|
-
|
||
Responsório Breve
Finda a
leitura, reza-se um pequeno responsório que vem escrito no seguindo modelo no
breviário:
"R/. Cristo, Filho do Deus vivo,
* Tende pena e compaixão! R/. Cristo.
V/. Glorioso
estais sentado, à direita de Deus Pai.
* Tende pena. Gloria ao Pai. R/. Cristo."
E se
reza da seguinte forma:
"R/. Cristo, Filho do Deus vivo,
* Tende pena e compaixão!
R/. Cristo, Filho do Deus vivo,
* Tende pena e compaixão!
V/. Glorioso estais sentado, à direita de Deus Pai.
* Tende pena e compaixão!
Gloria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R/. Cristo, Filho do Deus vivo,
* Tende pena e compaixão!"
|
Versículo
"V/. É eterna, ó Senhor vossa Palavra.
R/. De geração em geração
vossa verdade.”
|
||
Em vez
de responsório, as horas médias depois da leitura breve diz apenas um
versículo.
|
No
ofício das leituras esse versículo se diz no final da salmodia, antes de
passar para as leituras longas.
|
||
Cântico Evangélico
Às
primeiras palavras, faz-se o sinal da cruz. O cântico evangélico também
possui antífona e Gloria ao Pai, como os salmos.
|
-
|
Leituras Longas e Responsórios Longos
As
leituras longas possuem introdução mais simples que da missa do tipo "Do
Livro do Profeta Isaías", mas não conclusão. Ao fim de cada leitura
longa se diz um responsório longo. A primeira leitura é sempre bíblica e a
outra da vida de um santo, dos escritos de um dos padres da Igreja, um
documento do magistério, etc.
|
|
O
Cântico Evangélico para as Laudes é o Benedictus, cântico de Zacarias; para
as Vésperas é o Mangificat, cântico de Nossa Senhora
|
O
Cântico Evangélico para as Completas é o Cântico de Simeão, Nunc Dimitis.
|
-
|
|
Preces ou Intercessões
Reza-se,
então, as preces com as quais a Igreja intercede a Deus por todas as
necessidades do mundo. Dizem-se as intenções que constam no Breviário,
todavia pode-se acrescentar intenções particulares, contanto que se observe
que a última intenção nas vésperas será sempre pelos falecidos. Nas vésperas
pode-se dizer as preces mais breves conforme consta no apêndice.
|
-
|
-
|
|
Pai Nosso
O Pai
Nosso se reza de manhã e à tarde, numa e outra hora. Com o Pai Nosso da Santa
Missa, tem-se a oração do Senhor rezada solenemente três vezes ao dia. Como o
da Santa Missa, o pai nosso da liturgia das horas também não tem
"Amém".
|
-
|
-
|
Te Deum
Após o
segundo responsório longo se diz o hino Te Deum (“A vós o Deus, louvamos”),
se for solenidade, festa ou domingo fora da quaresma e advento.
|
Oração
Para
finalizar a hora se diz uma oração.
|
|||
Não é
precedida de “Oremus”. A conclusão da oração é a opção mais longa "Por
Nosso Senhor Jesus Cristo..." ou similar.
|
Precedida
de "Oremus" e terminada com a conclusão mais curta: "Por
Cristo, Senhor Nosso" ou semelhante. Note que por vezes a oração é
indicada para ser usada em todas as horas e, por padrão, vem com a conclusão
menor, que deve ser substituida por sua respectiva semelhante menor.
|
||
Bênção
Na
oração privada conclui-se traçando o sinal da cruz e dizendo "O senhor
nos abençoe, nos livre de todo o mal...". Se se reza com um sacerdote
ele dará a bênção como na Missa: "O senhor esteja convosco",
"Abençoe-vos..." e ainda dirá a despedida.
|
Bênção
Traça-se o sinal da cruz sobre
si dizendo “O Senhor todo poderoso nos conceda uma noite tranquila...”. Segue
uma antífona de Nossa Senhora como a Salve Rainha.
|
Conclusão da Hora
Ao menos na celebração
comunitária, se conclui dizendo:
" V/. Bendigamos ao Senhor
R/. Demos Graças a Deus."
|
|
Na falta do breviário, uma ótima opção para rezar a liturgia das
horas é o site Liturgia das
Horas que disponibiliza o texto das horas segundo a tradução
para o Brasil, atualizado durante o dia já com a hora a ser rezada; para rezar
em latim, o site Almudi disponibiliza
o texto oficial.
2. Ordinário, Próprio e Saltério
Toda a liturgia possui partes fixas e partes que variam de acordo com o
ofício. No missal temos o Ordinário e o Próprio. Fazem parte do ordinário os
ritos iniciais "Em nome do Pai...", o ato penitencial, o Gloria, a
Oração Eucarística, enfim todas aquelas partes que se repetem invariavelmente
em todas as missas, embora o Missal da forma ordinária traga uma enorme
quantidade de opções para estas partes. O próprio é constituido pela oração do
dia, leituras, salmo, evangelho, oração sobre as oferendas e depois da
comunhão, todas aquelas partes que variam de acordo com o dia, o tempo.
No caso da liturgia das horas, vemos que existem poucas orações que são
realmente do ordinário, como a introdução das horas, os cânticos evangélicos, o
inviatório e as conclusões. Na liturgia das horas, o ordinário se caracteriza
por ser um conjunto, não tanto de orações, mas de rubricas que explicam como
rezar o ofício. Assim, a maior parte dos textos da liturgia das horas vem do
próprio, que é o conjunto dos textos de cada tempo litúrgico, solenidade,
festa, etc, mas diferentemente do missal, também do Saltério. O Saltério é
originalmente o conjunto dos salmos a serem ditos nas orações divididos em um
ciclo de 4 semanas aos quais no Breviário se juntaram outras orações que
passaram a ser ditas também no ciclo de 4 semanas. Por exemplo, nesta semana a
liturgia das horas tem seus textos retirados da V Semana do Tempo Comum, bem
como da I Semana do Saltério. Aquilo que será retirado do próprio e aquilo que
será retirado do saltério varia de acordo com o tempo litúrgico; no tempo
comum, a maior parte dos textos está no saltério, enquanto que na quaresma
consideravel parte dos textos está no próprio.
Para as celebrações dos santos, existem dois esquemas. O primeiro mais
completo se refere às solenidades e festas, nas quais tudo é feito como no
próprio do santo e todos os demais textos são retirados do comum dos santos;
lembrando que apenas as solenidades possuem I Vésperas no dia anterior.Nas
solenidades, diz-se completas depois das I e II Vésperas, no dia anterior e no
dia do santo, respectivamente. Nas festas nada se diz do santo nas completas.
O segundo, mais simples, se refere às memórias facultativas ou
obrigatórias, se toma todos os textos do próprio do santo para Laudes, Vésperas
e Ofício das Leituras, o que faltar é tomado do comum, com exceção dos salmos e
suas antífonas que se dizem do saltério do dia corrente. Embora exista a
possibilidade de não se recorrer ao comum no caso das memórias, mas
simplesmente dizer os textos do saltério, essa opção parece bastante simplista
e reduz a memória do santo à oração do fim do ofício ou a alguns poucos
elementos do próprio do santo. Nas memórias nada se diz do Santo nas Horas
Médias ou nas completas.


Por Kairo Rosa Neves de Oliveira
3. Memória de Santa Maria no Sábado
A devoção a Nossa Senhora, particularmente celebrada no dia de sábado é um costume antigo na Igreja. A forma extraordinária prevê que se diga Missa votiva de Nossa Senhora nos sábados durante todo o ano, salvo se o dia for impedido pelas rubricas. Na forma ordinária a devoção a Nossa Senhora neste dia ganhou uma organização um pouco diferente. Não se diz Missa votiva, mas faz-se memória facultativa. Para a liturgia da Santa Missa, isso não configura mudança significativa; para o ofício divino sim. Com a memória de Nossa Senhora, permite-se dizer Laudes e Ofício das Leituras com textos de Nossa Senhora, que o Breviário traz junto ao comum de Nossa Senhora. Não se diz Vésperas por que no sábado se rezam I Vésperas do Domingo e na Hora média não se diz nada das memórias dos santos.
4. Vigílias
Aqueles que desejaram nos domingos e solenidades celebrar uma vigília podem m fazê-la prolongando o Ofício das Leituras. Ao fim das leituras longas e respectivos responsórios, diz-se os três cânticos com respetiva antífona que estão no apêndice do Breviário. Então faz-se a leitura do Evangelho conforme o mesmo apêndice. Por fim, diz-se o Te Deum, se for o caso, e conclui-se a hora como de costume.
4. Celebração em comum
Toda a liturgia da Igreja não é ação particular, assim, embora se
permita a oração privada da liturgia das horas, é desejável sempre que possível
rezar de forma comunitária. A oração comunitária, todavia, não significa que
tenha de ser presidida por um clérigo; os próprios leigos podem se reunir para
rezar a oração na Igreja ou mesmo fora dela. Durante a celebração, permanecem
em seus lugares na nave da igreja, aquele que guia a introdução, a oração e a
conclusão da hora age como um entre os iguais. Não se sobe ao presbitério,
exceto para as leituras longas e breves e as preces.
Observem-se as posições corporais. Todos ficam de pé do início até o fim do hino. Sentam-se para a salmodia e leituras com respectivos responsórios. Faz-se de pé ainda o cântico evangélico, as preces, o Pai Nosso, a oração final e a conclusão. Ao cântico evangélico se deve o mesmo respeito que para o Evangelho pronunciado na missa; ao início do mesmo traça-se o sinal da cruz. Nas vigílias se dizem os cânticos sentados e o evangelho se escuta de pé.
Observem-se as posições corporais. Todos ficam de pé do início até o fim do hino. Sentam-se para a salmodia e leituras com respectivos responsórios. Faz-se de pé ainda o cântico evangélico, as preces, o Pai Nosso, a oração final e a conclusão. Ao cântico evangélico se deve o mesmo respeito que para o Evangelho pronunciado na missa; ao início do mesmo traça-se o sinal da cruz. Nas vigílias se dizem os cânticos sentados e o evangelho se escuta de pé.
Este modelo de celebração, mais simples, é útil às comunidades
sub-paroquiais, aos grupos de fieis que se reúnem para celebrar o ofício divino
fora da igreja e também para as famílias que mantém o costume de se reunir para
rezar algumas horas canônicas. No caso das igrejas matrizes e catedrais, cabe
aos clérigos, seja o pároco, os cônegos ou mesmo o Bispo, convocarem e
dirigirem a oração da comunidade, como diremos mais adiante.
O canto é um elemento fundamental da liturgia das horas, os salmos que
constituem o núcleo dos ofícios são orações cantadas por sua própria natureza.
E como diz Santo Agostinho "Quem canta bem, reza duas vezes". Assim,
seria bom que se preparasse para a oração comum um coro que pudesse auxiliar a
assembleia a cantar a hora canônica em latim ou vernáculo. Nesse sentido, a
IGLH oferece alguns elementos que podem facilitar a participação mais ativa dos
presentes, como a possibilidade de cantar o salmo de forma responsorial,
utilizando como resposta a própria antífona e repetindo-a a cada estrofe.
Em relação a quais horas rezar em comum, tenha-se sempre em mente a
hierarquia de importância das diversas horas, cujo primeiro lugar pertence a
Laudes e Vésperas. Todavia, quaisquer uma das horas podem ser rezadas em comum
observando o momento de cada uma ao longo do dia.
5. Celebração
presidida por clérigo
Na celebração presidida por clérigo, ele dirigirá os ritos da cadeira
presidencial. De lá, deve dizer o versículo inicial, fazer a introdução das
preces e do Pai Nosso, a oração final e a conclusão. Em Laudes e Vésperas
saudará, abençoará e despedirá o povo.
Para a celebração mais simples de qualquer uma das horas, o clérigo poderá vestir estola da cor do ofício sobre a sobrepeliz ou veste coral. Não há obrigatoriedade de procissão de entrada ou ministros que o sirvam.
Para a celebração mais simples de qualquer uma das horas, o clérigo poderá vestir estola da cor do ofício sobre a sobrepeliz ou veste coral. Não há obrigatoriedade de procissão de entrada ou ministros que o sirvam.
Para a celebração mais solene das Laudes, Vésperas e Vigílias, o celebrante, presbítero ou Bispo, vai revestido de amito, alva, cíngulo, estola e pluvial. Pode ser assistido por diáconos que vestem-se como que para a missa, com dalmáticas. O celebrante em vez de alva, também poderia usar sobrepeliz, todavia essa seria uma opção menos solene, além do que os diáconos não podem endossar dalmática com sobrepeliz e, neste caso, seria bom que o celebrante também optasse por usar alva. Outros sacerdotes, de maneira particular os cônegos nas celebrações presididas pelo Bispo, podem também vestir-se com pluvial. Do contrário, participam da celebração com hábito coral próprio.
Pode-se realizar uma pequena procissão de entrada, bem como recessional.
Para essas procissões se usam apenas duas velas. O Cerimonial dos Bispos não
cita o incenso entre os elementos que compõem a procissão de entrada, todavia
nas vésperas celebradas pelo Papa é comum que ele preceda a cruz, como na
procissão de entrada da Missa. Atrás da cruz vão os acólitos, clérigos em
vestes corais, diáconos, presbíteros e por fim aquele que preside. Se for Bispo,
irá acompanhado por dois diáconos-assistentes, além dos acólitos-assistentes.
Chegando ao altar, faz-se reverência profunda ou, se o santíssimo estiver ali
fazem genuflexão. Aquele que preside e os diáconos que o assistem podem beijar
o altar, mas não se faz incensação no início da celebração.
Realiza-se a celebração como já ficou descrito anteriormente, de acordo com a estrutura de cada uma das horas canônicas. O Bispo recebe a mitra quando está sentado e a depõe quando está de pé, exceto para a homilia e bênção final. O báculo se usa para uma eventual homilia e para a bênção; e, nas Vigílias, para ouvir a leitura do Evangelho e o Te Deum.
Na celebração das Laudes e Vésperas, durante a antífona do cântico evangélico, o celebrante deita incenso no turíbulo e o abençoa. Então se benze, como todos os demais. Incensa-se a cruz, o altar, o sacerdote e o povo, como na Santa Missa. Embora seja descrito como um rito a ser cumprido por aquele que preside, é comum nas celebrações pontifícias que este rito seja cumprido integralmente por um diácono. Na celebração das Vigílias de modo solene, pode-se realizar a leitura do evangelho como na Santa Missa: com bênção do incenso, oração à frente do altar ou a bênção ao diácono.
Realiza-se a celebração como já ficou descrito anteriormente, de acordo com a estrutura de cada uma das horas canônicas. O Bispo recebe a mitra quando está sentado e a depõe quando está de pé, exceto para a homilia e bênção final. O báculo se usa para uma eventual homilia e para a bênção; e, nas Vigílias, para ouvir a leitura do Evangelho e o Te Deum.
Na celebração das Laudes e Vésperas, durante a antífona do cântico evangélico, o celebrante deita incenso no turíbulo e o abençoa. Então se benze, como todos os demais. Incensa-se a cruz, o altar, o sacerdote e o povo, como na Santa Missa. Embora seja descrito como um rito a ser cumprido por aquele que preside, é comum nas celebrações pontifícias que este rito seja cumprido integralmente por um diácono. Na celebração das Vigílias de modo solene, pode-se realizar a leitura do evangelho como na Santa Missa: com bênção do incenso, oração à frente do altar ou a bênção ao diácono.
Um inconveniente deste tipo de celebração é que não existem lecionários para serem usados na liturgia das horas ou mesmo um livro para o celebrante. Devendo os textos ser retirados do livro pessoal, o Breviário.
Homilética: segundo domingo da Páscoa
Comentário do Pe. Antonio Rivero,
L.C. sobre a liturgia dominical
São Paulo, 27
de Abril de 2014 (Zenit.org) Pe. Antonio Rivero, L.C. |
Ciclo A
Textos: Atos dos
Apóstolos 2, 42-47; 1 Pe 1, 3-9; Jo 20, 19-31
Ideia principal: Este dia foi
chamado por São João Paulo II, cuja canonização a Igreja proclamou hoje, o
domingo da Misericórdia, porque do coração de Jesus, cheio de ternura brotaram
estes dons como raios e reflexos da sua Ressurreição: a paz, os sacramentos e a
última bem-aventurança, com a qual Cristo confirma a fé em nós, que cremos nele
(segunda leitura) e naqueles que sofrem as dúvidas do apóstolo são Tomé.
Resumo da mensagem: Com a celebração
do presente domingo da Misericórdia concluímos a Oitava de Pascoa, ou seja,
esta semana que a Igreja nos convidou a considerar como um dia só: “O dia que o
Senhor fez”. O Evangelho de hoje nos relata a aparição de Jesus Misericordioso
aos seus discípulos no mesmo dia da sua ressurreição, no qual derramou sobre
eles e lhes confiou o tesouro da sua Paz e dos seus
Sacramentos, e confirmou a nossa fé e a fé de todos os “Tomés” do mundo, que
estão cheios de dúvidas e com ânsias de ter certezas (evangelho). Esta paz nos
levará depois a viver melhor a Eucaristia, a rezar com mais fervor e a praticar
a caridade com os nossos irmãos (primeira leitura).
Pontos da ideia
principal:
Em primeiro lugar, Cristo
Misericordioso e Ressuscitado nos dá a sua paz, em hebraico Shalom
(שלום), que significa um desejo de saúde, harmonia, paz interior, calma e
tranquilidade para aquele ou aqueles a quem está dirigido. Paz como
bem-estar entre as pessoas, as nações e entre deus e o homem. Os apóstolos
perderam esta paz depois da morte de Cristo no Calvário. Estavam realmente com
a paz, a fé e a esperança despedaçadas. Esta perturbação sombria
dos discípulos é dissipada pela luz da vitória do Senhor, que enche os seus
corações de serenidade e de alegria. Santo Agostinho definia a paz como “a
tranquilidade da ordem”. E posto que existem duas “ordens”, a imperfeita da
terra e a acabada do céu, existem também duas “pazes”: a da peregrinação e a da
pátria. A insistência dessa palavra “paz” no Canon Romano da missa é clara: a
Igreja recebeu a missão de estender até os confins do mundo a paz de
Cristo Ressuscitado e Misericordioso.
Em segundo lugar, Cristo já nos
dera na Quinta-Feira Santa o sacramento da Eucaristia. Agora, do seu coração
misericordioso retira este outro tesouro: o sacramento da Reconciliação.
Cristo envia os seus apóstolos com a missão de prolongar a sua própria missão:
perdoar os pecados. A paz com Deus e com os nossos irmãos, primeiro dom que
comentamos, se perdeu por culpa do pecado. Com o sacramento da Reconciliaçãorecuperamos
esta paz que rompemos com o pecado. A Igreja, depois da Ressurreição de Cristo
é o instrumento mediante o qual o Senhor vai reduzindo tudo sob a soberania do
seu reinado, o instrumento pelo qual a graça divina é comunicada, cujo curso
ordinário são os sacramentos, ordenados à reconciliação dos homens com Deus,
mediante a conversão.
Finalmente, outro dos dons da
Ressurreição de Jesus foi a confirmação da nossa fé. A fé na ressurreição de
Cristo é a verdade fundamental da nossa salvação. “Se Cristo não ressuscitou é
vã a nossa pregação e é vã também, a vossa fé... Ainda estais nos vossos
pecados”, dirá São Paulo. À luz da ressurreição todos os mistérios que Deus nos
revelou e nos confiou ganham luminosidade.
Para refletir:
Experimentamos com frequência a paz de Deus através da Reconciliaçãosacramental?
Por que duvidamos com frequência de Deus e do seu amor misericordioso? Está
firme a nossa féem Cristo Ressuscitado?
Para qualquer
sugestão ou dúvida, podem se comunicar com o padre Antônio neste e-mail:arivero@legionaries.org
(27 de Abril de 2014) ©
Innovative Media Inc.
Os Ícones
Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/iconografia/os_icones.html
Bispo Kallistos Ware
Trad.: Padre Pedro Oliveira
[...]

A tradição da Igreja Ortodoxa é, sob um ponto de vista superficial, formada por elementos básicos, tais como as Escrituras, os Concílios, Padres, Liturgia, Cânones e Ícones. Esses elementos não podem ser separados ou comparados, pois é o mesmo Espírito Santo que fala através de todos eles que juntos formam um todo, devendo cada parte deve ser entendida a luz das outras partes.
Algumas vezes já foi dito que a principal causa da separação do Cristianismo ocidental no século XVI foi a divisão entre teologia e misticismo, liturgia e devoção pessoal que existiam no fim da Idade Média. A Ortodoxia, por sua parte, sempre tentou evitar esta divisão. A verdadeira teologia Ortodoxa é mística; assim o misticismo separado da teologia torna-se subjetivo e herético, portanto a teologia, não sendo mística, degenerasse a uma escolástica estéril e acadêmica no mal sentido da palavra.
Teologia, misticismo, espiritualidade, regras morais, adoração e arte não podem estar em compartimentos separados. A doutrina não pode ser entendida a não ser através de oração: um teólogo, disse Evagrius, é aquele que sabe rezar, que reza em espírito e em verdade e é, por este ato, um teólogo (On Prayer, 60, P.G. 79, 1180B). E a doutrina, entendida pela oração, deve também ser vivida: teologia sem obra, como São Maximus já havia colocado, é a teologia de demônios (Carta 20, P.G.91, 601C).
O Credo pertence apenas àqueles que nele vivem. Fé e amor, teologia e vida são inseparáveis.
Na Liturgia Bizantina, o credo é introduzido com as palavras: «Amemo-nos uns aos outros para que, em comunhão de espírito, possamos confessar... o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.» Isto expressa exatamente a atitude Ortodoxa perante a Tradição. Se não amamos uns aos outro, não podemos amar a Deus e, se não podemos amá-Lo, não podemos confessar a verdadeira fé e entrar no espírito da Tradição, pois não há outra forma de conhecer Deus além de amá-Lo. [...]
Homilética: Vigília Pascal
Comentário do Pe. Antonio Rivero, L.C. sobre a liturgia
Ciclo A

Textos: Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18; Ex 14, 15-15,1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15.32-4,4; Ez 36, 16-28; Rom 6, 3-11; Mt 28, 1-10
Ideia principal: Cristo ressuscitado nos enche com a sua Luz e Fogo, afastando a escuridão dos nossos pecados; se faz Palavra, lembrando-nos a história da salvação; convida-nos a lavarmos e purificarmos com a água que jorra do seu lado, renovando nossobatismo e o nosso compromisso de viver como filhos da luz; e, finalmente, leva-nos à mesa da Eucaristia e nos faz participar de seu banquete divino e da sua vida divina e ressuscitada em nossa alma.
Resumo da mensagem: Durante o Sábado Santo nos unimos à Igreja junto ao túmulo do Senhor, meditando sua paixão e morte, sem que fosse realizado o Santo Sacrifício da Missa e o altar permanecesse vazio. A liturgia nos faz sentir, com toda a sua força, o vazio da ausência de Cristo. Dia do Grande Silêncio. Hoje, a Vigília Pascal nos inunda com a forte presença do Senhor ressuscitado, que emerge com toda a sua força divina e luminosa das profundezas da morte para levar consigo a todos os que participam da verdadeira vida, que não pode ser extinta, e que é projetada para a eternidade.
Pontos da ideia principal:
Em primeiro lugar, Cristo Ressuscitado é Luz que ilumina os cantos da nossa história e nossas vidas pessoais e nos faz passar da escuridão do pecado e da morte à luz da graça e da vida. Iluminados com a luz de Cristo ressuscitado, Deus nos fala e nos conta as maravilhas que ele tem feito desde o início do mundo por todos nós, para que ouvindo nos enchamos de gratidão e confiança; iluminados com essa luz escutaremos, pois, com os ouvidos do coração a Palavra de Deus. Com a água do batismo, cujo promessas renovamos hoje, nos faz seus filhos, marcados com o sinal da cruz e do óleo perfumado de Deus. Essa fonte batismal nos lembra hoje que temos renascido para uma nova vida e que temos deixado a velha vida de pecado, temos renunciado a Satanás e seus enganos e mentiras, e que professamos nossa fé em Deus. Uma vez que somos filhos, convida-nos à mesa para nos alimentar com o Pão da vida e da imortalidade, para ter a vida e a tenhamos em abundância.
Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo compromete-nos a ser cristãos que andamos na luz, que amamos a luz, que nos deixamos iluminar pela luz de Cristo e transmitimos a luz para todos os rincões: a nossa casa, o nosso escritório, nossa faculdade. Estamos empenhados em defender essa luz em nossas vidas com as nossas palavras e nosso testemunho. Essa Palavra ouvida é conforto e medicina do nosso espírito, alimento da nossa alma. É uma Palavra não somente para ouvir, mas para viver e transmitir. Sejamos cristãos que levemos a Palavra de Deus ao nosso redor. Leiamos a Palavra de Deus em particular e em família. Meditemo-la em grupos. Levemos essa Palavra lá onde ninguém chega, através do nosso apostolado. Levemos orgulhosamente esta vida nova e livre, marcada com a cruz santificadora e salvadora de Cristo e com o óleo perfumado de Deus que recebemos no dia do batismo. Quantos lugares esperam o bom aroma de Cristo a quem devemos levar com a nossa presença, com nossas palavras, com nosso testemunho honesto e justo! Não nos privemos deste Pão da Eucaristia: Ele dá força, incentivo, conforto. Ele dá forças para a luta contra o pecado. Ele dá coragem e ousadia para pregar a Palavra.
Para reflexionar: estamos dispostos a viver a Páscoa com essas atitudes: ser reflexos da Luz de Cristo, ser mensageiros da Palavra de Deus, ser novos homens que tem rosto de ressuscitados e homens fortes que se alimentam com o Pão da Eucaristia?
Qualquer sugestão ou dúvida podem se comunicar com o padre Antonio neste e-mail:arivero@legionaries.org
(17 de Abril de 2014) © Innovative Media Inc.
Uma breve reflexão sobre os Ramos no Domingo de Ramos
Chegados mais uma vez ao Domingo de Ramos, achei pertinente visar, para uma pequena reflexão, um – se não o- elemento proeminente dos santos mistérios deste dia. Creio que o seu significado, talvez devido à familiaridade, seja ignorado por muitos Católicos. Refiro-me, obviamente, aos ramos, que são abençoados e distribuídos neste dia.
Donde a presença dos ramos neste dia? Ora, encontramo-los no Novo Testamento, dirão com certeza, e estão presentes na entrada de Jesus em Jerusalém dias antes da Sua Paixão. Mas a pergunta que coloco aqui é: por que ramos, especificamente? Olhemos para as perícopes da entrada, em especial para aquelas que mencionam a existência de ramos – São Mateus, São Marcos, e São João. Porque nos falam os evangelistas da presença de ramos? Olhemos, não com familiaridade para estes textos, mas com olhos “novos”, de quem os lê (ou melhor, ouve) pela primeira vez. Convido a encarar este texto, não como um Católico do séc. XXI, mas como um Judeu do séc. I. O que a nós poderá passar despercebido como um “mero detalhe” que dá origem a um sacramental neste dia, para um judeu contemporâneo de Jesus encerava um significado profundo. Creio que conhecendo o seu significado para um judeu nos ajudará a entrar mais profundamente nos santos mistérios deste domingo.
A existência de ramos e gritos de Hosanna remetem-nos para o festival de Sucot, geralmente referido como Festa das/dos Tendas/Tabernáculos no Novo Testamento.
A observância de Sucot, cuja duração é uma oitava, foi estabelecida por Deus aquando do estabelecimento da Aliança com Israel no Monte Sinai, sendo uma das três festas de peregrinação obrigatória a Jerusalém. A festa era, grosso modo, uma festa de natureza agrícola, pois calhava na época da colheita (cf. Ex 23,16; 34,22); mas como toda a festa agrícola judaica, estava revestida de significado religioso também. Servia para “fazer memória” do tempo em que Israel vagueou pelo deserto, vivendo em tendas, antes de entrar na Terra Prometida, quando Deus os fez sair da casa do Egito:
«Habitareis nas tendas durante sete dias; todos os que nasceram em Israel deverão habitar em tendas, para que os vossos descendentes saibam que fiz habitar em tendas os filhos de Israel, quando os fiz sair da terra do Egipto.»
Estava prescrito a leitura da Lei durante a festa a cada sete anos:
«Ao fim de sete anos, na Assembleia do Ano da remissão, pela festa das Tendas, quando todo o Israel comparecer diante do SENHOR, teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, farás a proclamação desta Lei a todo o Israel. Reunirás o povo, homens, mulheres e crianças, e o estrangeiro que estiver nas tuas cidades, a fim de que escutem, aprendam e reverenciem o SENHOR, vosso Deus, e cumpram todas as palavras desta Lei. Os filhos deles, que ainda não conhecem, ouvirão e aprenderão a reverenciar o SENHOR, vosso Deus, enquanto viverdes na terra de que ides tomar posse, depois de passardes o Jordão.»
Era também uma festa que prefigurava/antecipava a “colheita final” de Israel, quando este reuniria todas as nações em Deus. Dada a grandiosidade da festa, e da alegria a ela associada, começou a ter ligações à linhagem real: por exemplo, durante esta festa Salomão dedicou o Templo (1 Rs 8). Após o regresso do exílio na Babilônia, e com a ausência dum rei, a festa foi ganhando conotações messiânicas. Já o profeta Zacarias nos fala do dia em que as nações haverão de vir celebrar o Sucot a Jerusalém:
Os que restarem de todas as nações, que tiverem marchado contra Jerusalém, irão todos os anos adorar o Rei, o Senhor do universo, e celebrar a festa das Tendas.
Era uma festa caracterizada por: alegria, “tendas”, ofertas, e ramos. São estes últimos que nos interessam hoje.
No primeiro dia, apanhareis belos frutos, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e dos salgueiros do rio; e regozijar-vos-eis na presença do SENHOR, vosso Deus, durante sete dias.
Os ramos – lulav, em hebraico – seriam de tamareira, e teriam murta e salgueiro atados juntamente. Crê-se que estas plantas serviriam de recordação do tempo passado no deserto, uma vez que correspondem a espécies comuns nesse ambiente. O lulav deveria ser apresentado pelos fiéis no Templo todos os sete dias que durava a celebração de Sucot, e as crianças eram obrigadas a levá-lo a partir do momento em que já conseguissem abaná-lo. Durante as celebrações no Templo (cujos símbolos Jesus identificou consigo mesmo em São João), o coro cantaria os salmos deHallel (de louvor) – os Salmos 113 a 118. Quando eram cantados os Hosannas no Salmo 118 toda a assembleia abanava os seus ramos em direção ao altar.
Como já referi, na época de Jesus, esta festa já não estava associada ao rei “atual”, da casa de Davi, mas ao Filho de Davi que haveria de vir. Sucot haveria de ser a única festa que perduraria no final dos tempos, após a vinda do Messias; a grande festa de louvor em que Israel finalmente consumaria as núpcias com o Seu Senhor. Não é por acaso que no livro do Apocalipse nos surge a imagem da multidão composta por pessoas de todas as nações diante do trono do Cordeiro, com ramos nas mãos:
Depois disto, apareceu na visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé com túnicas brancas diante do trono e diante do Cordeiro, e com palmas na mão.
Todo este simbolismo estaria presente na mente dum judeu do primeiro século. A presença destes sinais na entrada triunfal não implica a celebração da festa, mas o reconhecimento por parte do povo israelita, em quem estas imagens estariam bem presentes, de que o Filho de Davi tinha chegado, e que se iniciava o Sucot derradeiro (tal como São Pedro perguntou se deveria montar tendas aquando da Transfiguração).
Chegado ao fim desta breve exposição histórica, o que são para nós, então, os ramos que recebemos no Domingo de Ramos, que levamos em nossas mãos em procissão, e que eventualmente levaremos para casa? Estes ramos são testemunhos da nossa fé no Messias. São sinal de que o Filho de Davi salva. São reconhecimento do Cristo Rei. A liturgia bracarense demonstra isto duma forma sutil na procissão, através da cruz processional. Enquanto que no rito romano tradicional a cruz está velada, uma vez que nos encontramos já dentro do tempo litúrgico conhecido como "Tempo da Paixão", no rito bracarense a cruz é desvelada para a procissão, demonstrando que esta é uma entrada triunfal, de alegria. Estes ramos são uma lembrança de que, apesar de dentro de alguns dias o Senhor sofrer a Sua Paixão, “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”. São sinais escatológicos na medida em que revelam a nossa fé e esperança no Rei dos Reis que há de vir no fim dos tempos, para consumar as núpcias com a Sua Noiva, a Igreja, enxugando as nossas lágrimas.
Chegados mais uma vez ao Domingo de Ramos, achei pertinente visar, para uma pequena reflexão, um – se não o- elemento proeminente dos santos mistérios deste dia. Creio que o seu significado, talvez devido à familiaridade, seja ignorado por muitos Católicos. Refiro-me, obviamente, aos ramos, que são abençoados e distribuídos neste dia.
Donde a presença dos ramos neste dia? Ora, encontramo-los no Novo Testamento, dirão com certeza, e estão presentes na entrada de Jesus em Jerusalém dias antes da Sua Paixão. Mas a pergunta que coloco aqui é: por que ramos, especificamente? Olhemos para as perícopes da entrada, em especial para aquelas que mencionam a existência de ramos – São Mateus, São Marcos, e São João. Porque nos falam os evangelistas da presença de ramos? Olhemos, não com familiaridade para estes textos, mas com olhos “novos”, de quem os lê (ou melhor, ouve) pela primeira vez. Convido a encarar este texto, não como um Católico do séc. XXI, mas como um Judeu do séc. I. O que a nós poderá passar despercebido como um “mero detalhe” que dá origem a um sacramental neste dia, para um judeu contemporâneo de Jesus encerava um significado profundo. Creio que conhecendo o seu significado para um judeu nos ajudará a entrar mais profundamente nos santos mistérios deste domingo.
A existência de ramos e gritos de Hosanna remetem-nos para o festival de Sucot, geralmente referido como Festa das/dos Tendas/Tabernáculos no Novo Testamento.
A observância de Sucot, cuja duração é uma oitava, foi estabelecida por Deus aquando do estabelecimento da Aliança com Israel no Monte Sinai, sendo uma das três festas de peregrinação obrigatória a Jerusalém. A festa era, grosso modo, uma festa de natureza agrícola, pois calhava na época da colheita (cf. Ex 23,16; 34,22); mas como toda a festa agrícola judaica, estava revestida de significado religioso também. Servia para “fazer memória” do tempo em que Israel vagueou pelo deserto, vivendo em tendas, antes de entrar na Terra Prometida, quando Deus os fez sair da casa do Egito:
«Habitareis nas tendas durante sete dias; todos os que nasceram em Israel deverão habitar em tendas, para que os vossos descendentes saibam que fiz habitar em tendas os filhos de Israel, quando os fiz sair da terra do Egipto.»
Estava prescrito a leitura da Lei durante a festa a cada sete anos:
«Ao fim de sete anos, na Assembleia do Ano da remissão, pela festa das Tendas, quando todo o Israel comparecer diante do SENHOR, teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, farás a proclamação desta Lei a todo o Israel. Reunirás o povo, homens, mulheres e crianças, e o estrangeiro que estiver nas tuas cidades, a fim de que escutem, aprendam e reverenciem o SENHOR, vosso Deus, e cumpram todas as palavras desta Lei. Os filhos deles, que ainda não conhecem, ouvirão e aprenderão a reverenciar o SENHOR, vosso Deus, enquanto viverdes na terra de que ides tomar posse, depois de passardes o Jordão.»
Era também uma festa que prefigurava/antecipava a “colheita final” de Israel, quando este reuniria todas as nações em Deus. Dada a grandiosidade da festa, e da alegria a ela associada, começou a ter ligações à linhagem real: por exemplo, durante esta festa Salomão dedicou o Templo (1 Rs 8). Após o regresso do exílio na Babilônia, e com a ausência dum rei, a festa foi ganhando conotações messiânicas. Já o profeta Zacarias nos fala do dia em que as nações haverão de vir celebrar o Sucot a Jerusalém:
Os que restarem de todas as nações, que tiverem marchado contra Jerusalém, irão todos os anos adorar o Rei, o Senhor do universo, e celebrar a festa das Tendas.
Era uma festa caracterizada por: alegria, “tendas”, ofertas, e ramos. São estes últimos que nos interessam hoje.
No primeiro dia, apanhareis belos frutos, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e dos salgueiros do rio; e regozijar-vos-eis na presença do SENHOR, vosso Deus, durante sete dias.
Os ramos – lulav, em hebraico – seriam de tamareira, e teriam murta e salgueiro atados juntamente. Crê-se que estas plantas serviriam de recordação do tempo passado no deserto, uma vez que correspondem a espécies comuns nesse ambiente. O lulav deveria ser apresentado pelos fiéis no Templo todos os sete dias que durava a celebração de Sucot, e as crianças eram obrigadas a levá-lo a partir do momento em que já conseguissem abaná-lo. Durante as celebrações no Templo (cujos símbolos Jesus identificou consigo mesmo em São João), o coro cantaria os salmos deHallel (de louvor) – os Salmos 113 a 118. Quando eram cantados os Hosannas no Salmo 118 toda a assembleia abanava os seus ramos em direção ao altar.
Como já referi, na época de Jesus, esta festa já não estava associada ao rei “atual”, da casa de Davi, mas ao Filho de Davi que haveria de vir. Sucot haveria de ser a única festa que perduraria no final dos tempos, após a vinda do Messias; a grande festa de louvor em que Israel finalmente consumaria as núpcias com o Seu Senhor. Não é por acaso que no livro do Apocalipse nos surge a imagem da multidão composta por pessoas de todas as nações diante do trono do Cordeiro, com ramos nas mãos:
Depois disto, apareceu na visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé com túnicas brancas diante do trono e diante do Cordeiro, e com palmas na mão.
Todo este simbolismo estaria presente na mente dum judeu do primeiro século. A presença destes sinais na entrada triunfal não implica a celebração da festa, mas o reconhecimento por parte do povo israelita, em quem estas imagens estariam bem presentes, de que o Filho de Davi tinha chegado, e que se iniciava o Sucot derradeiro (tal como São Pedro perguntou se deveria montar tendas aquando da Transfiguração).
Chegado ao fim desta breve exposição histórica, o que são para nós, então, os ramos que recebemos no Domingo de Ramos, que levamos em nossas mãos em procissão, e que eventualmente levaremos para casa? Estes ramos são testemunhos da nossa fé no Messias. São sinal de que o Filho de Davi salva. São reconhecimento do Cristo Rei. A liturgia bracarense demonstra isto duma forma sutil na procissão, através da cruz processional. Enquanto que no rito romano tradicional a cruz está velada, uma vez que nos encontramos já dentro do tempo litúrgico conhecido como "Tempo da Paixão", no rito bracarense a cruz é desvelada para a procissão, demonstrando que esta é uma entrada triunfal, de alegria. Estes ramos são uma lembrança de que, apesar de dentro de alguns dias o Senhor sofrer a Sua Paixão, “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”. São sinais escatológicos na medida em que revelam a nossa fé e esperança no Rei dos Reis que há de vir no fim dos tempos, para consumar as núpcias com a Sua Noiva, a Igreja, enxugando as nossas lágrimas.
Como celebrar?: Sinais e Símbolos, Palavras e Ações (Parte I)
Fonte: http://www.salvemaliturgia.com/2012/09/como-celebrar-sinais-e-simbolos.html
Dos estudos dos consultores do Departamento das Celebrações do Sumo Pontífice
A Constituição conciliar Sacrosanctum Concilium define a sagrada liturgia como "o exercício da função (munus) sacerdotal de Jesus Cristo", na qual "os sinais sensíveis significam e, cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens” (n° 7). Na vida sacramental da Igreja, o "tesouro escondido no campo", do qual Jesus fala na parábola evangélica (Mt 13,44), é perceptível aos fiéis através dos sinais sagrados. Enquanto os elementos essenciais dos sacramentos - forma e matériaem termos da teologia escolástica - são distinguidos por uma maravilhosa humildade e simplicidade, a liturgia, em quanto ação sagrada, enche-lhe de ritos e cerimônias que ilustram e fazem compreender melhor a grande realidade do mistério. Assim acontece uma tradução em elementos sensíveis e portanto mais acessíveis ao conhecimento humano, para que a comunidade cristã, “sacris actionibus erudita – instruída pelas ações sagradas”, como diz uma antiga oração doSacramentario Gregoriano (cf. Missal Romano 1962, Oração Coleta, Sábado depois do Primeiro Domingo da Paixão), seja disposta para receber a graça divina. No fato de que a celebração sacramental esteja "tecida de sinais e de símbolos", se expressa "a pedagogia divina da salvação" (Catecismo da Igreja Católica [CIC], n. 1145), já anunciada de modo eloqüentemente pelo Concílio de Trento. Reconhecendo que "a natureza humana é tal, que não é fácil para ela meditar sobre as coisas divinas sem dispositivos externos," a Igreja "usa as luminárias, os incensos, as vestes e muitos outros elementos transmitidos pelo ensinamento e pela tradição apostólica, com os quais se destaca a majestade de um Sacrifício tão grande [a Santa Missa], e as mentes dos fiéis são atraídas por estes sinais visíveis da religião e da piedade, para a contemplação das coisas altíssimas, que estão escondidas neste Sacrifício” (Concílio de Trento, Sessão XXII, 1562,Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 5, DS 1746, Tradução nossa).
Nesta realidade se expressa uma exigência antropologica: "Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para se comunicar com os outros através de linguagem, de gestos e de ações. O mesmo vale para o seu relacionamento com Deus" (CIC, n. 1146). Os símbolos e sinais na celebração litúrgica pertencem àqueles aspectos materiais que não podem ser negligenciados. O homem, criatura composta de corpo e alma, precisa usar as coisas materiais também no culto divino, porque está obrigado a alcançar as realidades espirituais através de sinais sensíveis. A expressão interna da alma, se é genuína, busca ao mesmo tempo uma demonstração corpórea externa, e, vice-versa, a vida interna é sustentada pelos atos externos, atos litúrgicos.
Muitos desses sinais, como os gestos de oração (os braços abertos, as mãos juntas, ajoelhar-se, procissões, etc), pertencem ao patrimônio comum da humanidade, como evidenciam as várias tradições religiosas. "A liturgia da Igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça, da nova criação em Cristo Jesus". (CIC, n. 1149).
De importância central são os sinais da Aliança, “símbolos das grandes obras feitas por Deus ao seu povo", entre os quais se incluem "a imposição das mãos, os sacrifícios e sobretudo a Páscoa. Nestes sinais a Igreja reconhece uma prefiguração dos sacramentos da Nova Aliança" (CIC, n. 1151). O próprio Jesus usa esses sinais no seu ministério terreno e lhe dá um novo significado, especialmente na instituição da Eucaristia. O Senhor Jesus tomou o pão, partiu-o e o deu aos seus apóstolos, cumprindo assim um gesto que corresponde a uma verdade profunda e a expressa de modo sensível. Os sinais sacramentais, que se desenvolveram na Igreja sob a orientação do Espírito Santo, continuam esta obra de santificação e, ao mesmo tempo, "prefiguram e antecipam a glória do céu" (CIC, n. 1152).
Em quanto a liturgia tem sua própria linguagem, que também se expressa nos sinais e nos símbolos, a sua compreensão não é nunca meramente intelectual, mas envolve o homem de modo total, incluindo a imaginação, a memória, e de certa forma todos os cinco sentidos. No entanto, não devemos esquecer a importância da palavra: Palavra de Deus proclamada na celebração dos sacramentos e palavra de fé que responde a essa. O mesmo Santo Agostinho de Hipona assinalou que a "causa eficiente" do sacramento, ou seja, aquela que faz de um elemento material o sinal de uma realidade espiritual e confere a tal elemento o dom da graça divina, é a palavra de bênção proferida em nome de Cristo pelo ministro da Igreja. Como escreve o grande Doutor da Igreja com relação ao batismo: "Tire a palavra, e o que é a água, a não ser só água? Combina a palavra ao elemento, e tem-se o sacramento (Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum) "(In Iohannis Evangelium Tractatus, 80, 3).
Finalmente, as palavras e as ações litúrgicas são inseparáveis e constituem os sacramentos, através dos quais o Espírito Santo “realiza também as «maravilhas» de Deus anunciadas pela Palavra: torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho muito amado" (CIC, n . 1155).
 |
«Interior da Igreja de Santa Costanza, Roma - séc IV.
construída sobre o magnífico mausoléu de Constantina, filha de Constantino.
As abóbadas e as absides são decoradas com mosaicos»
construída sobre o magnífico mausoléu de Constantina, filha de Constantino.
As abóbadas e as absides são decoradas com mosaicos»
Fonte: http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/historia_da_igreja/a_arte_crista.html
A Arte Cristã
Assim, paralelamente aos artigos sobre a construção de igrejas ("A Igreja através dos tempos"), acreditando que um complementa o outro, A RELÍQUIA passa a publicar uma série de matérias sobre a Arte Cristã. E para contestar qualquer argumentação contrária, basta lembrar que os maiores artistas de todos os tempos, independentemente de seus princípios filosóficos, sempre se voltaram (e se voltam), vez por outra, para a criação de uma obra de arte inspirada pelo cristianismo. Seja pela interpretação pictórica dos textos bíblicos, pela representação de cenas do Apocalipse ou pela releitura do Cristo crucificado em diferentes criações.
Como todas as coisas, a Arte Cristã teve um começo e, neste caso, de forma surpreendente. Depois que Cristo deixou sua doutrina, doze trabalhadores da Palestina andaram pelo mundo e o modificaram espiritualmente. Tanto que até hoje milhões de pessoas do mundo inteiro se reúnem em torno das igrejas de suas cidades e vilas. Mas voltemos ao começo: a necessidade de um local para o culto, a primeira igreja, os primeiros símbolos, a ilustração da primeira Bíblia, o primeiro crucifixo, a primeira imagem de santo, a primeira Virgem e o Menino, toda a história cristã é retratada em sua arte.
Como toda criação artística, a arte religiosa sempre esteve sujeita a limitações, principalmente financeira (trabalha-se dentro de um orçamento). Como a Arte Cristã é utilitária, limita-se a criação do artista, pois a chamada arte eclesiástica serve às necessidades da Igreja, tudo dependendo das regras impostas, do tamanho dos templos e de suas formas de edificações. Na pintura, os acontecimentos que determinaram as origens da Igreja e os grandes mistérios da fé foram representados para instrução e edificação dos devotos. As exigências do clero eram rigorosas, sendo a utilização da obra definida no momento da encomenda. Sem contar que existiam formas tradicionais, quase obrigatórias, para representar alguns temas, como por exemplo a "Adoração dos Reis Magos", a "Entrada de Jesus em Jerusalém", "O Batismo de Cristo", "A Santa Ceia", etc. O fato é que pelo respeito e pela natureza sagrada da arte cristã, impediram o surgimento de maiores inovações, o que acabou contribuindo para seu esplendor.
Conforme foi dito no primeiro artigo "A Igreja através dos tempos", o cristianismo nasceu e se desenvolveu num mundo em que a religião, o império e o patriotismo eram muito ligados. Desenvolveu-se no âmago do paganismo imperial, da religião estatal e da expressiva lealdade do imperador. Também a arte era oficial, imperial e pagã, de forma que a arte cristã só poderia começar em pequena escala. As primitivas igrejas eram muito discretas, instaladas em construções simples sem qualquer característica que as identificasse. Em termos de arte, até o século IV, o máximo que os arqueólogos encontraram nessas casas foram pinturas do martírio, talvez apócrifas, de São João e São Paulo.
 |
| «Pintura mural do Batistério de Dura-Europos, séc. III. Embaixo as Três Marias no Santo Sepulcro» |
Em uma pequena cidade fortificada chamada Dura-Europos, localizada nas margens do Eufrates, uma guarnição romana construiu, no ano de 265, um reforço alto de terra atrás das muralhas atacadas pelo inimigo, para isso derrubando várias casas, mas preservando o que seria uma igreja. Recentemente descoberta, essa casa, que era exatamente iguais às outras, possui uma porta falsa e um pátio quadrado que se liga a uma sala ampliada onde fora construída uma plataforma, provavelmente o altar. Num dos cantos, uma descoberta notável: um batistério com um receptáculo para banho, coberto por um baldaquino e fragmentos de afresco. Nas paredes do batistério, pintadas em estilo simples, cenas de Adão e Eva, Davi e Golias, Cristo andando sobre as águas, O Bom Pastor (foto ao lado) e uma procissão de mulheres levando velas para um sarcófago iluminado. De acordo com o professor Jean Lassus, foi um golpe de sorte entrar numa daquelas igrejas da Mesopotâmia e verificar a decoração em um cenário que naquela época era tão oriental quanto possível. Constatou-se tratar da "arte parda", provavelmente a arte alexandrina da Ásia, sendo reconhecíveis convenções e idéias características da arte bizantina, como o uso da frontalidade, ausência de relevo e a espiritualidade dos rostos. Embora a arte cristã se originasse fora do mundo mediterrâneo, foi por ele influenciada.
 |
«Dafne, Grécia - Segunda metade do séc. XI.
Igreja construída com inspiração bizantina»
Igreja construída com inspiração bizantina»
Expansão Bizantina
No século IX o Oriente assistiu o renascimento do poder bizantino, principalmente quando Basil se livrou de Miguel III e fundou a dinastia Macedônia, que reinou brilhantemente até a metade do século XI. Bizâncio reconquistou, em 880, as posições perdidas na Itália e Basil II livrou os Bálcãs das influências russas e búlgaras. O poderoso império ressurgiu depois que Nicéforo II expulsou os árabes, ocupando a Cilícia, a Síria, Armênia e Chipre.
 |
| «Crucificação de linhas sóbrias em Dafne» |
A arte bizantina acompanhou a expansão do império, fazendo com que até as igrejas basilicais de estilo ocidental, na Sicília dominada pelos normandos, fosses decoradas com mosaicos bizantinos. O ponto de partida desta nova expansão era obviamente Constantinopla, onde Hagia Sophia recebeu nova decoração imperial, com os mosaicos cobrindo as paredes com motivos celebrando a coroação de imperadores, com o ícone substituindo o ídolo e de novo o mosaico, agora substituindo a escultura.
Basil II ordenou a construção de uma nova igreja em Constantinopla, chamada "Nea", que depois foi destruída, mas o seu modelo serviu para construir outra igreja, a da Assunção em Nicéia, que depois seria também destruída.
O mosteiro de Dafne, a exemplo de alguns no ocidente e muitos no Oriente, parece um oásis. A cúpula ergue-se sobre paredes brancas e douradas, entre ciprestes e palmeiras, com os mosaicos saudando o visitante com uma luz intensa, apesar de certa frieza clássica. A Crucificação é muito sóbria. A Virgem e São João são tratados isoladamente, este sendo apresentado como uma estátua, o que sugere antecedentes fora da arte cristã, da escultura grega antiga. Todos estes monumentos oferecem uma impressão de dignidade, discrição e nobreza. A influência da arte da corte pode ser sentida até mesmo em mosteiros distantes, a mesma impressão que se tem ao folhear as páginas de um manuscrito imperial bizantino desta época. Na Nea Moni as cenas estão mais próximas dos modelos de Constantinopla. Surpreende as pálpebras vermelhas e sombras verdes no rosto da virgem, que repousa sua face na mão de Cristo, enquanto Ele é retirado da cruz. Como acontece no excelente quadro do Batismo, os traços de Cristo, de São João e do anjo são mas impassíveis.
 |
| «Mosaico com o imperador Constantino II e a Imperatriz Zoé - 1030. Hagia Sophia Constantinopla» |
Na Grécia, três igrejas são provas do esplendor da expansão bizantina. Todas são igrejas de mosteiros: Hosios Lukas na Fócida (início do século XI), Nea Moni em Chios (1050) e o mosteiro de Dafne na estrada de Atenas a Eleusis. Ainda surpreende descobrir nestas construções alguns toques peculiares à inspiração bizantina deste período. Hosios Lukas - igreja do mosteiro de São Lucas - tem uma cúpula central dominada por um medalhão de Cristo cercado de arcanjos e profetas. Acima de uma virgem sentada na abside existe outra cúpula com os apóstolos sentados em círculo recebendo a iluminação do Espírito Santo. Mos nichos sob a cúpula estão representadas a Anunciação, a Apresentação no Templo e o Batismo no Jordão. No lado oposto à entrada está a Crucificação - Cristo na cruz com a Virgem e São João, a Ressurreição, a Lavagem dos Pés e a Incredulidade de São Tomé.
As pinturas encontradas na igreja de Dura-Europos foram concebidas de forma idêntica às pinturas das catacumbas romanas, o que levou historiadores a afirmarem que a escolha de temas que seriam representados nas paredes já estaria pré-definidos e que a Igreja primitiva tinha acesso aos mesmos modelos que originaram os pisos de mosaicos pagãos executados em todo o Império Romano.
 |
| «Orans - Pintura sobre reboco do século III nas Catacumbas Romanas. Representa uma mulher com os braços levantados em súplica e oração num cenário que sugere o paraíso. Sob a pintura, os loculi, ou sepulturas escavadas na rocha» |
Um dos dogmas da Igreja era a crença na segunda vinda de Cristo e esse tema da ressurreição do corpo foi também representado nas paredes de Dura-Europos. Se no início os cristãos achavam que o retorno do Messias era iminente, depois anunciaram que a profecia seria cumprida, mas em tempo indefinido. Provavelmente por isso os cristãos eram proibidos de cremar os mortos, prática comum entre os romanos.
Como os cristãos insistiam em sepultar os seus mortos, surgiram problemas relacionados com os cemitérios, tornando-se necessário um espaço maior. Se em muitos lugares foram criados cemitérios em áreas fora dos muros das cidades, ao ar livre, em Roma, particularmente, os católicos adotaram um tipo de cemitério usado anteriormente pelos pagãos e que consistia numa rede de túneis subterrâneos conhecidos como catacumbas. Como era necessário utilizar o mínimo da terra disponível, os túneis eram sempre estreitos. Quando todos os lóculos (loculi) estavam ocupados, a altura e profundidade do túnel eram aumentadas com a finalidade de receber mais corpos. Outros túneis seriam escavados no nível inferior e também em direções diferentes, o que resultou nos impressionantes labirintos em torno de Roma, tão extensos que ainda hoje novos túneis são descobertos.
 |
| «A Ressurrreição de Lázaro - Pintura sobre rebôco, séc. III - Catacumba de São Pedro, Roma» |
As pinturas encontradas na igreja de Dura-Europos foram concebidas de forma idêntica às pinturas das catacumbas romanas, o que levou historiadores a afirmarem que a escolha de temas que seriam representados nas paredes já estaria pré-definidos e que a Igreja primitiva tinha acesso aos mesmos modelos que originaram os pisos de mosaicos pagãos executados em todo o Império Romano.
Um dos dogmas da Igreja era a crença na segunda vinda de Cristo e esse tema da ressurreição do corpo foi também representado nas paredes de Dura-Europos. Se no início os cristãos achavam que o retorno do Messias era iminente, depois anunciaram que a profecia seria cumprida, mas em tempo indefinido. Provavelmente por isso os cristãos eram proibidos de cremar os mortos, prática comum entre os romanos.
Como os cristãos insistiam em sepultar os seus mortos, surgiram problemas relacionados com os cemitérios, tornando-se necessário um espaço maior. Se em muitos lugares foram criados cemitérios em áreas fora dos muros das cidades, ao ar livre, em Roma, particularmente, os católicos adotaram um tipo de cemitério usado anteriormente pelos pagãos e que consistia numa rede de túneis subterrâneos conhecidos como catacumbas. Como era necessário utilizar o mínimo da terra disponível, os túneis eram sempre estreitos. Quando todos os lóculos (loculi) estavam ocupados, a altura e profundidade do túnel eram aumentadas com a finalidade de receber mais corpos. Outros túneis seriam escavados no nível inferior e também em direções diferentes, o que resultou nos impressionantes labirintos em torno de Roma, tão extensos que ainda hoje novos túneis são descobertos.
As pinturas das catacumbas
 |
| «Noé na Arca - séc. III, Catacumba de São Pedro e São Marcellinus, mostrando Noé com postura orans» |
Considerar como grandes obras de arte as pinturas que decoravam as paredes das catacumbas, seria um exagero. Elas derivam da arte decorativa que a partir de Pompéia passou a ser usada na maioria das casas romanas. Com muita freqüência os temas das pinturas dos cristãos utilizavam motivos tradicionais como cupido, as estações, animais, cestos cheios de pães, etc. O Bom Pastor, tomado da arte pagã, era representado tocando uma flauta, com um carneiro no ombro ou cercado por seu rebanho. Embora representada por uma figura de mulher rezando com os braços levantados, a orans simboliza a alma de uma pessoa morta. Cenas do Antigo e do Novo Testamento também são encontradas nas paredes das catacumbas, sendo necessário algum conhecimento para identificar Noé emergindo de uma arca, Jonas adormecido sob o cabaceiro ou Daniel na cova dos leões. A multiplicação dos pães é representada por uma cesta cheia de pães e de peixes e se o apreciador não tiver conhecimento do castigo imposto por Nabucodonosor, aos três blasfemadores hebreus, não vai entender a cena dos três jovens lançados na fogueira. Mais tarde aparecem imagens mais elaboradas, como a adoração dos Reis Magos e outras.
Os estilos de todas estas pinturas são fluentes e descontraídos, as cores são alegres e claras. Os movimentos e as atitudes das figuras são de concepção arrojada, mas os rostos são apenas esboçados na maioria das vezes. Estes trabalhos antigos têm mais importância do ponto de vista religioso e histórico do que propriamente artístico, mas por outro lado não seria prudente julgar a arte cristã primitiva apenas pelos exemplos conhecidos. É possível que uma arte mais elaborada tenha florescido nas igrejas primitivas e a arqueologia ainda não tenha dado a última palavra.
A Arte Cristã teve grande impulso depois do Edito de Milão, quando o Imperador Constantino ordenou a construção de muitas igrejas na Europa, África e Ásia. No início da Era Constantino, os construtores submetiam a edificação de um santuário ao monumento que ele comemorava. Ou seja, o resultado das pesquisas arqueológicas autorizadas limitava os arquitetos, e a glorificação das relíquias encontradas impunha ao cliente uma despesa inevitável, pois estas eram encerradas em mármore e cercadas por colunas, balaustradas e lâmpadas.
Os gastos despendidos na preparação desses locais tornavam necessário que os edifícios fossem construídos com maior solidez. Mas as formas arquitetônicas cristãs foram estabelecidas numa época em que os outros tipos de edifícios eram construídos com o emprego de elaborados métodos técnicos. Esses métodos foram usados pela primeira vez nas termas ou banhos públicos - uma grande sala, coberta por três abóbadas ogivais, apoiadas em ambos os lados por abóbadas mais baixas, sustentadas por colunas.
Essas construções assemelhavam-se mais a um frigidário (frigidarium) do que aos edifícios de colunas e tetos de madeira que formavam as basílicas do Fórum original ou mesmo aquelas de Trajano. Diante das novas necessidades das igrejas cristãs, os arquitetos, incapazes de explorar essas inovações, voltaram aos métodos tradicionais, adotando estilos menos complexos, talvez por medida de economia. A evolução da construção das igrejas o leitor pode acompanhar lendo a série de artigos intitulada "A Igreja Através dos Tempos", que nesta edição está na página 17.
Na decoração das igrejas cristãs, as tradições dos artistas romanos foram adotadas sem reservas e seus motivos usados sem qualquer preocupação com as interpretações simbólicas que poderiam ter por parte dos pagãos. A decoração das abóbadas de Santa Constanza, por exemplo, é típica sob esse aspecto. Possui complicados padrões geométricos encontrados em pavimentos de mosaicos dessa época ou anteriores. Em Sousse, ou em Cherchel, no Norte de África, existem muitos exemplos dessa combinação de círculos e polígonos com os lados arredondados contendo pássaros, animais, cupido ou meninas dançando. Do mesmo jeito, cenas da colheita das uvas - o carregamento dos carros de bois e camponeses nus esmagando as uvas - são encontradas através de toda a arte pagã. Os arabescos de videira apresentam os conhecidos putti. O motivo pode ter vindo diretamente, sem transição, de seu significado dionisíaco para simbolizar a Eucaristia; motivos semelhantes podem ser vistos nas catacumbas.
Outro exemplo é o grande mosaico da igreja Aquiléia, que data do início do século IV, onde animais estranhos à simbologia cristã estão dispostos em composições geométricas que formam uma moldura em torno de pássaros, peixes, bustos humanos, cenas como o bom pastor e outras de difícil interpretação. Outra parte do piso representa o mar cheio de peixes, características dos mosaicos alexandrinos. Entre cenas de pesca, vê-se Jonas sendo lançado fora de seu barco e engolido pelo monstro marinho. Em outra parte pode ser visto o profeta adormecido sob o cabaceiro. O motivo cristão é mais uma vez tratado da mesmo forma que nas catacumbas.
Uma iconografia cristã parece ter sido desenvolvida nesse mesmo tempo, como se pode constatar em Santa Costanza, nas conchas da capela da abside, onde Cristo é avistado no céu, sentado sobre o globo, ou de pé sobre a rocha da qual nascem os quatro rios do Paraíso, entregando a Lei aos apóstolos Pedro e Paulo. Os monumentos em Jerusalém parecem ter uma grande variedade de temas que apresentam toda uma série nova de cenas, isoladas ou agrupadas. A iconografia é estável, deixando supor a existência de modelos conhecidos, provavelmente as próprias pinturas e mosaicos que decoravam os Lugares Sagrados. Essas cenas incluem a Ressurreição, com as santas mulheres chegando ao sepulcro, recebidas pelo anjo. Existe a Ascensão, a Anunciação, a Crucificação, a Natividade, a Visitação e o Batismo de Cristo.
O mosaico dos fins do século IV na abside de Santa Pudenziana apresenta Cristo entronizado no centro, cercado dos apóstolos e de duas figuras femininas, interpretadas como alegorias. Uma pedra está atrás do trono (a pedra do Calvário), onde uma cruz está cravada, colocada ali por Constantino, ou por Teodósio II. Ao fundo estão os monumentos de Jerusalém - os santuários colocados em torno dos lugares sagrados já mencionados, e que aqui sugerem a Jerusalém celestial. No céu aparecem os símbolos apocalípticos dos evangelistas. Essa obra, relacionada com os trabalhos de Santa Costanza e com cenas representadas nos sarcófagos e catacumbas, revela uma iconografia já estabelecida, na qual a vida terrestre e a vida celestial de Cristo estão inter-relacionadas como significação da união de duas naturezas numa mesma pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade teria sua vida terrestre logo descrita, assim como a história dos patriarcas, nas paredes de Santa Maria Maggiore, em Roma. A partir daí, sua soberania era reconhecida e representada em cenas nas quais o Salvador está entronizado em meio aos apóstolos como um imperador em sua corte. E a Cruz do martírio tornou-se através dos tempos o símbolo do seu triunfo.
Mosaicos de Ravena
Para um melhor entendimento da Arte Cristã nos séculos V e VI, nada melhor do que conhecer Ravena. Nesta cidade, localizada à beira do Adriático, foi que o Imperador Honório se estabeleceu no século V e onde sua irmã Galla Placídia governou para o filho Valentiniano III, dando à cidade o aspecto de capital. Ali também governou o Rei da Itália, Teodorico, e Belisário fez de Ravena a capital do exarcado representante do Estado bizantino no Ocidente.
 |
| «A procissão dos Mártires, mosaico do sécs. V e VI em S. Apollinare Nuovo, Ravena. Vista da decoração da parede sul. Sobre os arcos está um friso em mosaicos com a procissão dos mártires, levando ao Cristo entronizado. Em cima, entre as janelas do clerestório, figuras de santos representados como estátuas em nichos; sobre cada janela há um mosaico do ciclo narrativo das cenas da Paixão» |
O desenvolvimento da arquitetura e da arte dos mosaicos em Ravena mostra uma fusão de estilos italianos e orientais, sendo um dos exemplos mais bem sucedidos da Arte Cristã. Os mosaicos seriam a decoração das igrejas orientais durante dez séculos consecutivos. Em Ravena, os artífices tiveram que resolver todos os seus problemas - técnicos, decorativos, figurativos e iconográficos -, de uma arte que teve suas origens na Grécia, ficando depois bastante popular em todo o Império Romano.
Inicialmente os mosaicos eram feitos como piso, na Síria e na África e depois encontrados na Sicília, onde se acredita o Imperador Maximiano se exilou. Em Pompéia escavações revelaram que os mosaicos eram usados apenas na decoração de fontes. De alguma forma eles também são usados em monumentos funerários e também, de forma monumental, aparecem nas abóbadas de Santa Constanza. Se durante esse período os mosaicistas tinham limitações ao decorar o piso, por razões de durabilidade, quando os mosaicos murais passaram a ser usados em Ravena, essa limitação acabou, aumentando consideravelmente o uso de cubos de vidro. Os fundos de pedra calcária ou mármore foram substituídos primeiro pelos azuis, depois pelos dourados, proporcionando às composições um brilho esplêndido, e a mesma luminosidade dos interiores das igrejas bizantinas. O efeito azul do mausoléu de Galla Plácidia, enriquecido pelo brilho dourado, revela uma nova sensibilidade e sentimento de cor.
Os artistas passaram a contar com grandes superfícies a serem decoradas no interior das igrejas. Havia não só paredes inteiras a decorar, mas também paredes interrompidas por janelas e arcadas cegas, tímpanos semicirculares e absides hemisférica, cúpulas e abóbadas. O trabalho realizado no octógono de S. Vitale, monumento plenamente bizantino, alcança a culminância do estilo. Continua intacta, no seu presbitério, toda a decoração de mosaicos.
Muitos dos motivos utilizados na decoração já existiam nas catacumbas cristãs, na arte monumental romana e mesmo em épocas anteriores. Desde os assírios o motivo da procissão tinha sido adaptado pelos artistas numa composição retangular onde as figuras da mesma altura seguiam umas às outras. O tema da procissão militar foi seguido pelo da procissão triunfal em direção a um deus ou um rei sentado ao trono, às vezes cercado de dignitários. Este tema tradicional foi magnificamente utilizado em S. Apollinare Nuovo: partindo das cidades de Ravena e Classe, os mártires saem do pórtico em direção à abside para oferecer suas coroas a Cristo e à Virgem. Na mesma S. Apollinare quadros históricos foram colocados em painéis sobre o clerestório, da mesma forma que em Santa Maria Maggiore, meio século antes. Os apóstolos e profetas entre as janelas, com magníficas conchas vermelhas e douradas sobre as cabeças, são lembranças da disposição clássica das estátuas em nichos. O tipo de arranjo parece ser uma tentativa de reproduzir uma decoração em relevo em duas dimensões. Em S. Vitale e em S. Apollinari in Classe consiste a decoração em uma cena triunfal desenrolada no céu - o triunfo de Cristo ou de um santo numa cena simbólica ou figurativa do Paraíso. Essa representação, com vista frontal da figura principal e as figuras de apoio em simetria, apresenta uma visão global, até a extremidade da igreja, de uma imagem de devoção com notável efeito dramático. Este tipo de representação é encontrado através de toda arte bizantina, sempre se mantendo a frontalidade e a simetria.
A existência de um teto independente na composição da basílica obrigava que a decoração fosse fragmentada. Mas a construção das abóbadas fez com que os mosaicos ganhassem mais espaço, resultando em uma unidade decorativa. As figuras tratadas individualmente ficaram desapercebidas, como certas figuras integradas numa folhagem dourada da igreja de Galla Placídia, por exemplo.
 |
| «A Imperatriz Teodora e sua comitiva (546/548)- Mosaico do presbitério de S. Vitale - Ravena» |
Na igreja de S. Vitale as paredes laterais dos presbitérios são decoradas com um fundo de pedras estilizadas, com desenhos de folhagem, flores e animais. Sobre esse fundo estão colocadas figuras de profetas, tão integrados nesta decoração difusa que pouco são notados. Mas na abóbada, os anjos segurando a grinalda que circunda o Cordeiro de Deus tornam-se os elementos focais da decoração de folhagem que os circunda. Acentuada pelas cores que a cobrem, a arquitetura parece ter sido reinterpretada.
O período coberto pelo pelos monumentos de Ravena é muito instrutivo no desenvolvimento da representação da figura humana. Comparando os dois grupos de apóstolos ou os dois medalhões representando o Batismo de Cristo, de épocas diferentes, nos batistério dos arianos e dos ortodoxos, e comparando os profetas entre as janelas com a procissão de mártires em S. Apollinare Nuovo, nota-se a mesma mudança profunda.
Desde o século V a estilização das vestes vinha sendo acentuada, mas os rostos eram ainda tratados como se fossem retratos pintados.
No século VI surge um novo estilo, mais bem adaptado à decoração monumental, e que precedia de um espírito novo. Nas vestes, por exemplo, não há nenhuma tentativa de modelar os sombrear as cores; elas são simplesmente indicadas por um jogo de linhas destinado a sugerir tanto o movimento do material quanto os dos corpos que cobrem. Esse uso de contrastes de motivos escuros sobre um fundo claro é um efeito de cor. Isso é visto mais claramente quando a toga é substituída pelas clâmides e os tecidos brancos pelos debruns coloridos e brocados. É isso que cria o contraste entre as duas procissões de S. Apollinare Nuovo nas quais as magnificentes vestes da corte de santos são apresentadas como superfície vermelha, ao passo que as figuras dos mártires mantêm um certo relevo, apesar da simplicidade com a qual as dobras de suas togas brancas são desenhadas. Nos famosos quadros que representam Justiniano e Teodora em S. Vitale, surpreende o brilho incomparável da superfície colorida na qual o esplendor das vestimentas e a riqueza dos costumes da corte mesclam-se a uma espécie de maravilhosa tapeçaria.
Observados atentamente, esses quadros não são estáticos, apesar dos movimentos quase desaparecerem na rigidez das vestes e na frontalidade das figuras. Estranha ao Ocidente Romano, esta tradição artística originou-se no Oriente helenizado, onde as tradições levadas por Alexandre até as fronteiras da Índia, desenvolveram-se segundo regras próprias e resultaram em formas artísticas bem diferentes de suas fontes européias. Michael Rostovtzeff chamou estas formas de arte parta, que exerceu influência decisiva sobre a pintura bizantina. A frontalidade geralmente cria uma simetria total nas figuras. Mas também há ocasiões em que as figuras deixam de ser fixadas numa posição frontal por causa da simetria, seja nas procissões ou em uma das cenas mais ativas. Encontram-se alguns rostos completamente de perfil. Com o triunfo destas tendências, penetramos numa nova estética, na qual o realismo e o respeito por volumes e formas cedem lugar à cor e à visão. É um mundo bidimensional que se presta à expressão e ao simbolismo.
 |
| «A Transfiguração, (540), mosaico da Abside da Igreja de Santa Catarina» |
Dentro destas edificações monumentais e seguindo esta nova estética, os mosaicistas de Ravena trataram os assuntos cristãos que lhe foram encomendados. Curioso é que em Ravena a história religiosa - o Antigo e o Novo Testamento - parece ter sido relegado a um segundo plano, muito embora se encontre sua expressão essencial em S. Apollinare Nuovo. Existem representações dos milagres de Cristo, a traição de Judas, a Ressurreição, etc. Mesmo quando ilustram algum outro episódio bíblico, as pinturas com personagens nos outros edifícios de Ravena parecem ter um valor simbólico. Os profetas e mártires, Reis Magos e anjos que nos transportam para além de nosso mundo estão na cidade celestial. Esta evocação de um mundo melhor, envolto pelo azul do céu e o dourado do sol, é encontrada em todas as obras - e confere à decoração seu valor real. Profetas, santos, apóstolos, mártires, estão em todas as partes proclamando e aclamando a divindade de Cristo e a verdade de sua promessa. Em seus símbolos, como em suas cores, a decoração das igrejas de Ravena revive a esperança de salvação.
Iconografia: «O Iluminismo»
A primeira parte da Bíblia Cristã é o Antigo Testamento, que conta a história do povo judeu. A segunda parte, o Novo Testamento, é basicamente a biografia de Jesus. Em ambos os livros, embora certos capítulos tenham caráter litúrgico, profético ou lírico, o caráter dominante é o narrativo.
Por ser também e principalmente uma religião do livro, e por razões pedagógicas, ou grande necessidade de retratar caracteres e acontecimentos religiosos, muito cedo os cristãos se voltaram para a ilustração de livros. Exemplos dessa antiga arte miniaturista são encontrados em muitos livros de evangelhos. Os antigos exemplares que foram preservados geralmente são do século X e XI, mas existem alguns mais antigos, como os manuscritos púrpura do Gêneses de Viena e os Evangelhos de Rossano, que remontam ao século IV.
 |
| «A Ascensão - ilustração em miniatura de evangelhos do século XV» |
Através de gerações as iluminuras, a exemplo dos textos, foram copiados e recopiados, não por falta de imaginação, mas para manter o caráter sagrado e inviolável do livro que as figuras ilustravam e que constituem uma iconografia. A exemplo de pintores de afrescos e mosaicistas, os primeiros miniaturistas, para glorificar os principais acontecimentos da história cristã, também faziam representações de determinados episódios.
Os Octateucos e Evangelhos eram amplamente ilustrados, cada parágrafo tinha seu comentário pictórico, assemelhando-se muito às histórias de quadrinhos atuais. É até possível seguir a narrativa acompanhando os desenhos. A origem desta prática é confusa. Sabe-se que no século IV os gregos e romanos usavam desenhos em miniaturas em dois tipos de livros, havendo ainda os "volumina", longos rolos de papiro que aparecem nas mãos de muitas estátuas de cidadãos romanos. Neste caso as ilustrações eram limitadas à largura da coluna. No Rolo de Josué, em pergaminho, as imagens seguem-se umas às outras sem interrupção em longas tiras, como a decoração da coluna de Trajano.
Do século IV em diante, os manuscritos passaram a tomar forma de livros de pergaminho (códices), com as ilustrações ainda colocadas em colunas, algumas se expandindo por toda a página. Com isso as miniaturas tornaram-se verdadeiros quadros. O mesmo esquema era usado na representação de cenas, de um manuscrito para outro. Nos evangelhos, que eram ilustrados cada vez que se fazia uma copia, a semelhança é indiscutível. A obediência a esse modelo não impediu que os pintores usassem as suas habilidades e fizessem encantadoras variações que revelassem o naturalismo, o gosto pelo exótico, e o estilo cheio de vida de diferentes miniaturistas.
FONTE:
Texto de Jean Lassus, professor da Universidade de Sorbonne e do Instituto de Arte e Arqueologia - Paris; Ed. José Olympio e Exped; East Christian Art de O. Dalton e Early Christian Art, de W.F. e Hirmer.
Extraído de: A RELÍQUIA - Informativo dos Antiquários, Leiloeiros e Colecionadores" - Rio de Janeiro / São Paulo. Web Site:http://www.areliquia.com.br
Mons. Guido Marini: A linguagem da celebração litúrgica
Do site da Santa Sé:
DEPARTAMENTO PARA AS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS DO SUMO PONTÍFICE
A LINGUAGEM DA CELEBRAÇÃO LITÚRGICA
Publicamos amplos excertos do relatório sobre «A linguagem da celebração litúrgica », que o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias apresentou no dia 24 de Fevereiro passado, na abertura do curso sobre «Ars celebrandi», na sede da Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma.
Não é possível começar um curso sobre a ars celebrandi, abordando a temática da linguagem da celebração litúrgica, sem evocar no pensamento a famosa citação da exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum caritatis, de Bento XVI: «Igualmente importante para uma correcta ars celebrandi, arte da celebração, é a atenção a todas as formas de linguagem previstas pela liturgia: palavra e canto, gestos e silêncios, movimento do corpo, cores litúrgicas dos paramentos.
Com efeito, a liturgia, por sua natureza, possui uma tal variedade de níveis de comunicação que lhe permitem cativar o ser humano na sua totalidade. A simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e aliciam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. A atenção e a obediência à estrutura própria do rito, ao mesmo tempo que exprimem a consciência do carácter de dom da Eucaristia, manifestam a vontade que o ministro tem de acolher, com dócil gratidão, esse dom inefável» (n. 40).
Há alguns anos, precisamente em 2009, foi publicada uma colectânea de contribuições sobre a liturgia, da autoria do cardeal Joseph Ratzinger, intitulada: Diante do protagonista. Nas raízes da liturgia. Trata-se simplesmente de um título, não há dúvida. E no entanto, é particularmente indicativo daquilo que encontramos nas raízes da temática relativa à liturgia. Nessas raízes encontramos Jesus Cristo, o Protagonista, o verdadeiro e mais importante Protagonista da liturgia.
Com efeito, através da liturgia, o Senhor dá continuidade no seio da sua Igreja à obra da nossa redenção (cf. Sacramentum caritatis, 2). Aquilo que teve lugar na história, ou seja, o mistério pascal, o mistério da nossa salvação, torna-se hoje presente na celebração litúrgica da Igreja. De tal maneira, o Salvador não é uma recordação do tempo passado, mas constitui o Vivente, que dá continuidade à sua obra salvífica no seio da Igreja, comunicando a sua vida, que é graça, que é antecipação de eternidade. Na própria celebração eucarística, a assembleia congregada responde ao «Mistério da fé», sucessivo à consagração, com as palavras deveras significativas: «Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, enquanto esperamos a vossa vinda». Nesta formulação da liturgia romana voltamos a encontrar descritos os três momentos que são próprios de cada celebração sacramental: ou seja, a memória do acontecimento salvífico que teve lugar no passado, a presente acção de graças no contexto da celebração e a antecipação da glória vindoura. Desta forma a Igreja, convocada para a celebração litúrgica, renova sempre de novo a experiência da verdade da seguinte afirmação paulina: «Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade» (Hb 13, 9). Aquele Jesus que ontem, num momento histórico específico, viveu o mistério da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, é o mesmo Jesus de quem hoje, no tempo que passa, se renova sacramentalmente o mistério da salvação, de tal modo que todos possam ter acesso a ele. E é sempre o mesmo Jesus que a Igreja espera voltar na glória, mas prelibando desde já, como antecipação, a alegria da sua presença e da sua obra.
A presença misteriosa e real de Cristo na liturgia e o seu ser protagonista no rito celebrado exige da linguagem litúrgica o esplendor da nobre simplicidade, segundo a célebre afirmação do Concílio Vaticano II (cf. Sacrosanctum concilium, 34). Falei sobre o «esplendor da nobre simplicidade», porque esta é a expressão completa utilizada pelos Padres conciliares. Nela é-nos concedido encontrar a relação intrínseca entre beleza, nobreza e simplicidade.
Como sempre, cada indicação magisterial deve ser lida e compreendida no contexto mais amplo do tema de que se trata, e em relação de desenvolvimento harmonioso com a totalidade do ensinamento da Igreja. Desta maneira, vê-se claramente como estão distantes da verdade aquelas insistências acentuadas em evocar uma determinada simplicidade que, por vezes, induziram a tornar o rito litúrgico aproximativo, banal, maçador e até insignificante. Trata-se de um modo de entender a simplicidade não fundamentado no ensinamento da Igreja e na sua grandiosa tradição litúrgica. Para não dizer que, em algumas ocasiões, tal modo de considerar a nobre simplicidade se traduz naquela que poderíamos definir uma nova complexidade pouco nobre. Não se trata, porventura, precisamente disto, quando a liturgia se torna teatro de ideias subjectivas e extemporâneas, com a inserção de símbolos desprovidos de um significado autêntico, ou tão complicados a ponto de terem que ser decifrados mediante longas explicações?
Voltemos à nobre simplicidade autêntica, ouvindo o Papa Bento XVI que, na exortação apostólica pós-sinodal sobre a Eucaristia, Sacramentum caritatis, diz: «A relação entre mistério acreditado e mistério celebrado manifesta-se, de modo peculiar, no valor teológico e litúrgico da beleza. De facto, a liturgia, como aliás a revelação cristã, tem uma ligação intrínseca com a beleza: é esplendor da verdade, veritatis splendor (...) Referimo-nos aqui a este atributo da beleza, vista não como mero esteticismo, mas como modalidade com que a verdade do amor de Deus em Cristo nos alcança, fascina e arrebata, fazendo-nos sair de nós mesmos e atraindo-nos assim para a nossa verdadeira vocação: o amor (...) A verdadeira beleza é o amor de Deus que nos foi revelado definitivamente no mistério pascal. A beleza da liturgia pertence a este mistério; é expressão excelsa da glória de Deus e, de certa forma, constitui o céu que desce à terra (...) Concluindo, a beleza não é um factor decorativo da acção litúrgica, mas seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da sua revelação. Tudo isto nos há-de tornar conscientes da atenção que se deve prestar à acção litúrgica, a fim de que brilhe segundo a sua própria natureza» (n. 35).
Como sempre, as palavras do Papa têm o grande dom da clareza. Daqui segue-se que na celebração litúrgica não é admissível qualquer forma de minimalismo e de pauperismo. E isto, sem dúvida, não para fazer espectáculo ou em vista de um esteticismo vazio. Nas diversificadas formas antigas e modernas em que encontra expressão, o belo constitui a modalidade própria em virtude da qual nas nossas liturgias resplandece, ainda que de maneira sempre pálida, o mistério da beleza do amor de Deus. Eis por que motivo nunca se fará o suficiente para tornar os nossos ritos simples, enquanto claros no seu desenvolvimento, nobres e bonitos. É quanto nos ensina a Igreja, que na sua longa história jamais teve receio de «dissipar» para circundar a celebração litúrgica com as expressões mais elevadas da arte: da arquitectura à escultura, à música e às alfaias sagradas. É quanto nos ensinam os santos que, não obstante a sua pobreza pessoal e a sua caridade heróica, sempre desejaram que ao culto se destinasse quanto há de melhor.
Ouçamos novamente Bento XVI, que diz: «As nossas liturgias da terra, inteiramente dedicadas a celebrar este gesto único da história, nunca conseguirão expressar totalmente a sua densidade infinita. Sem dúvida, a beleza dos ritos jamais será bastante requintada, suficientemente cuidada nem muito elaborada, porque nada é demasiado belo para Deus, que é a Beleza infinita. As nossas liturgias terrenas não poderão ser senão um pálido reflexo da liturgia que se celebra na Jerusalém do céu, ponto de chegada da nossa peregrinação na terra. Possam, porém, as nossas celebrações aproximar-se o mais possível dela, permitindo-nos antegozá-la! » (Homilia durante a celebração das Vésperas na Catedral de Notre Dame, Paris, 12 de Setembro de 2008). «A beleza intrínseca da liturgia tem, como sujeito próprio, Cristo ressuscitado e glorificado no Espírito Santo, que inclui a Igreja no seu agir» (Sacramentum caritatis, 36). É Bento XVI que, com estas palavras, nos recorda de novo que a liturgia é obra do Cristo total e, por conseguinte, também da Igreja. Da afirmação que a liturgia é obra da Igreja derivam algumas considerações de não pouca importância para aquela essência da liturgia que aqui estou a explicar. Com efeito, quando se diz que a Igreja constitui um sujeito que age, faz-se referência à Igreja inteira, enquanto sujeito vivo que atravessa o tempo, que se realiza na comunhão hierárquica, que é uma realidade que ainda peregrina sobre a terra e, ao mesmo tempo, uma realidade que já chegou às margens da Jerusalém celeste.
No mês de Agosto de 2006, em Castel Gandolfo, respondendo à pergunta de um sacerdote durante um encontro com o clero da diocese de Albano, o Papa Bento XVI assim se expressava, em conformidade com o estilo discursivo típico de uma conversa: «A Liturgia cresceu em dois milénios e também depois da reforma não se tornou algo elaborado apenas por alguns liturgistas. Ela permanece sempre continuação deste crescimento permanente da adoração e do anúncio. Assim, é muito importante, para nos podermos sintonizar bem, compreender esta estrutura que cresceu no tempo e entrar com a nossa mens na vox da Igreja. Na medida em que interiorizamos e compreendemos esta estrutura e assimilamos as palavras da Liturgia, podemos entrar nesta consonância interior e assim não só falar com Deus como pessoas individualmente, mas entrar no “nós” da Igreja que reza. Desta forma transformamos também o nosso “eu” entrando no “nós” da Igreja, enriquecendo e alargando este “eu”, rezando com a Igreja, com as palavras da Igreja, estando realmente em diálogo com Deus». Entrar no «nós» da Igreja que reza. Este «nós» fala-nos acerca de uma realidade, nomeadamente da Igreja, que vai mais além dos ministros ordenados individualmente e de cada um dos fiéis, de cada comunidade e dos grupos singularmente, porque ali a Igreja se manifesta e se torna presente na medida em que se vive a comunhão com a Igreja inteira, aquela Igreja que é católica, universal, dotada de uma universalidade que alcança todos os tempos, todos os lugares, ultrapassando o limiar do tempo para se deixar alcançar pela própria eternidade.
Por conseguinte, da essência da liturgia faz parte o facto de que ela contém em si antes de tudo a característica da catolicidade, onde unidade e variedade se compõem em harmonia, a ponto de formarem uma realidade substancialmente unitária, não obstante a legítima diversidade das várias formas. E além disso, a característica da não-arbitrariedade, que evita confiar à subjectividade do indivíduo ou do grupo aquilo que, ao contrário, pertence a todos como um tesouro recebido, que deve ser conservado e transmitido. E ainda a característica da continuidade histórica, em virtude da qual o desenvolvimento desejável se parece com o de um organismo vivo que não renega o próprio passado, atravessando o presente e orientando-se para o futuro.
E, enfim, a característica da participação na liturgia celestial, para a qual é mais apropriada do que nunca falar da liturgia da Igreja como do espaço humano e espiritual em que o céu se debruça sobre a terra. Pensemos, apenas de maneira exemplificativa, nas palavras da Prece eucarística I, em que pedimos: «Fazei com que esta oferenda [pelas mãos do vosso santo anjo] seja levada ao altar do Céu». Quanto dissemos até agora, a propósito da liturgia como gesto da Igreja, não seria suficiente se não se acrescentasse o tema da participação. Com efeito, é precisamente a liturgia, entendida como obra da Igreja, que exige uma participação consciente, concreta e frutuosa (cf. Sacrosanctum concilium, 11). Cada consideração a este propósito corre o risco de ser insensata e ambígua, se o ponto de partida não for a obra de Cristo e da Igreja. É precisamente este gesto que deve ser participado de maneira consciente, concreto e frutuoso. E isto só é possível, se se realizar uma autêntica comunhão de fé com o agir da Igreja e o agir de Cristo.
Mas em que consiste o agir da Igreja? É o agir da Esposa, que tende a tornar-se uma única realidade com Cristo Esposo e com o seu agir. E qual é o agir de Cristo? A sua oferenda de amor ao Pai, pela nossa salvação. Por conseguinte, a participação consciente, concreta e frutuosa, na liturgia, verifica-se na medida em que cada um e todos compartilham o agir da Igreja, que tende ao Esposo e, portanto, deixemo-nos envolver pela obra do Esposo, que é sacrifício de amor ao Pai pela salvação do mundo.
Agora, o tema da participação oferece a oportunidade de ampliar aquilo que já dissemos a propósito do agir de Cristo no contexto da liturgia. Façamo-lo, deixando-nos conduzir pela mão por uma argumentação fundamental do teólogo Joseph Ratzinger: «Com o termo “actio”, referido à liturgia, entende-se nas fontes o cânone eucarístico. O verdadeiro agir litúrgico, o autêntico gesto litúrgico, é a oratio: a grande oração, que constitui o núcleo da celebração litúrgica e que, precisamente por este motivo, no seu conjunto, foi denominada pelos Padres com o termo oratio . Esta definição já era correcta a partir da própria forma litúrgica, porque na oratio se desenvolve aquilo que é essencial para a Liturgia cristã (...) Esta oratio — a solene prece eucarística, “o cânone” — (...) é actio no sentido mais excelso de tal termo. Com efeito, nela verifica-se que a actio humana (...) passa em segundo plano, deixando espaço à actio divina, ou seja, ao agir de Deus» (Introdução ao espírito da Liturgia, págs. 167-168).
Por conseguinte, na oratio realiza-se aquilo que é essencial para a liturgia cristã. Interroguemo-nos: «Em que consiste este essencial que se verifica? ». Respondamos, seguindo o texto de Ratzinger: «O agir de Deus». E tudo isto é quanto a Igreja, Esposa de Cristo, vive na celebração da liturgia. Com efeito, aquilo que continua a ser essencial para a liturgia é que quantos nela participam rezem para compartilhar o mesmo sacrifício do Senhor, o seu gesto de adoração, tornando-se um só com Ele, verdadeiro corpo de Cristo.
Noutras palavras, o que é essencial é que no final seja superada a diferença entre o agir de Cristo e o nosso próprio agir, que haja uma progressiva harmonização entre a sua vida e a nossa vida, entre o seu sacrifício de adoração e o nosso, de tal maneira que existe um único agir, seu e ao mesmo tempo nosso. Aquilo que são Paulo afirma não pode deixar de ser a indicação do que é essencial alcançar, em virtude da celebração litúrgica: «Fui crucificado com Cristo; já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim» (Gl 2, 19-20). Como conclusão, considero importante ressaltar aquela que me parece ser uma grave urgência da nossa época, ou seja, a necessidade da formação para a liturgia e a sua linguagem, a todos os níveis. Como bem sabemos, nada mais é possível dar por certo. Num tal processo formativo, considero que existem quatro prioridades. Antes de tudo, é necessário fazer aprofundar e assimilar os temas-chave da teologia da liturgia, como fundamento da prática celebrativa.
Em segundo lugar, é importante ajudar a compreender a linguagem litúrgica, enquanto arraigada numa tradição secular, sujeita ao discernimento eclesial, sempre numa lógica de desenvolvimento harmonioso que saiba valorizar tanto o antigo como o novo. Além disso, é fundamental introduzir no sentido autêntico da celebração que, enquanto culto espiritual, deve plasmar a vida em todos os seus aspectos, oferecendo uma nova linguagem — a de Cristo — à quotidianidade. Enfim, é indispensável suscitar um renovado amor por aquilo que é objectivo, uma adesão convicta e ministerial ao rito, a ser entendido não como aspecto coercitivo da expressividade mas, pelo contrário, como uma condição indispensável para uma expressividade autêntica e verdadeiramente comunicativa do mistério de Cristo, celebrado na Igreja.
Mons. Guido Marini
Mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias
DEPARTAMENTO PARA AS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS DO SUMO PONTÍFICEA LINGUAGEM DA CELEBRAÇÃO LITÚRGICAPublicamos amplos excertos do relatório sobre «A linguagem da celebração litúrgica », que o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias apresentou no dia 24 de Fevereiro passado, na abertura do curso sobre «Ars celebrandi», na sede da Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma.Não é possível começar um curso sobre a ars celebrandi, abordando a temática da linguagem da celebração litúrgica, sem evocar no pensamento a famosa citação da exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum caritatis, de Bento XVI: «Igualmente importante para uma correcta ars celebrandi, arte da celebração, é a atenção a todas as formas de linguagem previstas pela liturgia: palavra e canto, gestos e silêncios, movimento do corpo, cores litúrgicas dos paramentos.Com efeito, a liturgia, por sua natureza, possui uma tal variedade de níveis de comunicação que lhe permitem cativar o ser humano na sua totalidade. A simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais, situados na ordem e nos momentos previstos, comunicam e aliciam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. A atenção e a obediência à estrutura própria do rito, ao mesmo tempo que exprimem a consciência do carácter de dom da Eucaristia, manifestam a vontade que o ministro tem de acolher, com dócil gratidão, esse dom inefável» (n. 40).Há alguns anos, precisamente em 2009, foi publicada uma colectânea de contribuições sobre a liturgia, da autoria do cardeal Joseph Ratzinger, intitulada: Diante do protagonista. Nas raízes da liturgia. Trata-se simplesmente de um título, não há dúvida. E no entanto, é particularmente indicativo daquilo que encontramos nas raízes da temática relativa à liturgia. Nessas raízes encontramos Jesus Cristo, o Protagonista, o verdadeiro e mais importante Protagonista da liturgia.Com efeito, através da liturgia, o Senhor dá continuidade no seio da sua Igreja à obra da nossa redenção (cf. Sacramentum caritatis, 2). Aquilo que teve lugar na história, ou seja, o mistério pascal, o mistério da nossa salvação, torna-se hoje presente na celebração litúrgica da Igreja. De tal maneira, o Salvador não é uma recordação do tempo passado, mas constitui o Vivente, que dá continuidade à sua obra salvífica no seio da Igreja, comunicando a sua vida, que é graça, que é antecipação de eternidade. Na própria celebração eucarística, a assembleia congregada responde ao «Mistério da fé», sucessivo à consagração, com as palavras deveras significativas: «Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, enquanto esperamos a vossa vinda». Nesta formulação da liturgia romana voltamos a encontrar descritos os três momentos que são próprios de cada celebração sacramental: ou seja, a memória do acontecimento salvífico que teve lugar no passado, a presente acção de graças no contexto da celebração e a antecipação da glória vindoura. Desta forma a Igreja, convocada para a celebração litúrgica, renova sempre de novo a experiência da verdade da seguinte afirmação paulina: «Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade» (Hb 13, 9). Aquele Jesus que ontem, num momento histórico específico, viveu o mistério da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, é o mesmo Jesus de quem hoje, no tempo que passa, se renova sacramentalmente o mistério da salvação, de tal modo que todos possam ter acesso a ele. E é sempre o mesmo Jesus que a Igreja espera voltar na glória, mas prelibando desde já, como antecipação, a alegria da sua presença e da sua obra.A presença misteriosa e real de Cristo na liturgia e o seu ser protagonista no rito celebrado exige da linguagem litúrgica o esplendor da nobre simplicidade, segundo a célebre afirmação do Concílio Vaticano II (cf. Sacrosanctum concilium, 34). Falei sobre o «esplendor da nobre simplicidade», porque esta é a expressão completa utilizada pelos Padres conciliares. Nela é-nos concedido encontrar a relação intrínseca entre beleza, nobreza e simplicidade.Como sempre, cada indicação magisterial deve ser lida e compreendida no contexto mais amplo do tema de que se trata, e em relação de desenvolvimento harmonioso com a totalidade do ensinamento da Igreja. Desta maneira, vê-se claramente como estão distantes da verdade aquelas insistências acentuadas em evocar uma determinada simplicidade que, por vezes, induziram a tornar o rito litúrgico aproximativo, banal, maçador e até insignificante. Trata-se de um modo de entender a simplicidade não fundamentado no ensinamento da Igreja e na sua grandiosa tradição litúrgica. Para não dizer que, em algumas ocasiões, tal modo de considerar a nobre simplicidade se traduz naquela que poderíamos definir uma nova complexidade pouco nobre. Não se trata, porventura, precisamente disto, quando a liturgia se torna teatro de ideias subjectivas e extemporâneas, com a inserção de símbolos desprovidos de um significado autêntico, ou tão complicados a ponto de terem que ser decifrados mediante longas explicações?Voltemos à nobre simplicidade autêntica, ouvindo o Papa Bento XVI que, na exortação apostólica pós-sinodal sobre a Eucaristia, Sacramentum caritatis, diz: «A relação entre mistério acreditado e mistério celebrado manifesta-se, de modo peculiar, no valor teológico e litúrgico da beleza. De facto, a liturgia, como aliás a revelação cristã, tem uma ligação intrínseca com a beleza: é esplendor da verdade, veritatis splendor (...) Referimo-nos aqui a este atributo da beleza, vista não como mero esteticismo, mas como modalidade com que a verdade do amor de Deus em Cristo nos alcança, fascina e arrebata, fazendo-nos sair de nós mesmos e atraindo-nos assim para a nossa verdadeira vocação: o amor (...) A verdadeira beleza é o amor de Deus que nos foi revelado definitivamente no mistério pascal. A beleza da liturgia pertence a este mistério; é expressão excelsa da glória de Deus e, de certa forma, constitui o céu que desce à terra (...) Concluindo, a beleza não é um factor decorativo da acção litúrgica, mas seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da sua revelação. Tudo isto nos há-de tornar conscientes da atenção que se deve prestar à acção litúrgica, a fim de que brilhe segundo a sua própria natureza» (n. 35).Como sempre, as palavras do Papa têm o grande dom da clareza. Daqui segue-se que na celebração litúrgica não é admissível qualquer forma de minimalismo e de pauperismo. E isto, sem dúvida, não para fazer espectáculo ou em vista de um esteticismo vazio. Nas diversificadas formas antigas e modernas em que encontra expressão, o belo constitui a modalidade própria em virtude da qual nas nossas liturgias resplandece, ainda que de maneira sempre pálida, o mistério da beleza do amor de Deus. Eis por que motivo nunca se fará o suficiente para tornar os nossos ritos simples, enquanto claros no seu desenvolvimento, nobres e bonitos. É quanto nos ensina a Igreja, que na sua longa história jamais teve receio de «dissipar» para circundar a celebração litúrgica com as expressões mais elevadas da arte: da arquitectura à escultura, à música e às alfaias sagradas. É quanto nos ensinam os santos que, não obstante a sua pobreza pessoal e a sua caridade heróica, sempre desejaram que ao culto se destinasse quanto há de melhor.Ouçamos novamente Bento XVI, que diz: «As nossas liturgias da terra, inteiramente dedicadas a celebrar este gesto único da história, nunca conseguirão expressar totalmente a sua densidade infinita. Sem dúvida, a beleza dos ritos jamais será bastante requintada, suficientemente cuidada nem muito elaborada, porque nada é demasiado belo para Deus, que é a Beleza infinita. As nossas liturgias terrenas não poderão ser senão um pálido reflexo da liturgia que se celebra na Jerusalém do céu, ponto de chegada da nossa peregrinação na terra. Possam, porém, as nossas celebrações aproximar-se o mais possível dela, permitindo-nos antegozá-la! » (Homilia durante a celebração das Vésperas na Catedral de Notre Dame, Paris, 12 de Setembro de 2008). «A beleza intrínseca da liturgia tem, como sujeito próprio, Cristo ressuscitado e glorificado no Espírito Santo, que inclui a Igreja no seu agir» (Sacramentum caritatis, 36). É Bento XVI que, com estas palavras, nos recorda de novo que a liturgia é obra do Cristo total e, por conseguinte, também da Igreja. Da afirmação que a liturgia é obra da Igreja derivam algumas considerações de não pouca importância para aquela essência da liturgia que aqui estou a explicar. Com efeito, quando se diz que a Igreja constitui um sujeito que age, faz-se referência à Igreja inteira, enquanto sujeito vivo que atravessa o tempo, que se realiza na comunhão hierárquica, que é uma realidade que ainda peregrina sobre a terra e, ao mesmo tempo, uma realidade que já chegou às margens da Jerusalém celeste.No mês de Agosto de 2006, em Castel Gandolfo, respondendo à pergunta de um sacerdote durante um encontro com o clero da diocese de Albano, o Papa Bento XVI assim se expressava, em conformidade com o estilo discursivo típico de uma conversa: «A Liturgia cresceu em dois milénios e também depois da reforma não se tornou algo elaborado apenas por alguns liturgistas. Ela permanece sempre continuação deste crescimento permanente da adoração e do anúncio. Assim, é muito importante, para nos podermos sintonizar bem, compreender esta estrutura que cresceu no tempo e entrar com a nossa mens na vox da Igreja. Na medida em que interiorizamos e compreendemos esta estrutura e assimilamos as palavras da Liturgia, podemos entrar nesta consonância interior e assim não só falar com Deus como pessoas individualmente, mas entrar no “nós” da Igreja que reza. Desta forma transformamos também o nosso “eu” entrando no “nós” da Igreja, enriquecendo e alargando este “eu”, rezando com a Igreja, com as palavras da Igreja, estando realmente em diálogo com Deus». Entrar no «nós» da Igreja que reza. Este «nós» fala-nos acerca de uma realidade, nomeadamente da Igreja, que vai mais além dos ministros ordenados individualmente e de cada um dos fiéis, de cada comunidade e dos grupos singularmente, porque ali a Igreja se manifesta e se torna presente na medida em que se vive a comunhão com a Igreja inteira, aquela Igreja que é católica, universal, dotada de uma universalidade que alcança todos os tempos, todos os lugares, ultrapassando o limiar do tempo para se deixar alcançar pela própria eternidade.Por conseguinte, da essência da liturgia faz parte o facto de que ela contém em si antes de tudo a característica da catolicidade, onde unidade e variedade se compõem em harmonia, a ponto de formarem uma realidade substancialmente unitária, não obstante a legítima diversidade das várias formas. E além disso, a característica da não-arbitrariedade, que evita confiar à subjectividade do indivíduo ou do grupo aquilo que, ao contrário, pertence a todos como um tesouro recebido, que deve ser conservado e transmitido. E ainda a característica da continuidade histórica, em virtude da qual o desenvolvimento desejável se parece com o de um organismo vivo que não renega o próprio passado, atravessando o presente e orientando-se para o futuro.E, enfim, a característica da participação na liturgia celestial, para a qual é mais apropriada do que nunca falar da liturgia da Igreja como do espaço humano e espiritual em que o céu se debruça sobre a terra. Pensemos, apenas de maneira exemplificativa, nas palavras da Prece eucarística I, em que pedimos: «Fazei com que esta oferenda [pelas mãos do vosso santo anjo] seja levada ao altar do Céu». Quanto dissemos até agora, a propósito da liturgia como gesto da Igreja, não seria suficiente se não se acrescentasse o tema da participação. Com efeito, é precisamente a liturgia, entendida como obra da Igreja, que exige uma participação consciente, concreta e frutuosa (cf. Sacrosanctum concilium, 11). Cada consideração a este propósito corre o risco de ser insensata e ambígua, se o ponto de partida não for a obra de Cristo e da Igreja. É precisamente este gesto que deve ser participado de maneira consciente, concreto e frutuoso. E isto só é possível, se se realizar uma autêntica comunhão de fé com o agir da Igreja e o agir de Cristo.Mas em que consiste o agir da Igreja? É o agir da Esposa, que tende a tornar-se uma única realidade com Cristo Esposo e com o seu agir. E qual é o agir de Cristo? A sua oferenda de amor ao Pai, pela nossa salvação. Por conseguinte, a participação consciente, concreta e frutuosa, na liturgia, verifica-se na medida em que cada um e todos compartilham o agir da Igreja, que tende ao Esposo e, portanto, deixemo-nos envolver pela obra do Esposo, que é sacrifício de amor ao Pai pela salvação do mundo.Agora, o tema da participação oferece a oportunidade de ampliar aquilo que já dissemos a propósito do agir de Cristo no contexto da liturgia. Façamo-lo, deixando-nos conduzir pela mão por uma argumentação fundamental do teólogo Joseph Ratzinger: «Com o termo “actio”, referido à liturgia, entende-se nas fontes o cânone eucarístico. O verdadeiro agir litúrgico, o autêntico gesto litúrgico, é a oratio: a grande oração, que constitui o núcleo da celebração litúrgica e que, precisamente por este motivo, no seu conjunto, foi denominada pelos Padres com o termo oratio . Esta definição já era correcta a partir da própria forma litúrgica, porque na oratio se desenvolve aquilo que é essencial para a Liturgia cristã (...) Esta oratio — a solene prece eucarística, “o cânone” — (...) é actio no sentido mais excelso de tal termo. Com efeito, nela verifica-se que a actio humana (...) passa em segundo plano, deixando espaço à actio divina, ou seja, ao agir de Deus» (Introdução ao espírito da Liturgia, págs. 167-168).Por conseguinte, na oratio realiza-se aquilo que é essencial para a liturgia cristã. Interroguemo-nos: «Em que consiste este essencial que se verifica? ». Respondamos, seguindo o texto de Ratzinger: «O agir de Deus». E tudo isto é quanto a Igreja, Esposa de Cristo, vive na celebração da liturgia. Com efeito, aquilo que continua a ser essencial para a liturgia é que quantos nela participam rezem para compartilhar o mesmo sacrifício do Senhor, o seu gesto de adoração, tornando-se um só com Ele, verdadeiro corpo de Cristo.Noutras palavras, o que é essencial é que no final seja superada a diferença entre o agir de Cristo e o nosso próprio agir, que haja uma progressiva harmonização entre a sua vida e a nossa vida, entre o seu sacrifício de adoração e o nosso, de tal maneira que existe um único agir, seu e ao mesmo tempo nosso. Aquilo que são Paulo afirma não pode deixar de ser a indicação do que é essencial alcançar, em virtude da celebração litúrgica: «Fui crucificado com Cristo; já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim» (Gl 2, 19-20). Como conclusão, considero importante ressaltar aquela que me parece ser uma grave urgência da nossa época, ou seja, a necessidade da formação para a liturgia e a sua linguagem, a todos os níveis. Como bem sabemos, nada mais é possível dar por certo. Num tal processo formativo, considero que existem quatro prioridades. Antes de tudo, é necessário fazer aprofundar e assimilar os temas-chave da teologia da liturgia, como fundamento da prática celebrativa.Em segundo lugar, é importante ajudar a compreender a linguagem litúrgica, enquanto arraigada numa tradição secular, sujeita ao discernimento eclesial, sempre numa lógica de desenvolvimento harmonioso que saiba valorizar tanto o antigo como o novo. Além disso, é fundamental introduzir no sentido autêntico da celebração que, enquanto culto espiritual, deve plasmar a vida em todos os seus aspectos, oferecendo uma nova linguagem — a de Cristo — à quotidianidade. Enfim, é indispensável suscitar um renovado amor por aquilo que é objectivo, uma adesão convicta e ministerial ao rito, a ser entendido não como aspecto coercitivo da expressividade mas, pelo contrário, como uma condição indispensável para uma expressividade autêntica e verdadeiramente comunicativa do mistério de Cristo, celebrado na Igreja.Mons. Guido Marini
Mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias
Paschalis Sollemnitatis: A Preparação e Celebração das Festas Pascais
Fonte: http://www.presbiteros.com.br/
CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO
CARTA CIRCULAR
« PASCHALIS SOLLEMNITATIS »
A PREPARAÇÃO E CELEBRAÇÃO
DAS FESTAS PASCAIS
16 de janeiro de 1988
CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO
CARTA CIRCULAR
« PASCHALIS SOLLEMNITATIS »
A PREPARAÇÃO E CELEBRAÇÃO
DAS FESTAS PASCAIS
16 de janeiro de 1988
CARTA CIRCULAR
« PASCHALIS SOLLEMNITATIS »
A PREPARAÇÃO E CELEBRAÇÃO
DAS FESTAS PASCAIS
16 de janeiro de 1988
PROÊMIO
1. O Ordo da solenidade pascal e de toda a Semana Santa, renovado pela primeira vez por Pio XII, em 1951 e 1955, em geral foi acolhido favoravelmente por todas as Igrejas de rito romano.[1]
O Concílio Vaticano II, principalmente na Constituição sobre a sagrada Liturgia, pôs em evidência muitas vezes, segundo a tradição, a centralidade do mistério pascal de Cristo, recordando como dele deriva a força de todos os sacramentos e dos sacramentais.[2]
2. Assim como a semana tem o seu início e o seu ponto culminante na celebração do domingo, marcado pela característica pascal, assim também o ápice de todo o ano litúrgico resplandece na celebração do sagrado tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor[3], preparada na Quaresma e estendida com júbilo por todo o ciclo dos cinqüenta dias sucessivos.
3. Em muitas partes do mundo os fiéis, juntamente com os seus pastores, têm em grande consideração estes ritos, nos quais participam com verdadeiro fruto espiritual. Ao contrário, em algumas regiões, com o passar do tempo, começou a esmorecer aquele fervor de devoção, com que foi acolhida, no início, a renovada vigília pascal. Em alguns lugares foi ignorada a noção mesma da vigília, a ponto de ser considerada como uma simples missa vespertina, celebrada como as missas do domingo antecipadas para as vésperas do sábado.
Noutros lugares não são respeitados, de modo devido, os tempos do tríduo sagrado. Além disso, as devoções e os pios exercícios do povo cristão são colocados freqüentemente em horários mais cômodos, tanto que os fiéis neles participam em maior número do que nas celebrações litúrgicas.
Sem dúvida, tais dificuldades provêm sobretudo de uma formação não ainda suficiente, do clero e dos fiéis, acerca do mistério pascal, como centro do ano litúrgico e da vida cristã.[4]
4. Hoje, em várias regiões o tempo das férias coincide com o período da Semana Santa. Esta coincidência, unida às dificuldades próprias da sociedade contemporânea, constitui um obstáculo à participação dos fiéis nas celebrações pascais.
5. Tendo isto em consideração, pareceu oportuno a este dicastério, levando em conta a experiência adquirida, recordar alguns pontos doutrinais e pastorais e também diversas normas estabelecidas a respeito da Semana Santa. Por outro lado, tudo o que nos livros se refere ao tempo da Quaresma, da Semana Santa, do tríduo pascal e do tempo da Páscoa, conserva o seu valor, a não ser que neste documento seja interpretado de maneira diversa. As normas mencionadas são agora aqui de novo propostas com vigor, com a finalidade de fazer celebrar do melhor modo os grandes mistérios da nossa salvação e para facilitar a frutuosa participação de todos os fiéis.[5]
1. O Ordo da solenidade pascal e de toda a Semana Santa, renovado pela primeira vez por Pio XII, em 1951 e 1955, em geral foi acolhido favoravelmente por todas as Igrejas de rito romano.[1]
O Concílio Vaticano II, principalmente na Constituição sobre a sagrada Liturgia, pôs em evidência muitas vezes, segundo a tradição, a centralidade do mistério pascal de Cristo, recordando como dele deriva a força de todos os sacramentos e dos sacramentais.[2]
2. Assim como a semana tem o seu início e o seu ponto culminante na celebração do domingo, marcado pela característica pascal, assim também o ápice de todo o ano litúrgico resplandece na celebração do sagrado tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor[3], preparada na Quaresma e estendida com júbilo por todo o ciclo dos cinqüenta dias sucessivos.
3. Em muitas partes do mundo os fiéis, juntamente com os seus pastores, têm em grande consideração estes ritos, nos quais participam com verdadeiro fruto espiritual. Ao contrário, em algumas regiões, com o passar do tempo, começou a esmorecer aquele fervor de devoção, com que foi acolhida, no início, a renovada vigília pascal. Em alguns lugares foi ignorada a noção mesma da vigília, a ponto de ser considerada como uma simples missa vespertina, celebrada como as missas do domingo antecipadas para as vésperas do sábado.
Noutros lugares não são respeitados, de modo devido, os tempos do tríduo sagrado. Além disso, as devoções e os pios exercícios do povo cristão são colocados freqüentemente em horários mais cômodos, tanto que os fiéis neles participam em maior número do que nas celebrações litúrgicas.
Sem dúvida, tais dificuldades provêm sobretudo de uma formação não ainda suficiente, do clero e dos fiéis, acerca do mistério pascal, como centro do ano litúrgico e da vida cristã.[4]
4. Hoje, em várias regiões o tempo das férias coincide com o período da Semana Santa. Esta coincidência, unida às dificuldades próprias da sociedade contemporânea, constitui um obstáculo à participação dos fiéis nas celebrações pascais.
5. Tendo isto em consideração, pareceu oportuno a este dicastério, levando em conta a experiência adquirida, recordar alguns pontos doutrinais e pastorais e também diversas normas estabelecidas a respeito da Semana Santa. Por outro lado, tudo o que nos livros se refere ao tempo da Quaresma, da Semana Santa, do tríduo pascal e do tempo da Páscoa, conserva o seu valor, a não ser que neste documento seja interpretado de maneira diversa. As normas mencionadas são agora aqui de novo propostas com vigor, com a finalidade de fazer celebrar do melhor modo os grandes mistérios da nossa salvação e para facilitar a frutuosa participação de todos os fiéis.[5]
I. O TEMPO DA QUARESMA
6. “O anual caminho de penitência da Quaresma é o tempo de graça, durante o qual se sobe ao monte santo da Páscoa. Com efeito, a Quaresma, pela sua dúplice característica, reúne catecúmenos e fiéis na celebração do mistério pascal. Os catecúmenos, quer por meio da ‘eleição’ e dos ‘escrutínios’ quer mediante a catequese, são admitidos aos sacramentos da iniciação cristã; os fiéis, ao contrário, por meio da escuta mais freqüente da Palavra de Deus e de uma oração mais intensa são preparados, com a Penitência, para renovar as promessas do Batismo”.[6]
a) Quaresma e iniciação cristã
7. Toda a iniciação cristã tem uma índole pascal, sendo a primeira participação sacramental na morte e ressurreição de Cristo. Por esta razão, a Quaresma deve alcançar o seu pleno vigor como tempo de purificação e de iluminação, especialmente mediante os “escrutínios” e as “entregas” (o símbolo da fé e a oração do Senhor); a própria vigília pascal deve ser considerada como o tempo mais adaptado para celebrar os sacramentos da iniciação.[7]
8. Também as comunidades eclesiais, que não têm catecúmenos, não deixem de orar por aqueles que noutros lugares, na próxima vigília pascal, receberão os sacramentos da iniciação cristã. Os pastores, por sua vez, expliquem aos fiéis a importância da profissão de fé batismal, em ordem ao crescimento da sua vida espiritual. Estes serão convidados a renovar tal profissão de fé, “no final do caminho penitencial da Quaresma”.[8]
9. Na Quaresma, cuide-se de ministrar a catequese aos adultos que, batizados quando crianças, não a receberam e, portanto, não foram admitidos aos sacramentos da Confirmação e da Eucaristia. Neste mesmo período sejam realizai. das as celebrações penitenciais, a fim de os preparar para o sacramento da Reconciliação.[9]
10. O tempo da Quaresma é, além disso, o tempo próprio para celebrar os ritos penitenciais correspondentes aos escrutínios para as crianças ainda não batizadas, que atingiram a idade adequada à instrução catequética, e para as crianças há tempo batizadas, antes de serem admitidas pela primeira vez ao sacramento da Penitência.[10]
O bispo promova a formação dos catecúmenos tanto adultos como crianças e, segundo as circunstâncias, presida aos ritos prescritos, com a participação assídua por parte da comunidade local.[11]
b) As celebrações do tempo quaresmal
11. Os domingos da Quaresma têm sempre a precedência também nas festas do Senhor e em todas as solenidades. As solenidades, que coincidem com estes domingos, são antecipadas para o sábado.[12] Por sua vez, os dias feriais da Quaresma têm a precedência nas memórias obrigatórias.[13]
12. Sobretudo nas homilias do domingo seja ministrada a instrução catequética sobre o mistério pascal e sobre os sacramentos, com explicação mais cuidadosa dos textos do Lecionário, sobretudo as perícopes do Evangelho, que ilustram os vários aspectos do Batismo e dos outros sacramentos e também a misericórdia de Deus.
13. Os pastores expliquem a Palavra de Deus de modo mais freqüente e mais amplo nas homilias dos dias feriais, nas celebrações da Palavra, nas celebrações penitenciais[14], em particulares pregações, durante a visita às famílias ou a grupos de famílias para a bênção. Os fiéis participem com freqüência nas missas feriais e, quando não for possível, sejam convidados a ler pelo menos os textos das leituras correspondentes, em família ou em particular.
14. “O tempo da Quaresma conserva a sua índole penitencial”.[15] Na catequese aos fiéis seja inculcada, juntamente com as conseqüências sociais do pecado, a natureza genuína da penitência, com a qual se detesta o pecado enquanto ofensa a Deus.[16]
A virtude e a prática da penitência permanecem partes necessárias da preparação pascal: da conversão do coração deve brotar a prática externa da penitência, quer para os cristãos individualmente quer para a comunidade inteira; prática penitencial que, embora adaptada às circunstâncias e condições próprias do nosso tempo, deve porém estar sempre impregnada do espírito evangélico de penitência e orientada para o bem dos irmãos.
Não se esqueça a parte da Igreja na ação penitencial e seja solicitada a oração pelos pecadores, inserindo-a com mais freqüência na oração universal.[17]
15. Recomende-se aos fiéis mais intensa e frutuosa participação na liturgia quaresmal e nas celebrações penitenciais. Seja-lhes recomendada sobretudo a freqüência, neste tempo, ao sacramento da Penitência, segundo a lei e as tradições da Igreja, para poderem participar nos mistérios pascais com espírito purificado. É muito oportuno no tempo da Quaresma celebrar o sacramento da Penitência segundo o rito para a reconciliação de mais penitentes, com a confissão e absolvição individual, como vem descrito no Ritual Romano.[18]
Por sua vez, os pastores estejam mais disponíveis para o ministério da Reconciliação e, ampliando os horários para a confissão individual, facilitem o acesso a este sacramento.
16. O caminho de penitência quaresmal em todos os seus aspectos seja orientado para pôr em mais evidência a vida da Igreja local, e para lhe favorecer o progresso. Por isto se recomenda muito conservar e favorecer a forma tradicional de assembléia da Igreja local, segundo o modelo das “estações” romanas. Estas assembléias de fiéis poderão reunir-se, especialmente sob a presidência do pastor da diocese, junto dos túmulos dos santos ou nas principais igrejas e santuários da cidade, ou nos lugares de peregrinação mais freqüentados na diocese.[19]
17. “Na Quaresma não se colocam flores no altar e o som dos instrumentos é permitido só para sustentar o canto”[20], no respeito da índole penitencial deste tempo.
18. De igual modo, omite-se o Aleluia em todas as celebrações, desde o início da Quaresma até a Vigília pascal, também nas solenidades e nas festas.[21]
19. Sobretudo nas celebrações eucarísticas, mas também nos pios exercícios, sejam escolhidos cânticos adaptados a este tempo e correspondentes, o mais possível, aos textos litúrgicos.
20. Sejam favorecidos e impregnados de espírito litúrgico os pios exercícios de acordo com o tempo quaresmal, como a Via-sacra, para com mais facilidade conduzir os ânimos dos fiéis à celebração do mistério pascal de Cristo.
c) Particularidades de alguns dias da Quaresma
21. Na quarta-feira antes do primeiro domingo da Quaresma os fiéis, recebendo as cinzas, entram no tempo destinado à purificação da alma. Com este rito penitencial, surgido da tradição bíblica e conservado na práxis eclesial até os nossos dias, é indicada a condição do homem pecador, que exteriormente confessa a sua culpa diante de Deus e exprime assim a vontade de conversão interior, na esperança que o Senhor seja misericordioso para com ele. Por meio deste mesmo sinal inicia o caminho de conversão, que alcançará a sua meta na celebração do sacramento da Penitência nos dias antes da Páscoa.[22] A bênção e imposição das cinzas são realizadas durante a missa ou também fora da missa. Nesse caso, permite-se a liturgia da Palavra, concluída com a oração dos fiéis.[23]
22. A Quarta-feira de Cinzas é dia obrigatório de penitência na Igreja toda, com a observância da abstinência e do jejum.[24]
23. O I domingo da Quaresma assinala o início do sinal sacramental da nossa conversão, tempo favorável para a nossa salvação.[25] Na missa deste domingo não faltem os elementos que sublinham tal importância; por exemplo, a procissão de entrada, com a ladainha dos santos.[26] Durante a missa do I domingo da Quaresma, o bispo celebre oportunamente na igreja catedral, ou noutra igreja, o rito da eleição ou da inscrição do nome, segundo as necessidades pastorais.[27]
24. Os Evangelhos da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro, assinalados respectivamente para os domingos III, IV e V da Quaresma no ano A, pela sua grande importância em ordem à iniciação cristã, podem ser lidos também nos anos B e C, sobretudo onde há catecúmenos.[28]
25. No IV domingo da Quaresma (“Laetare”) e nas solenidades e festas permite-se o som dos instrumentos, e o altar pode ser ornado com flores. E neste domingo podem ser usados os paramentos de cor rósea.[29]
26. O uso de cobrir as cruzes e as imagens na igreja, desde o V domingo da Quaresma, pode ser conservado segundo a disposição da Conferência Episcopal. As cruzes permanecem cobertas até ao término da celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa; as imagens até ao início da Vigília. pascal.[30]
6. “O anual caminho de penitência da Quaresma é o tempo de graça, durante o qual se sobe ao monte santo da Páscoa. Com efeito, a Quaresma, pela sua dúplice característica, reúne catecúmenos e fiéis na celebração do mistério pascal. Os catecúmenos, quer por meio da ‘eleição’ e dos ‘escrutínios’ quer mediante a catequese, são admitidos aos sacramentos da iniciação cristã; os fiéis, ao contrário, por meio da escuta mais freqüente da Palavra de Deus e de uma oração mais intensa são preparados, com a Penitência, para renovar as promessas do Batismo”.[6]
a) Quaresma e iniciação cristã
7. Toda a iniciação cristã tem uma índole pascal, sendo a primeira participação sacramental na morte e ressurreição de Cristo. Por esta razão, a Quaresma deve alcançar o seu pleno vigor como tempo de purificação e de iluminação, especialmente mediante os “escrutínios” e as “entregas” (o símbolo da fé e a oração do Senhor); a própria vigília pascal deve ser considerada como o tempo mais adaptado para celebrar os sacramentos da iniciação.[7]
8. Também as comunidades eclesiais, que não têm catecúmenos, não deixem de orar por aqueles que noutros lugares, na próxima vigília pascal, receberão os sacramentos da iniciação cristã. Os pastores, por sua vez, expliquem aos fiéis a importância da profissão de fé batismal, em ordem ao crescimento da sua vida espiritual. Estes serão convidados a renovar tal profissão de fé, “no final do caminho penitencial da Quaresma”.[8]
9. Na Quaresma, cuide-se de ministrar a catequese aos adultos que, batizados quando crianças, não a receberam e, portanto, não foram admitidos aos sacramentos da Confirmação e da Eucaristia. Neste mesmo período sejam realizai. das as celebrações penitenciais, a fim de os preparar para o sacramento da Reconciliação.[9]
10. O tempo da Quaresma é, além disso, o tempo próprio para celebrar os ritos penitenciais correspondentes aos escrutínios para as crianças ainda não batizadas, que atingiram a idade adequada à instrução catequética, e para as crianças há tempo batizadas, antes de serem admitidas pela primeira vez ao sacramento da Penitência.[10]
O bispo promova a formação dos catecúmenos tanto adultos como crianças e, segundo as circunstâncias, presida aos ritos prescritos, com a participação assídua por parte da comunidade local.[11]
b) As celebrações do tempo quaresmal
11. Os domingos da Quaresma têm sempre a precedência também nas festas do Senhor e em todas as solenidades. As solenidades, que coincidem com estes domingos, são antecipadas para o sábado.[12] Por sua vez, os dias feriais da Quaresma têm a precedência nas memórias obrigatórias.[13]
12. Sobretudo nas homilias do domingo seja ministrada a instrução catequética sobre o mistério pascal e sobre os sacramentos, com explicação mais cuidadosa dos textos do Lecionário, sobretudo as perícopes do Evangelho, que ilustram os vários aspectos do Batismo e dos outros sacramentos e também a misericórdia de Deus.
13. Os pastores expliquem a Palavra de Deus de modo mais freqüente e mais amplo nas homilias dos dias feriais, nas celebrações da Palavra, nas celebrações penitenciais[14], em particulares pregações, durante a visita às famílias ou a grupos de famílias para a bênção. Os fiéis participem com freqüência nas missas feriais e, quando não for possível, sejam convidados a ler pelo menos os textos das leituras correspondentes, em família ou em particular.
14. “O tempo da Quaresma conserva a sua índole penitencial”.[15] Na catequese aos fiéis seja inculcada, juntamente com as conseqüências sociais do pecado, a natureza genuína da penitência, com a qual se detesta o pecado enquanto ofensa a Deus.[16]
A virtude e a prática da penitência permanecem partes necessárias da preparação pascal: da conversão do coração deve brotar a prática externa da penitência, quer para os cristãos individualmente quer para a comunidade inteira; prática penitencial que, embora adaptada às circunstâncias e condições próprias do nosso tempo, deve porém estar sempre impregnada do espírito evangélico de penitência e orientada para o bem dos irmãos.
Não se esqueça a parte da Igreja na ação penitencial e seja solicitada a oração pelos pecadores, inserindo-a com mais freqüência na oração universal.[17]
15. Recomende-se aos fiéis mais intensa e frutuosa participação na liturgia quaresmal e nas celebrações penitenciais. Seja-lhes recomendada sobretudo a freqüência, neste tempo, ao sacramento da Penitência, segundo a lei e as tradições da Igreja, para poderem participar nos mistérios pascais com espírito purificado. É muito oportuno no tempo da Quaresma celebrar o sacramento da Penitência segundo o rito para a reconciliação de mais penitentes, com a confissão e absolvição individual, como vem descrito no Ritual Romano.[18]
Por sua vez, os pastores estejam mais disponíveis para o ministério da Reconciliação e, ampliando os horários para a confissão individual, facilitem o acesso a este sacramento.
16. O caminho de penitência quaresmal em todos os seus aspectos seja orientado para pôr em mais evidência a vida da Igreja local, e para lhe favorecer o progresso. Por isto se recomenda muito conservar e favorecer a forma tradicional de assembléia da Igreja local, segundo o modelo das “estações” romanas. Estas assembléias de fiéis poderão reunir-se, especialmente sob a presidência do pastor da diocese, junto dos túmulos dos santos ou nas principais igrejas e santuários da cidade, ou nos lugares de peregrinação mais freqüentados na diocese.[19]
17. “Na Quaresma não se colocam flores no altar e o som dos instrumentos é permitido só para sustentar o canto”[20], no respeito da índole penitencial deste tempo.
18. De igual modo, omite-se o Aleluia em todas as celebrações, desde o início da Quaresma até a Vigília pascal, também nas solenidades e nas festas.[21]
19. Sobretudo nas celebrações eucarísticas, mas também nos pios exercícios, sejam escolhidos cânticos adaptados a este tempo e correspondentes, o mais possível, aos textos litúrgicos.
20. Sejam favorecidos e impregnados de espírito litúrgico os pios exercícios de acordo com o tempo quaresmal, como a Via-sacra, para com mais facilidade conduzir os ânimos dos fiéis à celebração do mistério pascal de Cristo.
c) Particularidades de alguns dias da Quaresma
21. Na quarta-feira antes do primeiro domingo da Quaresma os fiéis, recebendo as cinzas, entram no tempo destinado à purificação da alma. Com este rito penitencial, surgido da tradição bíblica e conservado na práxis eclesial até os nossos dias, é indicada a condição do homem pecador, que exteriormente confessa a sua culpa diante de Deus e exprime assim a vontade de conversão interior, na esperança que o Senhor seja misericordioso para com ele. Por meio deste mesmo sinal inicia o caminho de conversão, que alcançará a sua meta na celebração do sacramento da Penitência nos dias antes da Páscoa.[22] A bênção e imposição das cinzas são realizadas durante a missa ou também fora da missa. Nesse caso, permite-se a liturgia da Palavra, concluída com a oração dos fiéis.[23]
22. A Quarta-feira de Cinzas é dia obrigatório de penitência na Igreja toda, com a observância da abstinência e do jejum.[24]
23. O I domingo da Quaresma assinala o início do sinal sacramental da nossa conversão, tempo favorável para a nossa salvação.[25] Na missa deste domingo não faltem os elementos que sublinham tal importância; por exemplo, a procissão de entrada, com a ladainha dos santos.[26] Durante a missa do I domingo da Quaresma, o bispo celebre oportunamente na igreja catedral, ou noutra igreja, o rito da eleição ou da inscrição do nome, segundo as necessidades pastorais.[27]
24. Os Evangelhos da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro, assinalados respectivamente para os domingos III, IV e V da Quaresma no ano A, pela sua grande importância em ordem à iniciação cristã, podem ser lidos também nos anos B e C, sobretudo onde há catecúmenos.[28]
25. No IV domingo da Quaresma (“Laetare”) e nas solenidades e festas permite-se o som dos instrumentos, e o altar pode ser ornado com flores. E neste domingo podem ser usados os paramentos de cor rósea.[29]
26. O uso de cobrir as cruzes e as imagens na igreja, desde o V domingo da Quaresma, pode ser conservado segundo a disposição da Conferência Episcopal. As cruzes permanecem cobertas até ao término da celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa; as imagens até ao início da Vigília. pascal.[30]
II. A SEMANA SANTA
27. Na Semana Santa a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias da sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. O tempo quaresmal continua até à Quinta-feira Santa. A partir da missa vespertina “in Cena Domini” inicia-se o tríduo pascal, que abrange a Sexta-feira Santa “da paixão do Senhor” e o Sábado Santo, e tem o seu centro na vigília pascal, concluindo-se com as vésperas do domingo da ressurreição. “Os dias feriais da Semana Santa, de segunda-feira a quinta-feria inclusive, têm a precedência sobre todas as outras celebrações”.[31] É oportuno que nestes dias não se celebre nem o Batismo nem a Confirmação.
a) Domingo de Ramos
28. A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos da paixão do Senhor, que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão. Na celebração e na catequese deste dia sejam postos em evidência estes dois aspectos do mistério pascal.[32]
29, Desde a antigüidade se comemora a entrada do Senhor em Jerusalém com a procissão solene, com a qual os cristãos celebram este evento, imitando as aclamações e os gestos das crianças hebréias, que foram ao encontro do Senhor com o canto do Hosana.[33]
A procissão seja uma só e feita sempre antes da missa com maior concurso de povo, também nas horas vespertinas, tanto do sábado como do domingo. Para realizá-la os fiéis reúnem-se numa igreja menor ou noutro lugar adaptado, fora da igreja para a qual a procissão se dirige. Os fiéis participam nesta procissão levando ramos de oliveira ou de outras árvores.
A bênção das palmeiras ou dos ramos é feita para os levar em procissão.
Conservados em casa, os ramos recordam aos fiéis a vitória de Cristo celebrada com a mesma procissão.
Os pastores esforcem-se por que esta procissão, em honra de Cristo Rei, seja preparada e celebrada de modo frutuoso para a vida espiritual dos fiéis.
30. O Missal Romano, para celebrar a comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém, além da procissão solene supramencionada, apresenta outras duas formas, não para conceder comodidade e facilidade, mas tendo em consideração dificuldades que possam impedir a procissão.
A segunda forma de comemoração é a entrada solene, quando não se pode fazer a procissão fora da igreja. A terceira forma é a entrada simples, que se faz em todas as missas do domingo, no qual se realiza a entrada solene.[35]
31. Quando não se pode celebrar a missa, convém realizar uma celebração da Palavra de Deus para a entrada messiânica e a paixão do Senhor, nas horas vespertinas do sábado ou na hora mais oportuna do domingo.[36]
32. Na procissão são executados pela schola e pelo povo os cânticos propostos pelo Missal Romano, com os Salmos 23 e 46, e outros cânticos apropriados em honra de Cristo Rei.
33. A história da Paixão reveste particular solenidade. É aconselhável que seja cantada ou lida segundo o modo tradicional, isto é, por três pessoas que representam a parte de Cristo, do cronista e do povo.
A Passio é cantada ou lida pelos diáconos ou sacerdotes ou, na falta deles, pelos leitores; neste caso, a parte de Cristo deve ser reservada ao sacerdote. A proclamação da paixão é feita sem os portadores de castiçais, sem incenso, sem a saudação ao povo e sem o toque no livro; só os diáconos pedem a bênção do sacerdote, como noutras vezes antes do Evangelho.[37]
Para o bem espiritual dos fiéis, é oportuno que a história da Paixão seja lida integralmente sem omitir as leituras que a precedem.
34. Concluída a história da paixão, não se omita a homilia.
b) Missa do Crisma
35. A Missa do Crisma na qual o bispo, concelebrando com o seu presbitério, consagra o santo Crisma e benze os outros óleos, é uma manifestação da comunhão dos presbíteros com o próprio bispo, no único e mesmo sacerdócio e ministério de Cristo.[38] Chamem-se os presbíteros das diversas partes da diocese para participarem nesta missa, concelebrando com o bispo, como testemunhas e cooperadores seus na consagração do Crisma, visto que são os seus cooperadores e conselheiros no ministério quotidiano.
Os fiéis sejam também encarecidamente convidados a participar nesta missa e a receber o sacramento da Eucaristia durante a sua celebração.
Segundo a tradição, a Missa do Crisma é celebrada na Quinta-feira da Semana Santa. Se o clero e o povo encontram dificuldade para se reunir naquele dia com o bispo, tal celebração pode ser antecipada para outro dia, contanto que próximo da Páscoa.[39] Com efeito, o novo Crisma e o novo óleo dos catecúmenos devem ser usados na noite da vigília pascal, para a celebração dos sacramentos da iniciação cristã.
36. Celebre-se uma única missa, considerada a sua importância na vida da diocese, e a celebração seja feita na igreja catedral ou, por razões pastorais, noutra igreja[40] especialmente mais insigne..
O acolhimento aos santos óleos pode ser feito em cada uma das paróquias, antes da celebração da missa vespertina “In Cena Domini” ou noutro tempo mais oportuno. Isto poderá ajudar a fazer os fiéis compreenderem o significado do uso dos santos óleos e do Crisma, e da sua eficácia na vida cristã.
c) Celebração penitencial no final da Quaresma
37. É oportuno que o tempo quaresmal seja concluído, quer para os fiéis individualmente quer para toda a comunidade cristã, com uma celebração penitencial para preparar uma participação mais intensa no mistério pascal.[41] Esta celebração seja feita antes do tríduo pascal e não deve preceder imediatamente a missa vespertina “In Cena Domíni”.
27. Na Semana Santa a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias da sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém. O tempo quaresmal continua até à Quinta-feira Santa. A partir da missa vespertina “in Cena Domini” inicia-se o tríduo pascal, que abrange a Sexta-feira Santa “da paixão do Senhor” e o Sábado Santo, e tem o seu centro na vigília pascal, concluindo-se com as vésperas do domingo da ressurreição. “Os dias feriais da Semana Santa, de segunda-feira a quinta-feria inclusive, têm a precedência sobre todas as outras celebrações”.[31] É oportuno que nestes dias não se celebre nem o Batismo nem a Confirmação.
a) Domingo de Ramos
28. A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos da paixão do Senhor, que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão. Na celebração e na catequese deste dia sejam postos em evidência estes dois aspectos do mistério pascal.[32]
29, Desde a antigüidade se comemora a entrada do Senhor em Jerusalém com a procissão solene, com a qual os cristãos celebram este evento, imitando as aclamações e os gestos das crianças hebréias, que foram ao encontro do Senhor com o canto do Hosana.[33]
A procissão seja uma só e feita sempre antes da missa com maior concurso de povo, também nas horas vespertinas, tanto do sábado como do domingo. Para realizá-la os fiéis reúnem-se numa igreja menor ou noutro lugar adaptado, fora da igreja para a qual a procissão se dirige. Os fiéis participam nesta procissão levando ramos de oliveira ou de outras árvores.
A bênção das palmeiras ou dos ramos é feita para os levar em procissão.
Conservados em casa, os ramos recordam aos fiéis a vitória de Cristo celebrada com a mesma procissão.
Os pastores esforcem-se por que esta procissão, em honra de Cristo Rei, seja preparada e celebrada de modo frutuoso para a vida espiritual dos fiéis.
30. O Missal Romano, para celebrar a comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém, além da procissão solene supramencionada, apresenta outras duas formas, não para conceder comodidade e facilidade, mas tendo em consideração dificuldades que possam impedir a procissão.
A segunda forma de comemoração é a entrada solene, quando não se pode fazer a procissão fora da igreja. A terceira forma é a entrada simples, que se faz em todas as missas do domingo, no qual se realiza a entrada solene.[35]
31. Quando não se pode celebrar a missa, convém realizar uma celebração da Palavra de Deus para a entrada messiânica e a paixão do Senhor, nas horas vespertinas do sábado ou na hora mais oportuna do domingo.[36]
32. Na procissão são executados pela schola e pelo povo os cânticos propostos pelo Missal Romano, com os Salmos 23 e 46, e outros cânticos apropriados em honra de Cristo Rei.
33. A história da Paixão reveste particular solenidade. É aconselhável que seja cantada ou lida segundo o modo tradicional, isto é, por três pessoas que representam a parte de Cristo, do cronista e do povo.
A Passio é cantada ou lida pelos diáconos ou sacerdotes ou, na falta deles, pelos leitores; neste caso, a parte de Cristo deve ser reservada ao sacerdote. A proclamação da paixão é feita sem os portadores de castiçais, sem incenso, sem a saudação ao povo e sem o toque no livro; só os diáconos pedem a bênção do sacerdote, como noutras vezes antes do Evangelho.[37]
Para o bem espiritual dos fiéis, é oportuno que a história da Paixão seja lida integralmente sem omitir as leituras que a precedem.
34. Concluída a história da paixão, não se omita a homilia.
b) Missa do Crisma
35. A Missa do Crisma na qual o bispo, concelebrando com o seu presbitério, consagra o santo Crisma e benze os outros óleos, é uma manifestação da comunhão dos presbíteros com o próprio bispo, no único e mesmo sacerdócio e ministério de Cristo.[38] Chamem-se os presbíteros das diversas partes da diocese para participarem nesta missa, concelebrando com o bispo, como testemunhas e cooperadores seus na consagração do Crisma, visto que são os seus cooperadores e conselheiros no ministério quotidiano.
Os fiéis sejam também encarecidamente convidados a participar nesta missa e a receber o sacramento da Eucaristia durante a sua celebração.
Segundo a tradição, a Missa do Crisma é celebrada na Quinta-feira da Semana Santa. Se o clero e o povo encontram dificuldade para se reunir naquele dia com o bispo, tal celebração pode ser antecipada para outro dia, contanto que próximo da Páscoa.[39] Com efeito, o novo Crisma e o novo óleo dos catecúmenos devem ser usados na noite da vigília pascal, para a celebração dos sacramentos da iniciação cristã.
36. Celebre-se uma única missa, considerada a sua importância na vida da diocese, e a celebração seja feita na igreja catedral ou, por razões pastorais, noutra igreja[40] especialmente mais insigne..
O acolhimento aos santos óleos pode ser feito em cada uma das paróquias, antes da celebração da missa vespertina “In Cena Domini” ou noutro tempo mais oportuno. Isto poderá ajudar a fazer os fiéis compreenderem o significado do uso dos santos óleos e do Crisma, e da sua eficácia na vida cristã.
c) Celebração penitencial no final da Quaresma
37. É oportuno que o tempo quaresmal seja concluído, quer para os fiéis individualmente quer para toda a comunidade cristã, com uma celebração penitencial para preparar uma participação mais intensa no mistério pascal.[41] Esta celebração seja feita antes do tríduo pascal e não deve preceder imediatamente a missa vespertina “In Cena Domíni”.
III. O TRÍDUO PASCAL EM GERAL
38. A Igreja celebra todos os anos os grandes mistérios da redenção humana, desde a missa vespertina da Quinta-feira “In Cena Domini” até às vésperas do domingo da ressurreição. Este espaço de tempo é justamente chamado o “tríduo do crucificado, do sepultado e do ressuscitado”[42] e também tríduo pascal, porque com a sua celebração se torna presente e se cumpre o mistério da Páscoa, isto é, a passagem do Senhor deste mundo ao Pai. Com a celebração deste mistério a Igreja, por meio dos sinais litúrgicos e sacramentais, associa-se em íntima comunhão com Cristo seu Esposo.
39. É sagrado o jejum pascal destes dois primeiros dias do tríduo, em que, segundo a tradição primitiva, a Igreja jejua “porque o Esposo lhe é tirado”,[43] Na Sexta-feira da Paixão do Senhor, em toda a parte o jejum deve ser observado juntamente com a abstinência, e aconselha-se prolongá-lo também no Sábado Santo, de modo que a Igreja, com o espírito aberto e elevado, possa chegar à alegria do Domingo da Ressurreição.[44]
40. É recomendada a celebração comunitária do oficio da leitura e das laudes matutinas na Sexta-feira da paixão do Senhor, e também no Sábado Santo. Convém que nele participe o bispo, na medida em que é possível na igreja catedral, com o clero e o povo.[45]
Este oficio, outrora chamado das trevas, conserve o devido lugar na devoção dos fiéis, para contemplar em piedosa meditação a paixão, morte e sepultura do Senhor, à espera do anúncio da sua ressurreição.
41. Para o desenvolvimento conveniente das celebrações do tríduo pascal, requer-se um suficiente número de ministros e de ajudantes, que devem ser diligentemente instruídos sobre o que deverão fazer. Os pastores cuidem de explicar
aos fiéis, do melhor modo possível, o significado e a estrutura dos ritos das celebrações, e de os preparar para uma participação ativa e frutuosa..
42. O canto do povo, dos ministros e do sacerdote celebrante reveste particular importância na celebração da Semana Santa e especialmente do tríduo pascal, porque está mais de acordo com a solenidade destes dias e também porque os textos obtêm maior força quando são cantados.
As conferências episcopais, se ainda não tomaram providências quanto a isto, são convidadas a propor melodias para os textos e as aclamações, que deveriam ser executados sempre com o canto. Trata-se dos seguintes textos:
a) a oração universal da Sexta-feira Santa na paixão do Senhor; o convite do diácono, se for feito, ou a aclamação do povo;
b) os textos para apresentar e adorar a cruz;
c) as aclamações na procissão com o círio pascal e na própria proclamação da Páscoa, o Aleluiaresponsorial, a ladainha dos santos e a aclaração após a bênção da água.
Os textos litúrgicos dos cânticos, destinados a favorecer a participação do povo, não sejam omitidos Com facilidade; as suas traduções em língua vernácula sejam acompanhadas das respectivas melodias. Se ainda não houver textos em língua vernácula para Uma liturgia cantada, sejam no entanto escolhidos outros textos semelhantes. Providencie-se oportunamente a redação de um repertório próprio para estas celebrações, a ser usado só durante o desenvolvimento das mesmas.
De modo particular sejam propostos:
a) os cânticos para a bênção e procissão dos ramos e para a entrada na igreja;
b) os cânticos para a procissão dos santos óleos;
c) os cânticos para a procissão das ofertas na missa “In Cena Domini”, e o hino para a procissão, com a qual se leva o Santíssimo Sacramento para a capela da reposição;
d) as respostas dos salmos na vigília pascal e os cânticos para a aspersão da água.
Sejam preparadas melodias adaptadas para facilitar o canto dos textos da história da paixão, da proclamação pascal e da bênção da água batismal.
Nas igrejas maiores seja usado o tesouro abundante da música sacra, tanto antiga como moderna; tenha-se em conta, porém, a devida participação do povo.
43. E muito conveniente que as pequenas comunidades religiosas, quer clericais, quer não, e as outras comunidades laicais participem nas celebrações do t r í d u o pascal nas igrejas maiores.[46]
De igual modo, quando em algum lugar é insuficiente o número dos participantes, dos ajudantes e dos cantores, as celebrações do tríduo pascal sejam omitidas e os fiéis reunam-se noutra igreja maior.
Também onde mais paróquias pequenas são I confiadas a um só sacerdote, é oportuno que, na medida do possível, os seus fiéis se reunam na igreja principal para participar nas celebrações.
Para o bem dos fiéis, onde ao pároco é confiada a cura pastoral de duas ou mais paróquias, nas quais os fiéis participam em grande número e podem ser realizadas as celebrações com o devido cuidado e solenidade, os mesmos párocos podem repetir as celebrações do tríduo pascal, respeitando-se todas as normas estabelecidas.[47]
A fim de que os alunos dos seminários possam “viver o mistério pascal de Cristo, de modo que saibam iniciar nele o povo que lhes será confiado”[48], é necessário que recebam uma plena e completa formação litúrgica. É muito oportuno que os alunos, durante os anos da sua preparação no seminário, façam experiência das formas mais ricas de celebração das festas pascais, especialmente d a que I a s presididas pelo bispo.[49]
38. A Igreja celebra todos os anos os grandes mistérios da redenção humana, desde a missa vespertina da Quinta-feira “In Cena Domini” até às vésperas do domingo da ressurreição. Este espaço de tempo é justamente chamado o “tríduo do crucificado, do sepultado e do ressuscitado”[42] e também tríduo pascal, porque com a sua celebração se torna presente e se cumpre o mistério da Páscoa, isto é, a passagem do Senhor deste mundo ao Pai. Com a celebração deste mistério a Igreja, por meio dos sinais litúrgicos e sacramentais, associa-se em íntima comunhão com Cristo seu Esposo.
39. É sagrado o jejum pascal destes dois primeiros dias do tríduo, em que, segundo a tradição primitiva, a Igreja jejua “porque o Esposo lhe é tirado”,[43] Na Sexta-feira da Paixão do Senhor, em toda a parte o jejum deve ser observado juntamente com a abstinência, e aconselha-se prolongá-lo também no Sábado Santo, de modo que a Igreja, com o espírito aberto e elevado, possa chegar à alegria do Domingo da Ressurreição.[44]
40. É recomendada a celebração comunitária do oficio da leitura e das laudes matutinas na Sexta-feira da paixão do Senhor, e também no Sábado Santo. Convém que nele participe o bispo, na medida em que é possível na igreja catedral, com o clero e o povo.[45]
Este oficio, outrora chamado das trevas, conserve o devido lugar na devoção dos fiéis, para contemplar em piedosa meditação a paixão, morte e sepultura do Senhor, à espera do anúncio da sua ressurreição.
41. Para o desenvolvimento conveniente das celebrações do tríduo pascal, requer-se um suficiente número de ministros e de ajudantes, que devem ser diligentemente instruídos sobre o que deverão fazer. Os pastores cuidem de explicar
aos fiéis, do melhor modo possível, o significado e a estrutura dos ritos das celebrações, e de os preparar para uma participação ativa e frutuosa..
42. O canto do povo, dos ministros e do sacerdote celebrante reveste particular importância na celebração da Semana Santa e especialmente do tríduo pascal, porque está mais de acordo com a solenidade destes dias e também porque os textos obtêm maior força quando são cantados.
As conferências episcopais, se ainda não tomaram providências quanto a isto, são convidadas a propor melodias para os textos e as aclamações, que deveriam ser executados sempre com o canto. Trata-se dos seguintes textos:
a) a oração universal da Sexta-feira Santa na paixão do Senhor; o convite do diácono, se for feito, ou a aclamação do povo;
b) os textos para apresentar e adorar a cruz;
c) as aclamações na procissão com o círio pascal e na própria proclamação da Páscoa, o Aleluiaresponsorial, a ladainha dos santos e a aclaração após a bênção da água.
Os textos litúrgicos dos cânticos, destinados a favorecer a participação do povo, não sejam omitidos Com facilidade; as suas traduções em língua vernácula sejam acompanhadas das respectivas melodias. Se ainda não houver textos em língua vernácula para Uma liturgia cantada, sejam no entanto escolhidos outros textos semelhantes. Providencie-se oportunamente a redação de um repertório próprio para estas celebrações, a ser usado só durante o desenvolvimento das mesmas.
De modo particular sejam propostos:
a) os cânticos para a bênção e procissão dos ramos e para a entrada na igreja;
b) os cânticos para a procissão dos santos óleos;
c) os cânticos para a procissão das ofertas na missa “In Cena Domini”, e o hino para a procissão, com a qual se leva o Santíssimo Sacramento para a capela da reposição;
d) as respostas dos salmos na vigília pascal e os cânticos para a aspersão da água.
Sejam preparadas melodias adaptadas para facilitar o canto dos textos da história da paixão, da proclamação pascal e da bênção da água batismal.
Nas igrejas maiores seja usado o tesouro abundante da música sacra, tanto antiga como moderna; tenha-se em conta, porém, a devida participação do povo.
43. E muito conveniente que as pequenas comunidades religiosas, quer clericais, quer não, e as outras comunidades laicais participem nas celebrações do t r í d u o pascal nas igrejas maiores.[46]
De igual modo, quando em algum lugar é insuficiente o número dos participantes, dos ajudantes e dos cantores, as celebrações do tríduo pascal sejam omitidas e os fiéis reunam-se noutra igreja maior.
Também onde mais paróquias pequenas são I confiadas a um só sacerdote, é oportuno que, na medida do possível, os seus fiéis se reunam na igreja principal para participar nas celebrações.
Para o bem dos fiéis, onde ao pároco é confiada a cura pastoral de duas ou mais paróquias, nas quais os fiéis participam em grande número e podem ser realizadas as celebrações com o devido cuidado e solenidade, os mesmos párocos podem repetir as celebrações do tríduo pascal, respeitando-se todas as normas estabelecidas.[47]
A fim de que os alunos dos seminários possam “viver o mistério pascal de Cristo, de modo que saibam iniciar nele o povo que lhes será confiado”[48], é necessário que recebam uma plena e completa formação litúrgica. É muito oportuno que os alunos, durante os anos da sua preparação no seminário, façam experiência das formas mais ricas de celebração das festas pascais, especialmente d a que I a s presididas pelo bispo.[49]
IV. A MISSA “IN CENA DOMINI”
44. “Com a missa celebrada nas horas vespertinas da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao tríduo pascal e recorda aquela última ceia em que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, tendo amado até ao extremo os seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu Corpo e Sangue sob as espécies do pão e do vinho e deu-os aos apóstolos como alimento, e ordenou-lhes, a eles e aos seus sucessores no sacerdócio, que fizessem a mesma oferta”.[50]
45. Toda a atenção da alma deve estar orientada para os mistérios, que sobretudo nesta missa são recordados: a saber, a instituição da Eucaristia, a instituição da Ordem sacerdotal e o mandamento do Senhor sobre a caridade fraterna: tudo isto seja explicado na homilia.
46. A missa “In Cena Domini” é celebrada nas horas vespertinas, no tempo mais oportuno para
uma plena participação de toda a comunidade local. Todos os presbíteros podem concelebrá-la, ainda que tenham já concelebrado neste dia a missa do Crisma, ou então devam celebrar outra missa para o bem dos fiéis.[51]
47. Nos lugares em que seja requerido por motivos pastorais, o ordinário do lugar pode conceder a celebração de uma outra missa nas igrejas e oratórios, nas horas vespertinas e, no caso de verdadeira necessidade, também de manhã, mas só para os fiéis que não podem de modo algum tomar parte na missa vespertina. Evite-se, todavia, que estas celebrações se façam em favor de pessoas particulares ou de pequenos grupos e que não constituam um obstáculo para a missa principal.
48. Antes da celebração, o tabernáculo deve estar vazio.[53] As hóstias para a comunhão dos fiéis devem ser consagradas na mesma celebração da missa.[54] Consagrem-se nesta missa hóstias em quantidade suficiente para este dia e para o dia seguinte.
49. Reserve-se uma capela para a conservação do Santíssimo Sacramento e seja ela ornada de modo conveniente, para que possa facilitar a oração e a meditação: recomenda-se o respeito daquela sobriedade que convém à liturgia destes dias, evitando ou removendo qualquer abuso contrário.[55]
Se o tabernáculo é colocado numa capela separada da nave central, convém que nela seja disposto o lugar para a reposição e a adoração.
50. Durante o canto do hino Glória a Deus toquem-se os sinos. Concluído o canto, eles permanecerão silenciosos até à vigília pascal, segundo os costumes locais; a não ser que a Conferência Episcopal ou o ordinário do lugar determinem diversamente, segundo a oportunidade.[56] Durante este tempo o órgão e os outros instrumentos musicais podem ser utilizados só para sustentar o canto.[57]
51. O lava-pés que, por tradição, é feito neste dia a alguns homens escolhidos, significa o serviço e a caridade de Cristo, que veio “não para ser servido, mas para servir”.[58] Convém que esta tradição seja conservada e explicada no seu significado próprio.
52. Durante a procissão das ofertas, enquanto o povo canta o hino Onde há caridade e amor, podem ser apresentados os dons para os pobres, especialmente os que foram recolhidos no tempo quaresmal como frutos de penitência.[59]
53. Para os doentes que recebem a Comunhão em casa, é mais oportuno que a Eucaristia, tomada da mesa do altar no momento da Comunhão, seja a eles levada pelos diáconos ou acólitos ou ministros extraordinários, para que possam assim unir-se de maneira mais intensa à Igreja que celebra.
54. Concluída a oração após a Comunhão, forma-se a procissão que, passando pela igreja,
acompanha o Santíssimo Sacramento ao lugar da reposição. A procissão é precedida pelo cruciferário; levam-se os círios acesos e o incenso. Durante a procissão, canta-se o hino pange língua ou outro cântico eucarístico.[60] A procissão e a reposição do Santíssimo Sacramento não podem ser feitas nas igrejas em que na Sexta-feira Santa não se celebra a paixão do Senhor.[61]
55. O Sacramento seja conservado num tabernáculo fechado. Nunca se pode fazer a exposição com o ostensório. O tabernáculo ou o cibório não deve ter a forma de um sepulcro.
Evite-se o termo mesmo de sepulcro: com efeito, a capela da reposição é preparada não para representar a sepultura do Senhor, mas para conservar o pão eucarístico para a Comunhão, que será distribuída na Sexta-feira da paixão do Senhor.
56. Convidem-se os fiéis a permanecer na igreja, depois da missa “In Cena Domini”, por um determinado espaço de tempo na noite, para a devida adoração ao Santíssimo Sacramento solenemente ali conser-vado neste dia. Durante a adoração eucarístíca prolongada pode ser lida uma parte do Evangelho segundo João (cap. 13-17). Após a meia-noite, esta adoração seja feita sem solenidade, já que começou o dia da paixão do Senhor.[62]
57. Concluída a missa é desnudado o altar da celebração. Convém cobrir as cruzes da igreja com um véu de cor vermelha ou roxa, a não ser que já tenham sido veladas no sábado antes do V domingo da Quaresma. Não se podem acender velas ou lâmpadas diante das imagens dos santos.
44. “Com a missa celebrada nas horas vespertinas da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao tríduo pascal e recorda aquela última ceia em que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, tendo amado até ao extremo os seus que estavam no mundo, ofereceu a Deus Pai o seu Corpo e Sangue sob as espécies do pão e do vinho e deu-os aos apóstolos como alimento, e ordenou-lhes, a eles e aos seus sucessores no sacerdócio, que fizessem a mesma oferta”.[50]
45. Toda a atenção da alma deve estar orientada para os mistérios, que sobretudo nesta missa são recordados: a saber, a instituição da Eucaristia, a instituição da Ordem sacerdotal e o mandamento do Senhor sobre a caridade fraterna: tudo isto seja explicado na homilia.
46. A missa “In Cena Domini” é celebrada nas horas vespertinas, no tempo mais oportuno para
uma plena participação de toda a comunidade local. Todos os presbíteros podem concelebrá-la, ainda que tenham já concelebrado neste dia a missa do Crisma, ou então devam celebrar outra missa para o bem dos fiéis.[51]
47. Nos lugares em que seja requerido por motivos pastorais, o ordinário do lugar pode conceder a celebração de uma outra missa nas igrejas e oratórios, nas horas vespertinas e, no caso de verdadeira necessidade, também de manhã, mas só para os fiéis que não podem de modo algum tomar parte na missa vespertina. Evite-se, todavia, que estas celebrações se façam em favor de pessoas particulares ou de pequenos grupos e que não constituam um obstáculo para a missa principal.
48. Antes da celebração, o tabernáculo deve estar vazio.[53] As hóstias para a comunhão dos fiéis devem ser consagradas na mesma celebração da missa.[54] Consagrem-se nesta missa hóstias em quantidade suficiente para este dia e para o dia seguinte.
49. Reserve-se uma capela para a conservação do Santíssimo Sacramento e seja ela ornada de modo conveniente, para que possa facilitar a oração e a meditação: recomenda-se o respeito daquela sobriedade que convém à liturgia destes dias, evitando ou removendo qualquer abuso contrário.[55]
Se o tabernáculo é colocado numa capela separada da nave central, convém que nela seja disposto o lugar para a reposição e a adoração.
50. Durante o canto do hino Glória a Deus toquem-se os sinos. Concluído o canto, eles permanecerão silenciosos até à vigília pascal, segundo os costumes locais; a não ser que a Conferência Episcopal ou o ordinário do lugar determinem diversamente, segundo a oportunidade.[56] Durante este tempo o órgão e os outros instrumentos musicais podem ser utilizados só para sustentar o canto.[57]
51. O lava-pés que, por tradição, é feito neste dia a alguns homens escolhidos, significa o serviço e a caridade de Cristo, que veio “não para ser servido, mas para servir”.[58] Convém que esta tradição seja conservada e explicada no seu significado próprio.
52. Durante a procissão das ofertas, enquanto o povo canta o hino Onde há caridade e amor, podem ser apresentados os dons para os pobres, especialmente os que foram recolhidos no tempo quaresmal como frutos de penitência.[59]
53. Para os doentes que recebem a Comunhão em casa, é mais oportuno que a Eucaristia, tomada da mesa do altar no momento da Comunhão, seja a eles levada pelos diáconos ou acólitos ou ministros extraordinários, para que possam assim unir-se de maneira mais intensa à Igreja que celebra.
54. Concluída a oração após a Comunhão, forma-se a procissão que, passando pela igreja,
acompanha o Santíssimo Sacramento ao lugar da reposição. A procissão é precedida pelo cruciferário; levam-se os círios acesos e o incenso. Durante a procissão, canta-se o hino pange língua ou outro cântico eucarístico.[60] A procissão e a reposição do Santíssimo Sacramento não podem ser feitas nas igrejas em que na Sexta-feira Santa não se celebra a paixão do Senhor.[61]
55. O Sacramento seja conservado num tabernáculo fechado. Nunca se pode fazer a exposição com o ostensório. O tabernáculo ou o cibório não deve ter a forma de um sepulcro.
Evite-se o termo mesmo de sepulcro: com efeito, a capela da reposição é preparada não para representar a sepultura do Senhor, mas para conservar o pão eucarístico para a Comunhão, que será distribuída na Sexta-feira da paixão do Senhor.
56. Convidem-se os fiéis a permanecer na igreja, depois da missa “In Cena Domini”, por um determinado espaço de tempo na noite, para a devida adoração ao Santíssimo Sacramento solenemente ali conser-vado neste dia. Durante a adoração eucarístíca prolongada pode ser lida uma parte do Evangelho segundo João (cap. 13-17). Após a meia-noite, esta adoração seja feita sem solenidade, já que começou o dia da paixão do Senhor.[62]
57. Concluída a missa é desnudado o altar da celebração. Convém cobrir as cruzes da igreja com um véu de cor vermelha ou roxa, a não ser que já tenham sido veladas no sábado antes do V domingo da Quaresma. Não se podem acender velas ou lâmpadas diante das imagens dos santos.
V. A SEXTA-FEIRA SANTA
58. Neste dia, em que “Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado”[63], a Igreja, com a meditação da paixão do seu Senhor e Esposo e adorando a cruz, comemora o seu nascimento do lado de Cristo que repousa na cruz, e intercede pela salvação do mundo todo.
59. A Igreja, seguindo uma antiquíssima tradição, neste dia não celebra a Eucaristia; a sagrada Comunhão é distribuída aos fiéis só durante a celebração da paixão do Senhor; aos doentes, impossibilitados de participar desta celebração, pode-se levar a Comunhão a qualquer hora do, dia.[64]
60. A Sexta-feira da paixão do Senhor é dia de penitência obrigatória para a Igreja toda, a ser observada com a, abstinência e o jejum.[65]
61. Está proibido celebrar neste dia qualquer sacramento, exceto os da Penitência e da Unção dos Enfermos.[66] As exéquias sejam celebradas sem canto e sem o som do órgão e dos sinos. 62. Recomenda-se que o ofício da leitura e as laudes deste dia sejam celebrados nas igrejas, com participação do povo (cf. n. 40).
63. A celebração da paixão do Senhor deve ser realizada depois do meio-dia, especialmente pelas três horas da tarde. Por razões pastorais pode-se escolher outra hora mais conveniente, para que os fiéis possam reunir-se com mais facilidade: por exemplo, desde o meio-dia até ao entardecer, mas nunca depois das vinte e uma horas.[67]
64. Respeite-se religiosa e fielmente a estrutura da ação litúrgica da paixão do Senhor (liturgia da palavra, adoração da cruz e sagrada Comunhão), que provém da antiga tradição da Igreja. A ninguém é licito introduzir-lhe mudanças de próprio arbítrio.
65. O sacerdote e os ministros dirigem-se para o altar em silêncio, sem canto. No caso de alguma palavra de introdução, esta deve ser feita antes da entrada dos ministros.
O sacerdote e os ministros, feita a reverência ao altar, prostram-se: esta prostração, que é um rito próprio deste dia, seja conservada diligentemente, pois significa não só a humilhação do “homem terreno”[68], mas também a tristeza e a dor da Igreja.
Durante a entrada dos ministros os fiéis permanecem em pé, e depois ajoelham-se e oram em silêncio.
66. As leituras devem ser lidas integralmente. O Salmo responsoriaI e a aclamação ao Evange lho sejam executados no modo habitual. A história da paixão do Senhor segundo João é cantada ou lida, como no domingo precedente (cf. n. 33). Depois da leitura da paixão, faça. se a homilia e, ao final da mesma, os fiéis podem ser convidados a permanecer em meditação por um breve tempo.[69]
67. A oração universal deve ser feita segundo o texto e a forma transmitidos pela antigüidade, com toda a amplitude de intenções, que expressam o valor universal da paixão de Cristo, pregado na cruz para a salvação do mundo inteiro. Em caso de grave necessidade pública, o Ordinário do lugar pode permitir ou estabelecer que se acrescente alguma intenção especial.[70]
É consentido ao sacerdote escolher, entre as intenções propostas no Missal, aquelas mais adequadas às condições do lugar, contanto que se mantenha a ordem das intenções, indicada para a oração universal.[71]
68. A cruz a ser apresentada ao povo seja suficientemente grande e artística. Das duas formas indicadas no Missal para este rito, escolha-se a mais adequada. Este rito deve ser feito com um esplendor digno da glória do mistério da nossa salvação: tanto o convite feito ao apresentar a cruz como a resposta dada pelo povo sejam feitos com o canto. Não se omita o silêncio reverente depois de cada uma das prostrações, enquanto o sacerdote celebrante, permanecendo de pé, mostra elevada a cruz.
69. Apresente-se a cruz à adoração de cada um dos fiéis, porque a adoração pessoal da cruz é um elemento muito importante desta celebra ção. No caso de uma assembléia muito numerosa, use-se o rito da adoração feita contemporaneamente por todos.[72]
Use-se uma única cruz para a adoração, tal como o requer a verdade do sinal. Durante a adoração da cruz cantem-se as antífonas, os “impropérios” e o hino, que recordam com lirismo a história da salvação[73], ou então outros cânticos adequados (cf. n. 42).
70. O sacerdote canta a introdução ao Pai-Nos, so, que é cantado por toda a assembléia. Não se dá o sinal da paz.
A Comunhão é distribuída segundo o rito descrito no Missal. Durante a Comunhão pode-se cantar o Salmo[74], ou outro cântico apropriado. Concluída a distribuição da Comunhão, a píxide é levada para o lugar já preparado fora da igreja.
71. Depois da Comunhão procede-se à desnudação do altar, deixando a cruz no centro, com quatro castiçais. Disponha-se na igreja um lugar adequado (por exemplo, a capela da reposição da Eucaristia na Quinta-feira Santa), para colocar ali a cruz, a fim de que os fiéis possam adorá-la, beijá-la e permanecer em oração e meditação.
72. Pela sua importância pastoral, sejam valorizados os pios exercícios, como a Via-sacra, as procissões da paixão e a memória das dores da bem-aventurada Virgem Maria. Os textos e os cânticos destes pios exercícios correspondam ao espírito litúrgico deste dia. O horário desses pios exercícios e o da celebração litúrgica sejam de tal modo dispostos, que apareça claro que a ação litúrgica, por sua mesma natureza, está acima dos pios exercícios. 7.
58. Neste dia, em que “Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado”[63], a Igreja, com a meditação da paixão do seu Senhor e Esposo e adorando a cruz, comemora o seu nascimento do lado de Cristo que repousa na cruz, e intercede pela salvação do mundo todo.
59. A Igreja, seguindo uma antiquíssima tradição, neste dia não celebra a Eucaristia; a sagrada Comunhão é distribuída aos fiéis só durante a celebração da paixão do Senhor; aos doentes, impossibilitados de participar desta celebração, pode-se levar a Comunhão a qualquer hora do, dia.[64]
60. A Sexta-feira da paixão do Senhor é dia de penitência obrigatória para a Igreja toda, a ser observada com a, abstinência e o jejum.[65]
61. Está proibido celebrar neste dia qualquer sacramento, exceto os da Penitência e da Unção dos Enfermos.[66] As exéquias sejam celebradas sem canto e sem o som do órgão e dos sinos. 62. Recomenda-se que o ofício da leitura e as laudes deste dia sejam celebrados nas igrejas, com participação do povo (cf. n. 40).
63. A celebração da paixão do Senhor deve ser realizada depois do meio-dia, especialmente pelas três horas da tarde. Por razões pastorais pode-se escolher outra hora mais conveniente, para que os fiéis possam reunir-se com mais facilidade: por exemplo, desde o meio-dia até ao entardecer, mas nunca depois das vinte e uma horas.[67]
64. Respeite-se religiosa e fielmente a estrutura da ação litúrgica da paixão do Senhor (liturgia da palavra, adoração da cruz e sagrada Comunhão), que provém da antiga tradição da Igreja. A ninguém é licito introduzir-lhe mudanças de próprio arbítrio.
65. O sacerdote e os ministros dirigem-se para o altar em silêncio, sem canto. No caso de alguma palavra de introdução, esta deve ser feita antes da entrada dos ministros.
O sacerdote e os ministros, feita a reverência ao altar, prostram-se: esta prostração, que é um rito próprio deste dia, seja conservada diligentemente, pois significa não só a humilhação do “homem terreno”[68], mas também a tristeza e a dor da Igreja.
Durante a entrada dos ministros os fiéis permanecem em pé, e depois ajoelham-se e oram em silêncio.
66. As leituras devem ser lidas integralmente. O Salmo responsoriaI e a aclamação ao Evange lho sejam executados no modo habitual. A história da paixão do Senhor segundo João é cantada ou lida, como no domingo precedente (cf. n. 33). Depois da leitura da paixão, faça. se a homilia e, ao final da mesma, os fiéis podem ser convidados a permanecer em meditação por um breve tempo.[69]
67. A oração universal deve ser feita segundo o texto e a forma transmitidos pela antigüidade, com toda a amplitude de intenções, que expressam o valor universal da paixão de Cristo, pregado na cruz para a salvação do mundo inteiro. Em caso de grave necessidade pública, o Ordinário do lugar pode permitir ou estabelecer que se acrescente alguma intenção especial.[70]
É consentido ao sacerdote escolher, entre as intenções propostas no Missal, aquelas mais adequadas às condições do lugar, contanto que se mantenha a ordem das intenções, indicada para a oração universal.[71]
68. A cruz a ser apresentada ao povo seja suficientemente grande e artística. Das duas formas indicadas no Missal para este rito, escolha-se a mais adequada. Este rito deve ser feito com um esplendor digno da glória do mistério da nossa salvação: tanto o convite feito ao apresentar a cruz como a resposta dada pelo povo sejam feitos com o canto. Não se omita o silêncio reverente depois de cada uma das prostrações, enquanto o sacerdote celebrante, permanecendo de pé, mostra elevada a cruz.
69. Apresente-se a cruz à adoração de cada um dos fiéis, porque a adoração pessoal da cruz é um elemento muito importante desta celebra ção. No caso de uma assembléia muito numerosa, use-se o rito da adoração feita contemporaneamente por todos.[72]
Use-se uma única cruz para a adoração, tal como o requer a verdade do sinal. Durante a adoração da cruz cantem-se as antífonas, os “impropérios” e o hino, que recordam com lirismo a história da salvação[73], ou então outros cânticos adequados (cf. n. 42).
70. O sacerdote canta a introdução ao Pai-Nos, so, que é cantado por toda a assembléia. Não se dá o sinal da paz.
A Comunhão é distribuída segundo o rito descrito no Missal. Durante a Comunhão pode-se cantar o Salmo[74], ou outro cântico apropriado. Concluída a distribuição da Comunhão, a píxide é levada para o lugar já preparado fora da igreja.
71. Depois da Comunhão procede-se à desnudação do altar, deixando a cruz no centro, com quatro castiçais. Disponha-se na igreja um lugar adequado (por exemplo, a capela da reposição da Eucaristia na Quinta-feira Santa), para colocar ali a cruz, a fim de que os fiéis possam adorá-la, beijá-la e permanecer em oração e meditação.
72. Pela sua importância pastoral, sejam valorizados os pios exercícios, como a Via-sacra, as procissões da paixão e a memória das dores da bem-aventurada Virgem Maria. Os textos e os cânticos destes pios exercícios correspondam ao espírito litúrgico deste dia. O horário desses pios exercícios e o da celebração litúrgica sejam de tal modo dispostos, que apareça claro que a ação litúrgica, por sua mesma natureza, está acima dos pios exercícios. 7.
VI. O SÁBADO SANTO
73. Durante o Sábado Santo a Igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e morte, a sua descida aos infernos[75], e esperando na oração e no jejum a sua ressurreição. Recomenda-se com insistência a celebração do oficio da leitura e das laudes com a participação do povo (cf. n. 40). Onde isto não é possível, prepare-se uma celebração da palavra ou um pio exercício que corresponda ao mistério deste dia.[76]
74. Podem ser expostas na igreja, para a veneração dos fiéis, a imagem de Cristo crucificado ou deposto no sepulcro, ou uma imagem da sua descida aos infernos, que ilustra o mistério do Sábado Santo, bem como a imagem da Santíssima Virgem das Dores.
73. Durante o Sábado Santo a Igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e morte, a sua descida aos infernos[75], e esperando na oração e no jejum a sua ressurreição. Recomenda-se com insistência a celebração do oficio da leitura e das laudes com a participação do povo (cf. n. 40). Onde isto não é possível, prepare-se uma celebração da palavra ou um pio exercício que corresponda ao mistério deste dia.[76]
74. Podem ser expostas na igreja, para a veneração dos fiéis, a imagem de Cristo crucificado ou deposto no sepulcro, ou uma imagem da sua descida aos infernos, que ilustra o mistério do Sábado Santo, bem como a imagem da Santíssima Virgem das Dores.
VII. O DOMINGO DE PÁSCOA
A) A vigília pascal da noite santa
77. Segundo uma antiquíssima tradição, esta noite é “em honra do Senhor”[79], e a vigília que nela se celebra, comemorando a noite santa em que o Senhor ressuscitou, deve ser considerada como “mãe de todas as santas vigílias”.[80] Nesta vigília, de fato, a Igreja permanece à espera da ressurreição do Senhor e celebra-a com os sacramentos da iniciação cristã.[81]
a) Significado da característica noturna da vigília pascal
78. “Toda a vigília pascal seja celebrada durante a noite, de modo que não comece antes do anoitecer e sempre termine antes da aurora de domingo”,[82] Esta regra deve ser interpretada estritamente. Qualquer abuso ou costume contrário, às vezes verificado, de se antecipar a hora da celebração da vigília pascal para horas em que, habitualmente, se celebram as missas vespertinas antes dos domingos, deve ser reprovado.[83] As razões apresentadas para antecipar a vigília pascal, como por exemplo a insegurança pública, não se têm em conta no caso da noite de Natal ou de reuniões que se realizam de noite.
79. A vigília pascal, na qual os judeus esperaram a passagem do Senhor que os libertaria da escravidão do Faraó, foi por eles observada como memorial a ser celebrado todos os anos; era a figura da futura e verdadeira Páscoa de Cristo, isto é, da noite da verdadeira libertação, na qual.. Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor”.[84]
80. Desde o início a Igreja tem celebrado a Páscoa anual, solenidade das solenidades, com uma vigília noturna. Com efeito, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança, e por meio do Batismo e da Confirmação fomos inseridos no mistério pascal de Cristo: mortos, sepultados e ressuscitados com Ele, com Ele também havemos de reinar.[85]
b) A estrutura da vigília pascal e a importância dos seus elementos e das suas partes
81. A vigília tem a seguinte estrutura: depois do lucernário e da proclamação da Páscoa (primeira parte da vigília), a santa Igreja contempla as maravilhas que Deus operou em favor do seu povo desde o início (segunda parte ou liturgia da Palavra), até ao momento em que, com os seus membros regenerados pelo Batismo (terceira parte), é convidada à mesa, preparada pelo Senhor para o seu povo, memorial da sua morte e ressurreição, à espera da sua nova vinda (quarta parte).[87]
Esta estrutura dos ritos por ninguém pode ser mudada arbitrariamente.
82. A primeira parte compreende ações simbólicas e gestos, que devem ser realizados com tal dignidade e expressividade, de maneira que os fiéis possam verdadeiramente compreender o significado, sugerido pelas advertências e orações litúrgicas.
Na medida em que for possível, prepare-se fora da igreja, em lugar conveniente, o braseiro para a bênção do fogo novo, cuja chama deve ser tal que dissipe as trevas e ilumine a noite.
Prepare-se o círio pascal que, no respeito da veracidade do sinal, “deve ser de cera, novo cada ano, único, relativamente grande, nunca artificial, para poder recordar que Cristo é a luz do mundo. A bênção do círio seja feita com os sinais e palavras indicados no Missal ou por outros aprovados pela Conferência Episcopal.[88]
83. A procissão com que o povo entra na igreja deve ser iluminada unicamente pela luz do círio pascal. Assim como os filhos de Israel eram guiados de noite pela coluna de fogo, assim também os cristãos, por sua vez, seguem a Cristo ressuscitado. Nada impede que, a cada resposta Demos graças a Deus!, se acrescente outra aclamação dirigida a Cristo.
A luz do círio pascal passará, gradualmente, às velas que os fiéis têm em suas mãos, permanecendo ainda apagadas as lâmpadas elétricas.
84. O diácono faz a proclamação da Páscoa, magnífico poema lírico que apresenta todo o mistério pascal inserido na economia da salvação. Se necessário, ou por falta de diácono ou por impossibilidade do sacerdote celebrante, tal proclamação seja confiada a um cantor. As conferências episcopais podem adaptar convenientemente esta proclamação, introduzindo nela algumas aclamações da assembléia.[89]
85. As leituras da Sagrada Escritura formam a segunda parte da vigília. Elas descrevem os acontecimentos culminantes da história da salvação, que os fiéis devem poder tranqüilamente meditar por meio do canto do Salmo responsorial, do silêncio e da oração do celebrante.
O renovado Ordo da vigília compreende sete leituras do Antigo Testamento, tomadas dos livros da lei e dos profetas, já utilizadas com freqüência nas antigas tradições litúrgicas tanto do Oriente como do Ocidente; e duas leituras do Novo Testamento, tomadas das cartas dos apóstolos e do Evangelho. Desta maneira, a Igreja “começando por Moisés e seguindo pelos profetas”[90], interpreta o mistério pascal de Cristo. Portanto, na medida em que for possível, leiam-se todas as leituras de maneira que se respeite completamente a natureza da vigília pascal, que exige uma certa duração.
Todavia, onde as circunstâncias de natureza pastoral exigem que se reduza ainda o número das leituras, leiam-se ao menos três do Antigo Testamento, a saber, dos livros da lei e dos profetas; nunca se pode omitir a leitura do capítulo 14 do Êxodo, com o seu cântico.[91]
86. O significado tipológico dos textos do Antigo Testamento tem as suas raízes no Novo, e aparece sobretudo na oração pronunciada pelo celebrante depois de cada uma das leituras; para chamar a atenção dos fiéis, poderá ser também útil uma breve introdução para que compreendam o significado das mesmas. Tal introdução pode ser feita pelo próprio sacerdote celebrante ou pelo diácono. As Comissões litúrgicas nacionais ou diocesanas poderão cuidar da preparação de subsídios oportunos, que sirvam de ajuda aos pastores.
Depois da leitura canta-se o salmo com a resposta do povo. Na repetição destes diversos elementos mantenha-se um ritmo que possa favorecer a participação e a devoção dos fiéis.[92] Evite-se com todo o cuidado que os salmos sejam substituídos por canções populares.
87. No final das leituras do Antigo Testamento canta-se o Glória a Deus, tocam-se os sinos segundo os usos locais, pronuncia-se a oração e passa-se às leituras do Novo Testamento. Lê-se a exortação do apóstolo sobre o Batismo, entendido como inserção no mistério pascal de Cristo.
Depois, todos se levantam: o sacerdote entoa por três vezes o Aleluia, elevando gradualmente a voz, e o povo repete-o.[93] Se necessário, o sal. mista ou um cantor entoa o Aleluia, que o povo prossegue intercalando a aclamação entre os versículos do Salmo 117, tantas vezes citado pelos apóstolos na pregação pascal.[94] Por fim, com o Evangelho é anunciada a ressurreição do Senhor, como ápice de toda a liturgia da Palavra. Não se deve omitir a homilia, ainda que seja breve.
88. A terceira parte da vigília é constituída pela liturgia batismal. A Páscoa de Cristo e nossa é agora celebrada no sacramento. Isto pode ser expresso de maneira mais completa nas igrejas que têm a fonte batismal, e sobretudo quando tem lugar a iniciação cristã dos adultos ou, pelo menos, o batismo de crianças.[95] Mesmo que não haja a cerimônia do Batismo, nas igrejas paroquiais deve-se fazer a bênção da água batismal. Quando esta bênção não é feita na fonte batismal mas no presbitério, num segundo momento a água batismal seja levada ao batistério, onde será conservada durante todo o tempo pascal.[96] Onde não haja a cerimônia do Batismo nem se deva benzer a água batismal, a memória do Batismo é feita na bênção da água que depois servirá para aspergir o povo.[97]
89. Em seguida tem lugar a renovação das promessas batismais, introduzida com uma palavra do celebrante. Os fiéis, de pé e com as velas acesas na mão, respondem às interrogações.
Depois eles são aspergidos com a água: desse modo, gestos e palavras recordam-lhes o Batismo recebido. O sacerdote celebrante asperge o povo passando pela nave da igreja, enquanto todos cantam a antífona Vidi aquam ou outro cântico de caráter batismal.[98]
90. A celebração da Eucaristia forma a quarta parte da vigília e o seu ápice, sendo de modo pleno o sacramento da Páscoa, ou seja, memorial do sacrifício da cruz e presença de Cristo ressuscitado, consumação da iniciação cristã e antegozo da Páscoa eterna.
91. Recomenda-se não celebrar apressadamente a liturgia eucarística; é muito conveniente que todos os ritos e as palavras que os acompanham alcancem toda a sua força expressiva: a oração universal, mediante a qual os neófitos participam pela primeira vez como fiéis e exercem o seu sacerdócio real[99]; a procissão do ofertório, com a participação dos neófitos, se estiverem presentes; a oração eucarística primeira, segunda ou terceira, possivelmente cantada, com os seus embolismos próprios[100]; a comunhão eucarística, que é o momento da plena participação no mistério celebrado. Durante a Comunhão é oportuno’ cantar o Salmo 117, com a antífona Cristo, nossa Páscoa, ou o Salmo 33, com a antífona Aleluia, Aleluia, Aleluia, ou outro cântico de júbilo pascal.
92. É muito desejável que na comunhão da vigília pascal se alcance a plenitude do sinal eucarístico, recebido sob as espécies do pão e do vinho. O ordinário do lugar julgue sobre a oportunidade desta concessão e das suas modalidades.[101]
c) Algumas advertências pastorais
93. A liturgia da vigília pascal seja realizada de modo a poder oferecer ao povo cristão a riqueza dos ritos e das orações; é importante que seja respeitada a verdade dos sinais, se favoreça a participação dos fiéis e seja assegurada a presença de ministros, leitores e cantores.
94. É desejável que, segundo as circunstâncias, seja prevista a reunião de diversas comunidades numa mesma igreja, quando, por razão da proximidade das igrejas ou do reduzido número de participantes, não se possa ter uma celebração completa e festiva. Favoreça-se a participação de grupos particulares na celebração da vigília pascal, na qual todos os fiéis, formando uma única assembléia, possam experimentar de modo mais profundo o sentido de pertença à mesma comunidade eclesial.
Os fiéis que, por motivo das férias, estão ausentes da própria paróquia sejam convidados participar na celebração litúrgica no lugar onde se encontram.
95. Ao anunciar a vigília pascal, evite-se apresentá-la como o último ato do Sábado Santo. Diga-se antes que a vigília pascal se celebra “na noite da Páscoa” e como um único ato de culto. Recomenda-se encarecidamente aos pastores insistir na formação dos fiéis sobre a importância de se participar em toda a vigília pascal.[102]
96. Para poder celebrar a vigília pascal com o máximo proveito, convém que os próprios pastores adquiram um conhecimento melhor tanto dos textos como dos ritos, a fim de poderem dar uma mistagogia que seja autêntica.
B) O dia da Páscoa
97. A missa do dia da Páscoa deve ser celebrada com grande solenidade. Em lugar do ato penitencial, é muito conveniente fazer a aspersão com a água benzida durante a celebração da vigília. Durante a aspersão, pode-se cantar a antífona Vidi aquam ou outro cântico de caráter batismal. Com essa mesma água convém encher os recipientes (vasos, pias) que se encontram à entrada da igreja,
98. Conserve-se, onde ainda está em vigor, ou, segundo a oportunidade, instaure-se a tradição de celebrar as vésperas batismais do dia da Páscoa, durante as quais ao canto dos salmos se faz a procissão à fonte,[103]
99. O círio pascal, colocado junto do ambão ou perto do altar, permaneça aceso ao menos em todas as celebrações litúrgicas mais solenes deste tempo, tanto na missa como nas laudes e vésperas, até ao domingo de Pentecostes, Depois, o círio é conservado bom a devida honra no batistério, para acender nele os círios dos neo-batizados. Na celebração das exéquias o círio pascal seja colocado junto do féretro, para indicar que a morte é para o cristão a sua verdadeira Páscoa.
A) A vigília pascal da noite santa
77. Segundo uma antiquíssima tradição, esta noite é “em honra do Senhor”[79], e a vigília que nela se celebra, comemorando a noite santa em que o Senhor ressuscitou, deve ser considerada como “mãe de todas as santas vigílias”.[80] Nesta vigília, de fato, a Igreja permanece à espera da ressurreição do Senhor e celebra-a com os sacramentos da iniciação cristã.[81]
a) Significado da característica noturna da vigília pascal
78. “Toda a vigília pascal seja celebrada durante a noite, de modo que não comece antes do anoitecer e sempre termine antes da aurora de domingo”,[82] Esta regra deve ser interpretada estritamente. Qualquer abuso ou costume contrário, às vezes verificado, de se antecipar a hora da celebração da vigília pascal para horas em que, habitualmente, se celebram as missas vespertinas antes dos domingos, deve ser reprovado.[83] As razões apresentadas para antecipar a vigília pascal, como por exemplo a insegurança pública, não se têm em conta no caso da noite de Natal ou de reuniões que se realizam de noite.
79. A vigília pascal, na qual os judeus esperaram a passagem do Senhor que os libertaria da escravidão do Faraó, foi por eles observada como memorial a ser celebrado todos os anos; era a figura da futura e verdadeira Páscoa de Cristo, isto é, da noite da verdadeira libertação, na qual.. Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor”.[84]
80. Desde o início a Igreja tem celebrado a Páscoa anual, solenidade das solenidades, com uma vigília noturna. Com efeito, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança, e por meio do Batismo e da Confirmação fomos inseridos no mistério pascal de Cristo: mortos, sepultados e ressuscitados com Ele, com Ele também havemos de reinar.[85]
b) A estrutura da vigília pascal e a importância dos seus elementos e das suas partes
81. A vigília tem a seguinte estrutura: depois do lucernário e da proclamação da Páscoa (primeira parte da vigília), a santa Igreja contempla as maravilhas que Deus operou em favor do seu povo desde o início (segunda parte ou liturgia da Palavra), até ao momento em que, com os seus membros regenerados pelo Batismo (terceira parte), é convidada à mesa, preparada pelo Senhor para o seu povo, memorial da sua morte e ressurreição, à espera da sua nova vinda (quarta parte).[87]
Esta estrutura dos ritos por ninguém pode ser mudada arbitrariamente.
82. A primeira parte compreende ações simbólicas e gestos, que devem ser realizados com tal dignidade e expressividade, de maneira que os fiéis possam verdadeiramente compreender o significado, sugerido pelas advertências e orações litúrgicas.
Na medida em que for possível, prepare-se fora da igreja, em lugar conveniente, o braseiro para a bênção do fogo novo, cuja chama deve ser tal que dissipe as trevas e ilumine a noite.
Prepare-se o círio pascal que, no respeito da veracidade do sinal, “deve ser de cera, novo cada ano, único, relativamente grande, nunca artificial, para poder recordar que Cristo é a luz do mundo. A bênção do círio seja feita com os sinais e palavras indicados no Missal ou por outros aprovados pela Conferência Episcopal.[88]
83. A procissão com que o povo entra na igreja deve ser iluminada unicamente pela luz do círio pascal. Assim como os filhos de Israel eram guiados de noite pela coluna de fogo, assim também os cristãos, por sua vez, seguem a Cristo ressuscitado. Nada impede que, a cada resposta Demos graças a Deus!, se acrescente outra aclamação dirigida a Cristo.
A luz do círio pascal passará, gradualmente, às velas que os fiéis têm em suas mãos, permanecendo ainda apagadas as lâmpadas elétricas.
84. O diácono faz a proclamação da Páscoa, magnífico poema lírico que apresenta todo o mistério pascal inserido na economia da salvação. Se necessário, ou por falta de diácono ou por impossibilidade do sacerdote celebrante, tal proclamação seja confiada a um cantor. As conferências episcopais podem adaptar convenientemente esta proclamação, introduzindo nela algumas aclamações da assembléia.[89]
85. As leituras da Sagrada Escritura formam a segunda parte da vigília. Elas descrevem os acontecimentos culminantes da história da salvação, que os fiéis devem poder tranqüilamente meditar por meio do canto do Salmo responsorial, do silêncio e da oração do celebrante.
O renovado Ordo da vigília compreende sete leituras do Antigo Testamento, tomadas dos livros da lei e dos profetas, já utilizadas com freqüência nas antigas tradições litúrgicas tanto do Oriente como do Ocidente; e duas leituras do Novo Testamento, tomadas das cartas dos apóstolos e do Evangelho. Desta maneira, a Igreja “começando por Moisés e seguindo pelos profetas”[90], interpreta o mistério pascal de Cristo. Portanto, na medida em que for possível, leiam-se todas as leituras de maneira que se respeite completamente a natureza da vigília pascal, que exige uma certa duração.
Todavia, onde as circunstâncias de natureza pastoral exigem que se reduza ainda o número das leituras, leiam-se ao menos três do Antigo Testamento, a saber, dos livros da lei e dos profetas; nunca se pode omitir a leitura do capítulo 14 do Êxodo, com o seu cântico.[91]
86. O significado tipológico dos textos do Antigo Testamento tem as suas raízes no Novo, e aparece sobretudo na oração pronunciada pelo celebrante depois de cada uma das leituras; para chamar a atenção dos fiéis, poderá ser também útil uma breve introdução para que compreendam o significado das mesmas. Tal introdução pode ser feita pelo próprio sacerdote celebrante ou pelo diácono. As Comissões litúrgicas nacionais ou diocesanas poderão cuidar da preparação de subsídios oportunos, que sirvam de ajuda aos pastores.
Depois da leitura canta-se o salmo com a resposta do povo. Na repetição destes diversos elementos mantenha-se um ritmo que possa favorecer a participação e a devoção dos fiéis.[92] Evite-se com todo o cuidado que os salmos sejam substituídos por canções populares.
87. No final das leituras do Antigo Testamento canta-se o Glória a Deus, tocam-se os sinos segundo os usos locais, pronuncia-se a oração e passa-se às leituras do Novo Testamento. Lê-se a exortação do apóstolo sobre o Batismo, entendido como inserção no mistério pascal de Cristo.
Depois, todos se levantam: o sacerdote entoa por três vezes o Aleluia, elevando gradualmente a voz, e o povo repete-o.[93] Se necessário, o sal. mista ou um cantor entoa o Aleluia, que o povo prossegue intercalando a aclamação entre os versículos do Salmo 117, tantas vezes citado pelos apóstolos na pregação pascal.[94] Por fim, com o Evangelho é anunciada a ressurreição do Senhor, como ápice de toda a liturgia da Palavra. Não se deve omitir a homilia, ainda que seja breve.
88. A terceira parte da vigília é constituída pela liturgia batismal. A Páscoa de Cristo e nossa é agora celebrada no sacramento. Isto pode ser expresso de maneira mais completa nas igrejas que têm a fonte batismal, e sobretudo quando tem lugar a iniciação cristã dos adultos ou, pelo menos, o batismo de crianças.[95] Mesmo que não haja a cerimônia do Batismo, nas igrejas paroquiais deve-se fazer a bênção da água batismal. Quando esta bênção não é feita na fonte batismal mas no presbitério, num segundo momento a água batismal seja levada ao batistério, onde será conservada durante todo o tempo pascal.[96] Onde não haja a cerimônia do Batismo nem se deva benzer a água batismal, a memória do Batismo é feita na bênção da água que depois servirá para aspergir o povo.[97]
89. Em seguida tem lugar a renovação das promessas batismais, introduzida com uma palavra do celebrante. Os fiéis, de pé e com as velas acesas na mão, respondem às interrogações.
Depois eles são aspergidos com a água: desse modo, gestos e palavras recordam-lhes o Batismo recebido. O sacerdote celebrante asperge o povo passando pela nave da igreja, enquanto todos cantam a antífona Vidi aquam ou outro cântico de caráter batismal.[98]
90. A celebração da Eucaristia forma a quarta parte da vigília e o seu ápice, sendo de modo pleno o sacramento da Páscoa, ou seja, memorial do sacrifício da cruz e presença de Cristo ressuscitado, consumação da iniciação cristã e antegozo da Páscoa eterna.
91. Recomenda-se não celebrar apressadamente a liturgia eucarística; é muito conveniente que todos os ritos e as palavras que os acompanham alcancem toda a sua força expressiva: a oração universal, mediante a qual os neófitos participam pela primeira vez como fiéis e exercem o seu sacerdócio real[99]; a procissão do ofertório, com a participação dos neófitos, se estiverem presentes; a oração eucarística primeira, segunda ou terceira, possivelmente cantada, com os seus embolismos próprios[100]; a comunhão eucarística, que é o momento da plena participação no mistério celebrado. Durante a Comunhão é oportuno’ cantar o Salmo 117, com a antífona Cristo, nossa Páscoa, ou o Salmo 33, com a antífona Aleluia, Aleluia, Aleluia, ou outro cântico de júbilo pascal.
92. É muito desejável que na comunhão da vigília pascal se alcance a plenitude do sinal eucarístico, recebido sob as espécies do pão e do vinho. O ordinário do lugar julgue sobre a oportunidade desta concessão e das suas modalidades.[101]
c) Algumas advertências pastorais
93. A liturgia da vigília pascal seja realizada de modo a poder oferecer ao povo cristão a riqueza dos ritos e das orações; é importante que seja respeitada a verdade dos sinais, se favoreça a participação dos fiéis e seja assegurada a presença de ministros, leitores e cantores.
94. É desejável que, segundo as circunstâncias, seja prevista a reunião de diversas comunidades numa mesma igreja, quando, por razão da proximidade das igrejas ou do reduzido número de participantes, não se possa ter uma celebração completa e festiva. Favoreça-se a participação de grupos particulares na celebração da vigília pascal, na qual todos os fiéis, formando uma única assembléia, possam experimentar de modo mais profundo o sentido de pertença à mesma comunidade eclesial.
Os fiéis que, por motivo das férias, estão ausentes da própria paróquia sejam convidados participar na celebração litúrgica no lugar onde se encontram.
95. Ao anunciar a vigília pascal, evite-se apresentá-la como o último ato do Sábado Santo. Diga-se antes que a vigília pascal se celebra “na noite da Páscoa” e como um único ato de culto. Recomenda-se encarecidamente aos pastores insistir na formação dos fiéis sobre a importância de se participar em toda a vigília pascal.[102]
96. Para poder celebrar a vigília pascal com o máximo proveito, convém que os próprios pastores adquiram um conhecimento melhor tanto dos textos como dos ritos, a fim de poderem dar uma mistagogia que seja autêntica.
B) O dia da Páscoa
97. A missa do dia da Páscoa deve ser celebrada com grande solenidade. Em lugar do ato penitencial, é muito conveniente fazer a aspersão com a água benzida durante a celebração da vigília. Durante a aspersão, pode-se cantar a antífona Vidi aquam ou outro cântico de caráter batismal. Com essa mesma água convém encher os recipientes (vasos, pias) que se encontram à entrada da igreja,
98. Conserve-se, onde ainda está em vigor, ou, segundo a oportunidade, instaure-se a tradição de celebrar as vésperas batismais do dia da Páscoa, durante as quais ao canto dos salmos se faz a procissão à fonte,[103]
99. O círio pascal, colocado junto do ambão ou perto do altar, permaneça aceso ao menos em todas as celebrações litúrgicas mais solenes deste tempo, tanto na missa como nas laudes e vésperas, até ao domingo de Pentecostes, Depois, o círio é conservado bom a devida honra no batistério, para acender nele os círios dos neo-batizados. Na celebração das exéquias o círio pascal seja colocado junto do féretro, para indicar que a morte é para o cristão a sua verdadeira Páscoa.
VIII. O TEMPO PASCAL
100. A celebração da Páscoa continua durante o tempo pascal. Os cinqüenta dias que vão do domingo da Ressurreição ao domingo de Pentecostes são celebrados com alegria como um só dia festivo, antes como “o grande domingo”.[105]
101. Os domingos deste tempo devem ser considerados como “domingos de Páscoa” e têm precedência sobre qualquer festa do Senhor e qualquer solenidade. As solenidades que coincidem com estes domingos são celebradas no sábado anterior.[106] As festas em honra da bem-aventurada Virgem Maria ou dos santos, que ocorrem durante a semana, não podem ser transferidas para estes domingos.[107]
102. Para os adultos que receberam a iniciação cristã na vigília pascal, todo este tempo é reservado à mistagogia. Portanto, onde houver neófitos, observe-se tudo o que é indicado noRito da Iniciação cristã dos adultos, n. 37-40 e 235-239. Faça-se sempre, na oitava da Páscoa, a oração de intercessão pelos neo-batizados, inserida na oração eucarística.
103. Durante todo o tempo pascal, nas missas dominicais, os neófitos tenham reservado um lugar especial entre os fiéis. Procurem eles participar nas missas juntamente com os seus padrinhos. Na homília e, segundo a oportunidade, na oração universal, faça-se menção deles.
No encerramento do tempo da mistagogia, nas proximidades do domingo de Pentecostes, faça-se alguma celebração segundo os costumes da própria região.[108] Além disso, é muito oportuno que as crianças recebam a sua Primeira Comunhão nestes domingos pascais.
104. Durante o tempo pascal os pastores instruam os fiéis, que já fizeram a Primeira Comunhão, sobre o significado do preceito da Igreja de receber neste tempo a Eucaristia.[109] Recomenda-se, sobretudo na oitava da Páscoa, que a sagrada Comunhão seja levada aos doentes.
105. Onde houver o costume de benzer as casas por ocasião das festas pascais, tal bênção seja feita pelo pároco ou por outros sacerdotes ou diáconos por ele delegados. É esta uma ocasião preciosa para exercitar o múnus pastoral.[110] O pároco faça a visita pastoral a cada família, tenha um colóquio com os seus membros e ore brevemente com eles, usando os textos contidos no Ritual das Bênçãos.[111] Nas grandes cidades veja-se a possibilidade de reunir mais famílias, para juntas celebrarem o rito da bênção.
106. Segundo a diversidade dos lugares e dos povos, existem muitos costumes populares vinculados com as celebrações do tempo pascal, que às vezes suscitam. maior participação popular que as mesmas celebrações litúrgicas; tais costumes não devem ser desprezados, e podem muitas vezes manifestar a mentalidade religiosa dos fiéis. Por isso, as conferências episcopais e os ordinários do lugar cuidem de que estes costumes, que podem favorecer a piedade, possam ser ordenados do melhor modo possível com a liturgia, estejam impregnados do seu espírito e a ela conduzam o povo de Deus.[112]
107. O domingo de Pentecostes conclui este sagrado período de cinqüenta dias, quando se comemora o dom do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, os primórdios da Igreja e o início da sua missão a todos os povos, raças e nações.[113] Recomenda-se a celebração prolongada da missa da vigília, que não tem um caráter batismal como a vigília da Páscoa, mas de oração intensa segundo o exemplo dos apóstolos e discípulos, que perseveravam unânimes em oração juntamente com Maria, a Mãe de Jesus, esperando a vinda do Espírito Santo.[114]
108. “É próprio da festividade pascal que toda a Igreja se alegre pelo perdão dos pecados, concedido não só àqueles que renascem no santo Batismo, mas também aos que há tempo foram admitidos no número dos filhos adotivos”.[115] Mediante uma atividade pastoral mais intensa e maior empenho espiritual da parte de cada um, com a graça do Senhor, será possível a todos os que tenham participado nas festas pascais testemunhar na vida o mistério da Páscoa celebrado na fé.[116]
Da sede da Congregação para o Culto Divino, a 16 de janeiro de 1988.
100. A celebração da Páscoa continua durante o tempo pascal. Os cinqüenta dias que vão do domingo da Ressurreição ao domingo de Pentecostes são celebrados com alegria como um só dia festivo, antes como “o grande domingo”.[105]
101. Os domingos deste tempo devem ser considerados como “domingos de Páscoa” e têm precedência sobre qualquer festa do Senhor e qualquer solenidade. As solenidades que coincidem com estes domingos são celebradas no sábado anterior.[106] As festas em honra da bem-aventurada Virgem Maria ou dos santos, que ocorrem durante a semana, não podem ser transferidas para estes domingos.[107]
102. Para os adultos que receberam a iniciação cristã na vigília pascal, todo este tempo é reservado à mistagogia. Portanto, onde houver neófitos, observe-se tudo o que é indicado noRito da Iniciação cristã dos adultos, n. 37-40 e 235-239. Faça-se sempre, na oitava da Páscoa, a oração de intercessão pelos neo-batizados, inserida na oração eucarística.
103. Durante todo o tempo pascal, nas missas dominicais, os neófitos tenham reservado um lugar especial entre os fiéis. Procurem eles participar nas missas juntamente com os seus padrinhos. Na homília e, segundo a oportunidade, na oração universal, faça-se menção deles.
No encerramento do tempo da mistagogia, nas proximidades do domingo de Pentecostes, faça-se alguma celebração segundo os costumes da própria região.[108] Além disso, é muito oportuno que as crianças recebam a sua Primeira Comunhão nestes domingos pascais.
104. Durante o tempo pascal os pastores instruam os fiéis, que já fizeram a Primeira Comunhão, sobre o significado do preceito da Igreja de receber neste tempo a Eucaristia.[109] Recomenda-se, sobretudo na oitava da Páscoa, que a sagrada Comunhão seja levada aos doentes.
105. Onde houver o costume de benzer as casas por ocasião das festas pascais, tal bênção seja feita pelo pároco ou por outros sacerdotes ou diáconos por ele delegados. É esta uma ocasião preciosa para exercitar o múnus pastoral.[110] O pároco faça a visita pastoral a cada família, tenha um colóquio com os seus membros e ore brevemente com eles, usando os textos contidos no Ritual das Bênçãos.[111] Nas grandes cidades veja-se a possibilidade de reunir mais famílias, para juntas celebrarem o rito da bênção.
106. Segundo a diversidade dos lugares e dos povos, existem muitos costumes populares vinculados com as celebrações do tempo pascal, que às vezes suscitam. maior participação popular que as mesmas celebrações litúrgicas; tais costumes não devem ser desprezados, e podem muitas vezes manifestar a mentalidade religiosa dos fiéis. Por isso, as conferências episcopais e os ordinários do lugar cuidem de que estes costumes, que podem favorecer a piedade, possam ser ordenados do melhor modo possível com a liturgia, estejam impregnados do seu espírito e a ela conduzam o povo de Deus.[112]
107. O domingo de Pentecostes conclui este sagrado período de cinqüenta dias, quando se comemora o dom do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, os primórdios da Igreja e o início da sua missão a todos os povos, raças e nações.[113] Recomenda-se a celebração prolongada da missa da vigília, que não tem um caráter batismal como a vigília da Páscoa, mas de oração intensa segundo o exemplo dos apóstolos e discípulos, que perseveravam unânimes em oração juntamente com Maria, a Mãe de Jesus, esperando a vinda do Espírito Santo.[114]
108. “É próprio da festividade pascal que toda a Igreja se alegre pelo perdão dos pecados, concedido não só àqueles que renascem no santo Batismo, mas também aos que há tempo foram admitidos no número dos filhos adotivos”.[115] Mediante uma atividade pastoral mais intensa e maior empenho espiritual da parte de cada um, com a graça do Senhor, será possível a todos os que tenham participado nas festas pascais testemunhar na vida o mistério da Páscoa celebrado na fé.[116]
Da sede da Congregação para o Culto Divino, a 16 de janeiro de 1988.
Paul Augustin Card. MAYER
Prefeito
† Virgílio NOÉ
Secretário
[1] Cf. s. Congr. dos Ritos, Decr. Dominicae Resurrectionis, 621951, AAS 43 (1951) 128. 137; S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, AAS 47 (1955) 838-847.
[5] Cf. S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria. 16. 111955, AAS 47 (1955) 838. 847.
[12] “Normas gerais para o ordenamento do ano litúrgico e do calendário”, n. 5. 56f e “Notitae” 23 (1987) 397.
[14] Cf. Missal Romano, “Principios e normas para o uso do Missal Romano”, n. 42; cf. Rito daPenitência, n. 36. 37.
[24] Cf. PAULO VI, Const. Apost. Paenitemini. II, 2, AAS 58 (1966) 183; Código de Direito Canônico, cân. 1251.
[42] cr. S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, AAS 47 (1955) 858; Sto. Agostinho, Ep. 55, 24: PL 35, 215.
[43] Cf. Mc 2, 19-20; Tertuliano, De ieiunio adversus psychicos, 2 e 13, Corpus christianorum II, p. 1271.
[46] Cf. S. Congr. dos Ritos, Instrução Eucharisticum mysterium, 2551967, n. 26, AAS 59 (1967) 558. NB: Convém que nos mosteiros femininos a celebração do tríduo pascal se realize, na mesma Igreja do mosteiro, com a maior solenidade possível.
[47] Cf. S. Congr. dos Ritos, “Ordinationes et declarationes circa Ordinem hebdomadae sanctae instauratum”, 1.2.1957, n. 21: AAS 49 (1957) 91-95.
[49] Cf. S. Congr. para a Educação Católica, Instrução “De Institutione liturgica in seminariis”. 17. 51979, n. 15 e 33.
[54] Cf. Conc. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium. n. 55; S. Congr. dos Ritos, InstruçãoEucharisticum mysterium, 25.5.1967, n. 31, AAS 59 (1967) 557. 558.
[55] S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria. 16111955, n. 9, AAS 47 (1955) 845.
[61] Cf. S. Congr. dos Ritos, Declaração de 153. 1956, n. 3, AAS 48 (1956) 153; S. Congr. dos Ritos, “Ordinationes et declarationes circa Ordinem hebdomadae sanctae Instauratum”, 1. 2. 1957, n. 14, AAS 49 (1957) 93.
[62] Cf. Missal Romano, Missa vespertina “In Cena Domini”, n… 21; S. Congr. dos Ritos, Decr.Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, n. 8. 10, AAS 47 (1955) 645.
[65] Cf. Paulo VI, Const. Apost. Paenitemini, II, 2, AAS 58 (1966) 183: Código de Direito Canônico, cân. 1251.
[66] cr. Missal Romano, Sexta-feira Santa, n. 1; Congr. para o Culto Divino, “Declaratio ad Missale Romanum”, em Notitiae 13 (1977) 602.
[67] Cf. ibid., n. 3; s. Congr. dos Ritos, “Ordinationes et Declarationes circa Ordinem hebdomadae sanctae instauratum”, 1.2.1957, n. 15, AAS 49 (1957) 94.
[78] S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, n. 2, AAS 47 (1955) 843.
[83] S. Congr. dos Ritos, Instrução Eucharisticum mysterium, 25.5.1967, n. 28, AAS 59 (1967) 556-557.
[85] Cf. Conc. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 6; cf. Rm 6, 3-6; Et 2, 5-6; Cl 2, 12-13; 2Tm 2, 11-12.
[86] “Illam noctem agimus vigilando quia Dominus resurrexit et illam vitam. ubi nec mors ulla nec somnus est, in sua carne nobis inchoavit; quam sic excitavit a mortuis ut iam non moriatur nec mors ei ultra dominetur. Proinde cui resurgenti paulo diuius vigilando concinimus, praestabit ut cum illosine fine vivendo regnemus”: Sto. Agostinho, Sermo Guelferbytan. 5, 4: PLS 2. 552.
[104] Cf. Missal Romano, Domingo de Pentecostes, rubrica final: Rito do batismo das crianças, Iniciação cristã, Normas gerais n. 25.
[110] S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria. 16111955, n. 24, AAS 47 (1955) 847.
[112] Cf. Conc. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 13; cf. Congr. para o Culto Divino,Orientações e propostas para a celebração do Ano Mariano, 3.4.1987, n. 3, 51-56. 61
[114] As primeiras vésperas da solenidade podem unir-se com a missa, segundo o modo previsto nos Princípios e Normas para a Liturgia das Horas, n. 96. Para conhecer mais profundamente o mistério deste dia, podem ser lidas mais leituras da Sagrada Escritura, dentre as propostas pelo Lecionário, como facultativas para esta missa. Neste caso, o leitor lê no ambão a primeira leitura; depois o salmista ou cantor diz o salmo, com a resposta do povo. Em seguida todos se levantam e o sacerdote diz Oremos. Depois de um breve espaço de tempo em silêncio, diz a oração adaptada à leitura (p. ex. uma das orações marcadas para os dias feriais depois do VII Domingo da Páscoa
Prefeito
† Virgílio NOÉ
Secretário
[1] Cf. s. Congr. dos Ritos, Decr. Dominicae Resurrectionis, 621951, AAS 43 (1951) 128. 137; S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, AAS 47 (1955) 838-847.
[5] Cf. S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria. 16. 111955, AAS 47 (1955) 838. 847.
[12] “Normas gerais para o ordenamento do ano litúrgico e do calendário”, n. 5. 56f e “Notitae” 23 (1987) 397.
[14] Cf. Missal Romano, “Principios e normas para o uso do Missal Romano”, n. 42; cf. Rito daPenitência, n. 36. 37.
[24] Cf. PAULO VI, Const. Apost. Paenitemini. II, 2, AAS 58 (1966) 183; Código de Direito Canônico, cân. 1251.
[42] cr. S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, AAS 47 (1955) 858; Sto. Agostinho, Ep. 55, 24: PL 35, 215.
[43] Cf. Mc 2, 19-20; Tertuliano, De ieiunio adversus psychicos, 2 e 13, Corpus christianorum II, p. 1271.
[46] Cf. S. Congr. dos Ritos, Instrução Eucharisticum mysterium, 2551967, n. 26, AAS 59 (1967) 558. NB: Convém que nos mosteiros femininos a celebração do tríduo pascal se realize, na mesma Igreja do mosteiro, com a maior solenidade possível.
[47] Cf. S. Congr. dos Ritos, “Ordinationes et declarationes circa Ordinem hebdomadae sanctae instauratum”, 1.2.1957, n. 21: AAS 49 (1957) 91-95.
[49] Cf. S. Congr. para a Educação Católica, Instrução “De Institutione liturgica in seminariis”. 17. 51979, n. 15 e 33.
[54] Cf. Conc. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium. n. 55; S. Congr. dos Ritos, InstruçãoEucharisticum mysterium, 25.5.1967, n. 31, AAS 59 (1967) 557. 558.
[55] S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria. 16111955, n. 9, AAS 47 (1955) 845.
[61] Cf. S. Congr. dos Ritos, Declaração de 153. 1956, n. 3, AAS 48 (1956) 153; S. Congr. dos Ritos, “Ordinationes et declarationes circa Ordinem hebdomadae sanctae Instauratum”, 1. 2. 1957, n. 14, AAS 49 (1957) 93.
[62] Cf. Missal Romano, Missa vespertina “In Cena Domini”, n… 21; S. Congr. dos Ritos, Decr.Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, n. 8. 10, AAS 47 (1955) 645.
[65] Cf. Paulo VI, Const. Apost. Paenitemini, II, 2, AAS 58 (1966) 183: Código de Direito Canônico, cân. 1251.
[66] cr. Missal Romano, Sexta-feira Santa, n. 1; Congr. para o Culto Divino, “Declaratio ad Missale Romanum”, em Notitiae 13 (1977) 602.
[67] Cf. ibid., n. 3; s. Congr. dos Ritos, “Ordinationes et Declarationes circa Ordinem hebdomadae sanctae instauratum”, 1.2.1957, n. 15, AAS 49 (1957) 94.
[78] S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, n. 2, AAS 47 (1955) 843.
[83] S. Congr. dos Ritos, Instrução Eucharisticum mysterium, 25.5.1967, n. 28, AAS 59 (1967) 556-557.
[85] Cf. Conc. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 6; cf. Rm 6, 3-6; Et 2, 5-6; Cl 2, 12-13; 2Tm 2, 11-12.
[86] “Illam noctem agimus vigilando quia Dominus resurrexit et illam vitam. ubi nec mors ulla nec somnus est, in sua carne nobis inchoavit; quam sic excitavit a mortuis ut iam non moriatur nec mors ei ultra dominetur. Proinde cui resurgenti paulo diuius vigilando concinimus, praestabit ut cum illosine fine vivendo regnemus”: Sto. Agostinho, Sermo Guelferbytan. 5, 4: PLS 2. 552.
[104] Cf. Missal Romano, Domingo de Pentecostes, rubrica final: Rito do batismo das crianças, Iniciação cristã, Normas gerais n. 25.
[110] S. Congr. dos Ritos, Decr. Maxima redemptionis nostrae mysteria. 16111955, n. 24, AAS 47 (1955) 847.
[112] Cf. Conc. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 13; cf. Congr. para o Culto Divino,Orientações e propostas para a celebração do Ano Mariano, 3.4.1987, n. 3, 51-56. 61
[114] As primeiras vésperas da solenidade podem unir-se com a missa, segundo o modo previsto nos Princípios e Normas para a Liturgia das Horas, n. 96. Para conhecer mais profundamente o mistério deste dia, podem ser lidas mais leituras da Sagrada Escritura, dentre as propostas pelo Lecionário, como facultativas para esta missa. Neste caso, o leitor lê no ambão a primeira leitura; depois o salmista ou cantor diz o salmo, com a resposta do povo. Em seguida todos se levantam e o sacerdote diz Oremos. Depois de um breve espaço de tempo em silêncio, diz a oração adaptada à leitura (p. ex. uma das orações marcadas para os dias feriais depois do VII Domingo da Páscoa
A piedade litúrgica do Papa Francisco: actuosa participatio
Há quem diga que o Papa Francisco pouco tem a nos ensinar em matéria de liturgia. É verdade que tal tarefa não seria das mais fáceis para o sucessor - seja ele quem fosse - do Papa Bento XVI, um brilhante teólogo e um católico com um profundo entendimento da Sagrada Liturgia, manifesto não somente em todo seu ofício na Congregação Doutrina da Fé como também durante seu pontificado. E falo em católico porque o Papa Emérito Bento XVI não é um daqueles liturgistas teóricos - de bela retórica, entretanto, de vivência nula -, mas alguém de quem, por sua ars celebrandi, se pode dizer que penetra nos sagrados mistérios.
Bem, este breve texto do Pe. Gaspar S. C. Pelegrini, que reproduzimos na íntegra abaixo, faz notar certos gestos e atitudes do Sumo Pontífice os quais, aos olhos do observador atento, demonstram que Francisco também tem a Sagrada Liturgia como centro de sua espiritualidade, como "fonte e ponto culminante" (Lumen Gentium, 11) de toda sua vida cristã e, portanto, de sua ação evangelizadora e da alegria que ele sempre manifesta.
Já adianto meus comentários ao texto. A piedade litúrgica do Papa, manifesta em seu comportamento durante as ações litúrgicas, nos mostra que devemos imitá-lo e "saber distinguir os diversos momentos e o que convém a cada um", como disse o Pe. Gaspar. Vou um pouco mais longe: digo que o Santo Padre está nos ensinando, com todo o seu modo de ser, o real sentido de actuosa participatio, a participação ativa tão querida pelo Concílio Vaticano II (Sacrosanctum Concilium, 14), e, ao mesmo tempo, tão distorcida.
Afinal, temos um Papa muito alegre e afável, expansivo (no bom sentido do termo), extremamente sorridente e bem-humorado, que até parece tornar a conhecida expressão "o doce Cristo na terra" mais real. E que gosta de estar no meio do povo, e faz questão disso. Ora, poderia-se esperar que ele transmitisse esse seu modo de ser para a liturgia, para torná-la "mais próxima do povo", mais "participativa", como escutamos freqüentemente por aí. Mas não. Durante a liturgia o Santo Padre se porta sereno, compenetrado, tem um olhar ascético, muito profundo. E demonstra assim que a participação ativa, plena e frutuosa não é somente externa, mas também interna (Sacrosanctum Concilium, 19).
Há quem diga que o Papa Francisco pouco tem a nos ensinar em matéria de liturgia. É verdade que tal tarefa não seria das mais fáceis para o sucessor - seja ele quem fosse - do Papa Bento XVI, um brilhante teólogo e um católico com um profundo entendimento da Sagrada Liturgia, manifesto não somente em todo seu ofício na Congregação Doutrina da Fé como também durante seu pontificado. E falo em católico porque o Papa Emérito Bento XVI não é um daqueles liturgistas teóricos - de bela retórica, entretanto, de vivência nula -, mas alguém de quem, por sua ars celebrandi, se pode dizer que penetra nos sagrados mistérios.
Bem, este breve texto do Pe. Gaspar S. C. Pelegrini, que reproduzimos na íntegra abaixo, faz notar certos gestos e atitudes do Sumo Pontífice os quais, aos olhos do observador atento, demonstram que Francisco também tem a Sagrada Liturgia como centro de sua espiritualidade, como "fonte e ponto culminante" (Lumen Gentium, 11) de toda sua vida cristã e, portanto, de sua ação evangelizadora e da alegria que ele sempre manifesta.
Já adianto meus comentários ao texto. A piedade litúrgica do Papa, manifesta em seu comportamento durante as ações litúrgicas, nos mostra que devemos imitá-lo e "saber distinguir os diversos momentos e o que convém a cada um", como disse o Pe. Gaspar. Vou um pouco mais longe: digo que o Santo Padre está nos ensinando, com todo o seu modo de ser, o real sentido de actuosa participatio, a participação ativa tão querida pelo Concílio Vaticano II (Sacrosanctum Concilium, 14), e, ao mesmo tempo, tão distorcida.
Afinal, temos um Papa muito alegre e afável, expansivo (no bom sentido do termo), extremamente sorridente e bem-humorado, que até parece tornar a conhecida expressão "o doce Cristo na terra" mais real. E que gosta de estar no meio do povo, e faz questão disso. Ora, poderia-se esperar que ele transmitisse esse seu modo de ser para a liturgia, para torná-la "mais próxima do povo", mais "participativa", como escutamos freqüentemente por aí. Mas não. Durante a liturgia o Santo Padre se porta sereno, compenetrado, tem um olhar ascético, muito profundo. E demonstra assim que a participação ativa, plena e frutuosa não é somente externa, mas também interna (Sacrosanctum Concilium, 19).
A MISSA DO PAPA
Certamente ainda se vai escrever muito sobre a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. As alocuções do Santo Padre, seus gestos, etc.
Eu peço licença para falar de um ponto que muito vem me impressionando: a Missa do Papa. Participando da Jornada, pude constatar com meus olhos o que eu já vinha observando desde o dia seguinte à eleição do Papa Francisco: como ele celebra.

Durante missa com os seminaristas em Roma
Quando ele está no papamóvel, ou nos diversos encontros com o povo, ele acena, brinca, gesticula, sorri, abraça, etc. Mas quando ele vai celebrar a Santa Missa, a impressão é que é outra pessoa. Olhos baixos ou fechados, recolhimento, tom de voz mais grave, orações pausadas, etc.

Santo Padre cativando o povo com sua alegria e carisma
Creio que é mais um gesto de Francisco que precisamos imitar. Devemos saber distinguir os diversos momentos e o que convém a cada um.
Ao meu ver, houve até momentos na Jornada (no Glória da Missa de envio, por exemplo), em que faltou “sintonia”, digamos assim, entre o modo de celebrar, entre a atitude do Papa e o modo de cantar de alguns componentes do coral. Os olhos baixos e recolhidos do Papa, sua atitude de oração não combinavam com alguns do coral que batiam palmas, ou balançavam as mãos ou sorriam para as câmeras. Isso, a meu ver...

Ao fundo, o Sumo Pontífice, recolhido, durante a Missa de Envio da JMJ 2013
Há uma oração que parece ter um valor especial para o Papa, pois ele a reza de um modo diferente, mais pausado ainda: é a oração antes da paz: “Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos...” Na forma extraordinária do Rito Romano, esta oração é a primeira das três que antecedem a comunhão e a rubrica determina que o celebrante deve rezá-la, bem como as outras duas, olhando para a hóstia consagrada. Pois, é assim que o Santo Padre a reza, chegando a interrompê-la um pouquinho para contemplar o Senhor Sacramentado.
Um último ponto, é como o Papa termina sua Missa sempre voltando-se para nossa Senhora. Sempre que há uma imagem da Virgem Maria no altar, ele se dirige até ela, oscula, põe a mão e faz o sinal da Cruz.

Papa Francisco durante visita à Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Que possamos imitar os muitos gestos de Francisco, de modo especial seu “modus celebrandi”, seu modo de celebrar. No que depende de cada um de nós, procuremos superar as faltas de sintonia entre celebrante, coral e povo. Que no altar, no coral e na assembleia, todos realmente estejam “una voce”, ou seja a uma só voz, com os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes.
Certamente ainda se vai escrever muito sobre a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. As alocuções do Santo Padre, seus gestos, etc.Eu peço licença para falar de um ponto que muito vem me impressionando: a Missa do Papa. Participando da Jornada, pude constatar com meus olhos o que eu já vinha observando desde o dia seguinte à eleição do Papa Francisco: como ele celebra.
Durante missa com os seminaristas em Roma Quando ele está no papamóvel, ou nos diversos encontros com o povo, ele acena, brinca, gesticula, sorri, abraça, etc. Mas quando ele vai celebrar a Santa Missa, a impressão é que é outra pessoa. Olhos baixos ou fechados, recolhimento, tom de voz mais grave, orações pausadas, etc.
Santo Padre cativando o povo com sua alegria e carisma Creio que é mais um gesto de Francisco que precisamos imitar. Devemos saber distinguir os diversos momentos e o que convém a cada um.Ao meu ver, houve até momentos na Jornada (no Glória da Missa de envio, por exemplo), em que faltou “sintonia”, digamos assim, entre o modo de celebrar, entre a atitude do Papa e o modo de cantar de alguns componentes do coral. Os olhos baixos e recolhidos do Papa, sua atitude de oração não combinavam com alguns do coral que batiam palmas, ou balançavam as mãos ou sorriam para as câmeras. Isso, a meu ver...
Ao fundo, o Sumo Pontífice, recolhido, durante a Missa de Envio da JMJ 2013 Há uma oração que parece ter um valor especial para o Papa, pois ele a reza de um modo diferente, mais pausado ainda: é a oração antes da paz: “Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos...” Na forma extraordinária do Rito Romano, esta oração é a primeira das três que antecedem a comunhão e a rubrica determina que o celebrante deve rezá-la, bem como as outras duas, olhando para a hóstia consagrada. Pois, é assim que o Santo Padre a reza, chegando a interrompê-la um pouquinho para contemplar o Senhor Sacramentado.Um último ponto, é como o Papa termina sua Missa sempre voltando-se para nossa Senhora. Sempre que há uma imagem da Virgem Maria no altar, ele se dirige até ela, oscula, põe a mão e faz o sinal da Cruz.
Papa Francisco durante visita à Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Que possamos imitar os muitos gestos de Francisco, de modo especial seu “modus celebrandi”, seu modo de celebrar. No que depende de cada um de nós, procuremos superar as faltas de sintonia entre celebrante, coral e povo. Que no altar, no coral e na assembleia, todos realmente estejam “una voce”, ou seja a uma só voz, com os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes.
O Papa Francisco e a liturgia
Pululam na internet ataques ao Papa Francisco, vindos de radicais tradicionalistas ao Papa, tanto quanto de progressistas e adeptos da teologia da libertação, o que faz com que a idéia do Carlos Ramalhete de que ambos os grupos sejam de modernistas - os radtrads seriam "modernistas de direita" - seja bastante crível.
De um lado, podemos responder às críticas dos radtrads, sem caridade e sem reverência para com o Sumo Pontífice, com breves apontamentos:
Em primeiro lugar, como católicos temos que AMAR o Papa, não necessariamente "ir com a cara dele"... Eu vou, gosto de Sua Santidade, mas não vejo problema em alguém, com a devida reverência, estar mais apreensivo. Além disso, é o Papa que parece certo para o momento atual: com aquele sorriso e a postura de servo, de humilde, como é que os gayzistas, os midiáticos e os pró-aborto vão atacar? Até atacam, mas só os mais raivosos... Aquele "católico" que acredita em coisas liberais, que não gosta "do nazista Ratzinger" fica desarmado com a imagem que Francisco passa.
De um lado os TLs e os radtrads criticando o Papa. De outro, os ingênuos achando tudo uma maravilha porque o Espírito Santo escolhe de modo infalível o Sumo Pontífice - sem se atentar que são pessoas os Cardeais e o Papa, com suas opiniões, seus defeitos, suas virtudes.
E nós no meio da tempestade, elogiando as coisas bonitas do novo Papa, a importância dele na nova evangelização, na DSI e na melhora na imagem da Igreja, e percebendo também, infelizmente, que, se por um lado, a "tara pelas rendinhas" é uma infantilidade, por outro, o cuidado "ratzingeriano" e "tridentino" para com a liturgia é algo importante e que, ao que parece, pelo seu histórico como Arcebispo de Buenos Aires, Francisco não leva tão em conta assim.
De qualquer maneira, um Papa não tem por função ser santo canonizado ou altamente intelectual, mas governar a Igreja. Quem governe. Se não for o Papa dos sonhos de alguns, como Scola, Ouillet, O'Mahley, Ranjith, Burke, Erdo, etc, ainda é o Papa. Pode não fazer o que achamos que deveria fazer, mas governará a Igreja, e penso que acertará em vários pontos. E ao Papa amamos, não necessariamente temos que virar seus fãs.
Enfim, para fechar parênteses, indico três textos que tratam dessa onda de desrespeito ao Papa, vinda de setores tradicionalistas extremos, nos blogs:
Passemos ao tema da liturgia.
Considero que, realmente, em Bento XVI, tivemos um Papa que não apenas celebrava a liturgia conforme o Missal Romano - como Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II -, mas que deu um "salto" em direção à tradição do rito romano. Bento não se contentou em simplesmente observar as normas e fazer o mínimo. Ele explorou vários aspectos da sacralidade da liturgia romana, inserindo o Novus Ordo na grande tradição ocidental que nos legou o rito de São Pio V.
Bento XVI promulgou o Motu Proprio Summorum Pontificum, liberando o uso do Missal de 1962 para todos os fiéis e sacerdotes, sem necessidade de permissão do Bispo.
Bento XVI criou os Ordinariatos Pessoais para atrair para a Igreja os anglicanos tradicionais e conservadores, que possuem um amor muito grande à liturgia reverente, celebram em latim, versus Deum, e praticam ritos medievais ingleses. Isso muito contribuirá para o enriquecimento litúrgico do próprio rito romano atual.
Bento XVI revogou as excomunhões dos quatro Bispos sagrados por D. Lefebvre e que constituem-se na liderança da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ao mesmo tempo, empenhou-se nas negociações doutrinárias e litúrgicas para os atrair à plena comunhão com Roma, o que reforçaria em muito o movimento pelo resgate da sacralidade litúrgica, do correto entendimento teológico e espiritual do que é a Missa, e promoveria o rito antigo.
Bento XVI celebrou, em algumas ocasiões, a Missa no rito novo versus Deum, "de costas" ao povo, dando exemplo.
Bento XVI instituiu o uso dos candelabros e do crucifixo no altar, chamado de "arranjo beneditino", de tal forma que, mesmo versus populum, Cristo ficasse no centro da celebração da Missa.
Bento XVI passou a distribuir a Comunhão aos fiéis de joelhos e exclusivamente na boca.
Bento XVI continuou com as grandes catequeses de João Paulo II sobre a obediência às normas litúrgicas e foi além: desenvolveu a sua teologia da liturgia, da época em que era Cardeal, e impulsionou o "novo movimento litúrgico".
Bento XVI priorizou a Missa em latim, mesmo no rito novo, e não em italiano.
Bento XVI escolheu paramentos mais nobres, usou várias vezes a casula romana, e as casulas góticas eram mais cuidadas, mais dignas.
Bento XVI incentivou o canto gregoriano e a polifonia sacra.
Bento XVI elegeu Mons. Guido Marini como seu mestre de cerimônias.
E Francisco?
Bem, o então Cardeal Bergoglio não era um adepto da chamada "reforma da reforma". No mais das vezes, celebrava dignamente a Santa Missa, obedecendo às normas do Missal, sempre com casula, usando incenso, sendo sacral, mas nada muito "extraordinário", contendo-se com o mínimo. Em alguns episódios, deu algumas derrapadas, como a Missa das Crianças que se encontra facilmente na internet, ou o lava-pés de estola diaconal e com mulheres. Parece que não se acertou muito bem com a forma extraordinária em Buenos Aires, ainda que a tenha autorizado em tempo recorde após o Summorum Pontificum.
Em sua primeira aparição como Papa, recusou trajar vestes corais, usando apenas a batina. Envergou, por isso, a estola apenas para dar a bênção.
Já na Missa Pro Ecclesia, no encerramento do Ordo Rituum Conclavis, Sua Santidade deixou de lado a bela tradição resgatada por Bento XVI em usar o altar-mor, "grudado" na parede, de modo versus Deum, e colocou um segundo altar em que pudesse se enfiar atrás para celebrar versus populum, o que não se pode deixar de, respeitosamente, lamentar. Na mesma Missa, dispensou a mitra e o báculo para fazer a homilia - uma belíssima e profunda homilia, aliás! -, e pregou do ambão e não da cátedra, deixando de manifestar, assim, símbolos profundos de sua autoridade primacial. Entretanto, na mesma Missa, usou a férula de Bento XVI, uma casula com conchas - símbolo muito caro a Bento - houve canto gregoriano, polifonia sacra, e a celebração foi em latim, não em italiano: pontos positivos!
Se essas posturas forem identificações de um Papado que, embora celebre de acordo com as normas, não se empenhem na "reforma da reforma" ou em uma especial promoção da liturgia, seria algo triste, temos de reconhecer.
Todavia, é triste, mas não um pecado, não motivo para rasgar as vestes e profetizar o Apocalipse, como alguns têm feito. A função do Papa não é somente promover a liturgia. A liturgia é uma missão importantíssima, mas não é única, e outras mais urgentes podem ser levadas a termo pelo Papa Francisco. É ele quem comanda a barca de Pedro, não nós. Se ele, ao celebrar a liturgia sem aquele "ethos" ratzingeriano, cumprir o mínimo, mas trabalhar bem em outros campos - o combate ao laicismo e à cultura da morte, como fez de modo brilhante na Argentina, ou a reforma da Cúria, como se espera que o faça -, teremos um bom e até um excelente Papa.
Aliás, a limpeza já começou: Papa proíbe cardeal acusado de encobrir 250 casos de pedofilia de frequentar basílica
Outra notícia interessante, desta vez, afeita ao tema da liturgia é a retomada de um costume que foi quebrado faz alguns anos: o de criar Cardeal ao secretário do Conclave imediatamente após a eleição do Papa, dando-lhe o solidéu vermelho do agora Sumo Pontífice!
Bento foi um líder do movimento litúrgico contemporâneo, e Francisco talvez não seja. E daí? Continua sendo o Romano Pontífice e terá outros acertos, será motivo para outras alegrias.
O New Liturgical Movement traz um bom artigo do Shawn Tribe sobre isso. Em suma, Tribe diz que é bom ter as liturgias do Papa como modelo a seguir, porém não é isso essencial. Vibramos com as Missas de Bento XVI não por serem "Missa do Papa", e sim porque, enquanto Papa, aplicou o que pensava em termos de liturgia: tradição, sacralidade, diálogo entre o rito novo e o antigo, promoção da Missa tridentina, latim, gregoriano etc. E outros sacerdotes, se o Papa Francisco não o fizer, podem e devem continuar fazendo em suas paróquias, em suas dioceses, em seus institutos, em seus movimentos, essa aplicação da "hermenêutica da continuidade" nos ritos sagrados.
Temos um novo Papa. Mas o Magistério de Bento XVI não foi para o lixo. Até porque é o Magistério da Igreja, não de Bento XVI. E os pensamentos do Cardeal Ratzinger sobre o tema, em que pese não serem Magistério, são profundos o suficiente para que possa se manter vivo e influente o novo movimento litúrgico, no qual o Salvem a Liturgia se enquadra e ao qual presta um relevante serviço no Brasil, digamos sem falsa modéstia. A elevação de Ratzinger ao Papado fez com que todos descobrissem o tesouro de seus escritos sobre a liturgia anteriores ao assumir a Sé Petrina.
Não esmoreçamos. A defesa da sagrada liturgia encontra no Papa Francisco seu líder, como Sumo Pontífice, ainda que não como principal impulsionador como nos tempos de Bento. Ainda assim, falar em retrocesso ou lamentar, sem motivo, que "tudo está perdido" em termos de liturgia, é exagero.
Podemos, ademais, nos surpreender positivamente.
Pululam na internet ataques ao Papa Francisco, vindos de radicais tradicionalistas ao Papa, tanto quanto de progressistas e adeptos da teologia da libertação, o que faz com que a idéia do Carlos Ramalhete de que ambos os grupos sejam de modernistas - os radtrads seriam "modernistas de direita" - seja bastante crível.
De um lado, podemos responder às críticas dos radtrads, sem caridade e sem reverência para com o Sumo Pontífice, com breves apontamentos:
Em primeiro lugar, como católicos temos que AMAR o Papa, não necessariamente "ir com a cara dele"... Eu vou, gosto de Sua Santidade, mas não vejo problema em alguém, com a devida reverência, estar mais apreensivo. Além disso, é o Papa que parece certo para o momento atual: com aquele sorriso e a postura de servo, de humilde, como é que os gayzistas, os midiáticos e os pró-aborto vão atacar? Até atacam, mas só os mais raivosos... Aquele "católico" que acredita em coisas liberais, que não gosta "do nazista Ratzinger" fica desarmado com a imagem que Francisco passa.
De um lado os TLs e os radtrads criticando o Papa. De outro, os ingênuos achando tudo uma maravilha porque o Espírito Santo escolhe de modo infalível o Sumo Pontífice - sem se atentar que são pessoas os Cardeais e o Papa, com suas opiniões, seus defeitos, suas virtudes.
E nós no meio da tempestade, elogiando as coisas bonitas do novo Papa, a importância dele na nova evangelização, na DSI e na melhora na imagem da Igreja, e percebendo também, infelizmente, que, se por um lado, a "tara pelas rendinhas" é uma infantilidade, por outro, o cuidado "ratzingeriano" e "tridentino" para com a liturgia é algo importante e que, ao que parece, pelo seu histórico como Arcebispo de Buenos Aires, Francisco não leva tão em conta assim.
De qualquer maneira, um Papa não tem por função ser santo canonizado ou altamente intelectual, mas governar a Igreja. Quem governe. Se não for o Papa dos sonhos de alguns, como Scola, Ouillet, O'Mahley, Ranjith, Burke, Erdo, etc, ainda é o Papa. Pode não fazer o que achamos que deveria fazer, mas governará a Igreja, e penso que acertará em vários pontos. E ao Papa amamos, não necessariamente temos que virar seus fãs.
Enfim, para fechar parênteses, indico três textos que tratam dessa onda de desrespeito ao Papa, vinda de setores tradicionalistas extremos, nos blogs:
Passemos ao tema da liturgia.
Considero que, realmente, em Bento XVI, tivemos um Papa que não apenas celebrava a liturgia conforme o Missal Romano - como Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II -, mas que deu um "salto" em direção à tradição do rito romano. Bento não se contentou em simplesmente observar as normas e fazer o mínimo. Ele explorou vários aspectos da sacralidade da liturgia romana, inserindo o Novus Ordo na grande tradição ocidental que nos legou o rito de São Pio V.
Bento XVI promulgou o Motu Proprio Summorum Pontificum, liberando o uso do Missal de 1962 para todos os fiéis e sacerdotes, sem necessidade de permissão do Bispo.
Bento XVI criou os Ordinariatos Pessoais para atrair para a Igreja os anglicanos tradicionais e conservadores, que possuem um amor muito grande à liturgia reverente, celebram em latim, versus Deum, e praticam ritos medievais ingleses. Isso muito contribuirá para o enriquecimento litúrgico do próprio rito romano atual.
Bento XVI revogou as excomunhões dos quatro Bispos sagrados por D. Lefebvre e que constituem-se na liderança da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ao mesmo tempo, empenhou-se nas negociações doutrinárias e litúrgicas para os atrair à plena comunhão com Roma, o que reforçaria em muito o movimento pelo resgate da sacralidade litúrgica, do correto entendimento teológico e espiritual do que é a Missa, e promoveria o rito antigo.
Bento XVI celebrou, em algumas ocasiões, a Missa no rito novo versus Deum, "de costas" ao povo, dando exemplo.
Bento XVI instituiu o uso dos candelabros e do crucifixo no altar, chamado de "arranjo beneditino", de tal forma que, mesmo versus populum, Cristo ficasse no centro da celebração da Missa.
Bento XVI passou a distribuir a Comunhão aos fiéis de joelhos e exclusivamente na boca.
Bento XVI continuou com as grandes catequeses de João Paulo II sobre a obediência às normas litúrgicas e foi além: desenvolveu a sua teologia da liturgia, da época em que era Cardeal, e impulsionou o "novo movimento litúrgico".
Bento XVI priorizou a Missa em latim, mesmo no rito novo, e não em italiano.
Bento XVI escolheu paramentos mais nobres, usou várias vezes a casula romana, e as casulas góticas eram mais cuidadas, mais dignas.
Bento XVI incentivou o canto gregoriano e a polifonia sacra.
Bento XVI elegeu Mons. Guido Marini como seu mestre de cerimônias.
E Francisco?
Bem, o então Cardeal Bergoglio não era um adepto da chamada "reforma da reforma". No mais das vezes, celebrava dignamente a Santa Missa, obedecendo às normas do Missal, sempre com casula, usando incenso, sendo sacral, mas nada muito "extraordinário", contendo-se com o mínimo. Em alguns episódios, deu algumas derrapadas, como a Missa das Crianças que se encontra facilmente na internet, ou o lava-pés de estola diaconal e com mulheres. Parece que não se acertou muito bem com a forma extraordinária em Buenos Aires, ainda que a tenha autorizado em tempo recorde após o Summorum Pontificum.
Em sua primeira aparição como Papa, recusou trajar vestes corais, usando apenas a batina. Envergou, por isso, a estola apenas para dar a bênção.
Já na Missa Pro Ecclesia, no encerramento do Ordo Rituum Conclavis, Sua Santidade deixou de lado a bela tradição resgatada por Bento XVI em usar o altar-mor, "grudado" na parede, de modo versus Deum, e colocou um segundo altar em que pudesse se enfiar atrás para celebrar versus populum, o que não se pode deixar de, respeitosamente, lamentar. Na mesma Missa, dispensou a mitra e o báculo para fazer a homilia - uma belíssima e profunda homilia, aliás! -, e pregou do ambão e não da cátedra, deixando de manifestar, assim, símbolos profundos de sua autoridade primacial. Entretanto, na mesma Missa, usou a férula de Bento XVI, uma casula com conchas - símbolo muito caro a Bento - houve canto gregoriano, polifonia sacra, e a celebração foi em latim, não em italiano: pontos positivos!
Se essas posturas forem identificações de um Papado que, embora celebre de acordo com as normas, não se empenhem na "reforma da reforma" ou em uma especial promoção da liturgia, seria algo triste, temos de reconhecer.
Todavia, é triste, mas não um pecado, não motivo para rasgar as vestes e profetizar o Apocalipse, como alguns têm feito. A função do Papa não é somente promover a liturgia. A liturgia é uma missão importantíssima, mas não é única, e outras mais urgentes podem ser levadas a termo pelo Papa Francisco. É ele quem comanda a barca de Pedro, não nós. Se ele, ao celebrar a liturgia sem aquele "ethos" ratzingeriano, cumprir o mínimo, mas trabalhar bem em outros campos - o combate ao laicismo e à cultura da morte, como fez de modo brilhante na Argentina, ou a reforma da Cúria, como se espera que o faça -, teremos um bom e até um excelente Papa.
Aliás, a limpeza já começou: Papa proíbe cardeal acusado de encobrir 250 casos de pedofilia de frequentar basílica
Outra notícia interessante, desta vez, afeita ao tema da liturgia é a retomada de um costume que foi quebrado faz alguns anos: o de criar Cardeal ao secretário do Conclave imediatamente após a eleição do Papa, dando-lhe o solidéu vermelho do agora Sumo Pontífice!
Bento foi um líder do movimento litúrgico contemporâneo, e Francisco talvez não seja. E daí? Continua sendo o Romano Pontífice e terá outros acertos, será motivo para outras alegrias.
O New Liturgical Movement traz um bom artigo do Shawn Tribe sobre isso. Em suma, Tribe diz que é bom ter as liturgias do Papa como modelo a seguir, porém não é isso essencial. Vibramos com as Missas de Bento XVI não por serem "Missa do Papa", e sim porque, enquanto Papa, aplicou o que pensava em termos de liturgia: tradição, sacralidade, diálogo entre o rito novo e o antigo, promoção da Missa tridentina, latim, gregoriano etc. E outros sacerdotes, se o Papa Francisco não o fizer, podem e devem continuar fazendo em suas paróquias, em suas dioceses, em seus institutos, em seus movimentos, essa aplicação da "hermenêutica da continuidade" nos ritos sagrados.
Temos um novo Papa. Mas o Magistério de Bento XVI não foi para o lixo. Até porque é o Magistério da Igreja, não de Bento XVI. E os pensamentos do Cardeal Ratzinger sobre o tema, em que pese não serem Magistério, são profundos o suficiente para que possa se manter vivo e influente o novo movimento litúrgico, no qual o Salvem a Liturgia se enquadra e ao qual presta um relevante serviço no Brasil, digamos sem falsa modéstia. A elevação de Ratzinger ao Papado fez com que todos descobrissem o tesouro de seus escritos sobre a liturgia anteriores ao assumir a Sé Petrina.
Não esmoreçamos. A defesa da sagrada liturgia encontra no Papa Francisco seu líder, como Sumo Pontífice, ainda que não como principal impulsionador como nos tempos de Bento. Ainda assim, falar em retrocesso ou lamentar, sem motivo, que "tudo está perdido" em termos de liturgia, é exagero.
Podemos, ademais, nos surpreender positivamente.
Outra notícia interessante, desta vez, afeita ao tema da liturgia é a retomada de um costume que foi quebrado faz alguns anos: o de criar Cardeal ao secretário do Conclave imediatamente após a eleição do Papa, dando-lhe o solidéu vermelho do agora Sumo Pontífice!
Bento foi um líder do movimento litúrgico contemporâneo, e Francisco talvez não seja. E daí? Continua sendo o Romano Pontífice e terá outros acertos, será motivo para outras alegrias.
O New Liturgical Movement traz um bom artigo do Shawn Tribe sobre isso. Em suma, Tribe diz que é bom ter as liturgias do Papa como modelo a seguir, porém não é isso essencial. Vibramos com as Missas de Bento XVI não por serem "Missa do Papa", e sim porque, enquanto Papa, aplicou o que pensava em termos de liturgia: tradição, sacralidade, diálogo entre o rito novo e o antigo, promoção da Missa tridentina, latim, gregoriano etc. E outros sacerdotes, se o Papa Francisco não o fizer, podem e devem continuar fazendo em suas paróquias, em suas dioceses, em seus institutos, em seus movimentos, essa aplicação da "hermenêutica da continuidade" nos ritos sagrados.
Temos um novo Papa. Mas o Magistério de Bento XVI não foi para o lixo. Até porque é o Magistério da Igreja, não de Bento XVI. E os pensamentos do Cardeal Ratzinger sobre o tema, em que pese não serem Magistério, são profundos o suficiente para que possa se manter vivo e influente o novo movimento litúrgico, no qual o Salvem a Liturgia se enquadra e ao qual presta um relevante serviço no Brasil, digamos sem falsa modéstia. A elevação de Ratzinger ao Papado fez com que todos descobrissem o tesouro de seus escritos sobre a liturgia anteriores ao assumir a Sé Petrina.
Não esmoreçamos. A defesa da sagrada liturgia encontra no Papa Francisco seu líder, como Sumo Pontífice, ainda que não como principal impulsionador como nos tempos de Bento. Ainda assim, falar em retrocesso ou lamentar, sem motivo, que "tudo está perdido" em termos de liturgia, é exagero.
Podemos, ademais, nos surpreender positivamente.
Vocabulário de paramentos e outras vestes
Alamar
Feixe usado para fechar a frente do pluvial, também pode ser chamado de "Razionale". Por vezes encontra-se o alamar no véu umeral ou nas vimpas.

Amito Paramento usado no pescoço para cobrir a veste civil ou a batina antes de pôr a alva. Leia mais...
Báculo Insígnia Episcopal que representa o cajado que o Bispo, pastor diocesano, usa para conduzir suas ovelhas.
Leia mais...

Barrete Chapéu quadrado usado pelos clérigos junto ao hábito diário e, de maneira especial, com os paramentos. Sua cor varia de acordo com o grau hierárquico do clérigo.
Leia mais...

Batina Hábito talar usado pelos clérigos seculares e regulares que não possuem hábito próprio. É negra, possui 33 botões na parte central e 5 em cada manga, estendendo-se até os calcanhares.
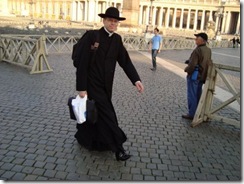
Cáligas Sapatilhas usadas pelos Bispos na forma extraordinária do rito romano.

Camauro Paramento pontifício usado com vestes corais. Consta de um pequeno gorro vermelho (ou branco) com pele de arminho.

Capa magna Grande capa usada pelos Bispos e Cardeais com vestes corais em sinal de solenidade. É violeta para os Bispos e vermelha para os Cardeais.
Leia mais...

Capelo Chapéu negro sem ornamento usado pelos clérigos no dia-a-dia.

Casula Manto sacerdotal usado sobre estola e alva. Seu significado remete ao caráter sacrificial da missa. Seu uso é obrigatório em todas as missas e proibido fora delas. Leia mais...
.
Chirotecoe Luvas usadas pelos Bispos. Seguem a cor do tempo, como os demais paramentos. 
Cíngulo Paramento usado para prender a alva junto ao corpo. Leia mais...

Clavi Faixas verticais da dalmática. (cf. Dalmática) 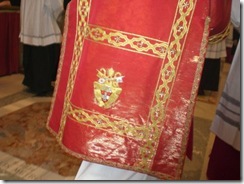
Clergyman Parte da batina usada próxima ao pescoço, possui algumas variações, constando sempre de uma fita branca que fica mais ou menos à mostra. (cf. Batina) Cravos Pequenos objetos usados pelos Arcebispos presos junto ao pálio

Cruz Peitoral Insígnia Episcopal que consta de um crucifixo usado com um cordão ou em corrente simples.
Leia mais...
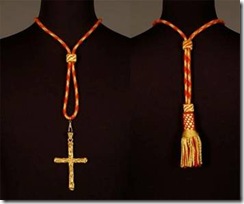
Dalmática Paramento diaconal usado sobre alva e estola. Ou insígnia episcopal que o bispo usa em ocasiões solenes sob a casula.
Leia mais...

Estola Paramento usado pelos clérigos sobre a alva ou vestes corais. Os diáconos a usam a tiracolo, os sacerdotes ao redor do pescoço e caindo sobre o peito.
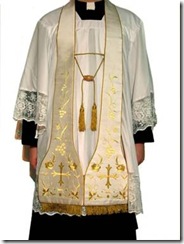
Faixa da Batina Faixa de tecido usado pelos clérigos sobre a batina na altura do estômago.
(cf. Batina) Fanon Paramento pontifício com formato semelhante ao da murça, usado sobre a casula e sob o pálio.

Ferraiolo Capa solene usada pelos clérigos sobre a batina em ocasiões solenes fora da liturgia como formaturas e atos cívicos.

Férula Objeto semelhante ao báculo. O Sumo Pontífice usa uma em forma de cruz como insígnia. Alguns vigários usavam férula com um globo, simbolizando jurisdição.
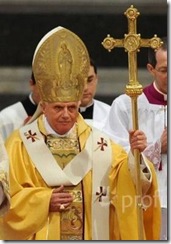
Galero Chapéu vermelho munido de várias borlas. Era o símbolo maior do cardinalato até sua abolição com o Motu Proprio de Paulo VI.

Gremial Paramento quadrado usado pelos Bispos. Na forma ordinária, apenas para unções, imposição das cinzas e algumas outras ocasiões.
Leia mais...

Hábito Talar Hábito usado pelos clérigos e religiosos ordinariamente. Exemplos são os hábitos beneditinos, franciscanos e também a batina. Ínfulas Tiras pendentes da parte posterior da mitra e do triregnum.
Manícoto Pequeno paramento usado junto ao punho durante unções.
Leia mais...

Manípulo Paramento cujo formato lembra o de uma pequena estola, usado no antebraço esquerdo pelo sacerdote durante a missa.

Mantel Capa negra com mozeta usada sobre a batina ordinariamente. Antes do Motu Proprio de Paulo VI podia ser violeta para os Bispos e vermelha para os Cardeais.
Manteletta Paramento usado nas vestes corais de alguns clérigos sobre roquete/sobrepeliz.

Mitra Insígnia Episcopal, usada à cabeça possui a forma de dois pentágonos unidos, munida de duas faixas na parte de trás: as ínfulas.
Leia mais...
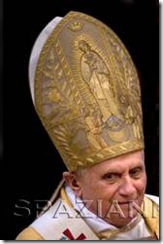
Múleos Sapatos vermelhos usados pelo Sumo Pontífice.

Murça Pequena sobre-capa usada nas vestes corais sobre a sobrepeliz ou o roquete e sob a cruz peitoral. Sua cor varia de acordo com o grau hierárquico do clérigo.
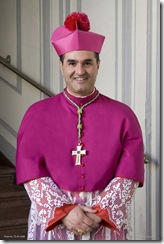
Pálio Insígnia Episcopal usada ao redor do pescoço pelos metropolitas como símbolo de poder e jurisdição.
Leia mais...

Pluvial Capa ampla com um feixe à frente, usado pelos clérigos em procissões e ocasiões litúrgicas fora da missa.
Leia mais aqui e aqui.

Prelatício Chapéu ornado com borlas usado pelos clérigos. O número e a cor das borlas variam de acordo com o grau hierárquico do clérigo.

Rationale Paramento episcopal próprio de algumas Sés, usado sobre a casula e sob o pálio. "Rationale" ou "Razionale" também pode significar o feixe do pluvial (cf. Alamar)

Roquete Paramento usado pelos prelados nas vestes corais sobre a batina e sob a murça.
Leia mais...

Segmentae Faixa horizontal da dalmática que une as clavi (cf. Dalmática). Sobrepeliz Paramento semelhante a alva, curto e com mangas largas usados pelos acólitos ao servir a missa ou nas vestes corais de alguns clérigos.
Leia mais...
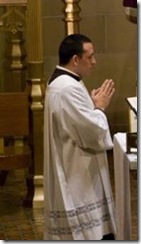
Solidéu Pequeno chapéu em forma de calota usado pelos clérigos sobre a cabeça. Sua cor varia em relação ao clérigo.
Leia mais...

Sotaina cf. Batina. Sudário Pequeno tecido preso junto ao nó do báculo de Abades e Abadessas. Tabarro cf. Ferraiolo. Tonacella Paramento típico dos noviços franciscanos, usado sobre a alva.

Triregnum Objeto formado por três coroas unidas, acimado por um globo e uma cruz. Usado pelo Romano Pontífice em ocasiões solenes, fora da liturgia. Não foi abolido, porém está em desuso.

Túnica Espécie de alva com gola fechada. Tunicela Paramento do Subdiácono (forma extraordinária). Vestes corais Conjunto de vestimentas usadas pelos clérigos ao assistir celebrações sem oficiar nelas, chegar e sair solenemente da igreja, etc.
Leia mais...

Véu umeral Usado para segurar o Santíssimo Sacramento, relíquias e os santos óleos, o véu umeral consta de um paramento quadrado posto sobre os ombros.

Vimpa Paramento semelhante ao véu umeral, quadrado e posto nas costas. São usadas para portar as insígnias episcopais (mitra e báculo).
Leia mais...

| Alamar |
Feixe usado para fechar a frente do pluvial, também pode ser chamado de "Razionale". Por vezes encontra-se o alamar no véu umeral ou nas vimpas.
 |
| Amito | Paramento usado no pescoço para cobrir a veste civil ou a batina antes de pôr a alva. Leia mais... |
| Báculo | Insígnia Episcopal que representa o cajado que o Bispo, pastor diocesano, usa para conduzir suas ovelhas. Leia mais...  |
| Barrete | Chapéu quadrado usado pelos clérigos junto ao hábito diário e, de maneira especial, com os paramentos. Sua cor varia de acordo com o grau hierárquico do clérigo. Leia mais...  |
| Batina | Hábito talar usado pelos clérigos seculares e regulares que não possuem hábito próprio. É negra, possui 33 botões na parte central e 5 em cada manga, estendendo-se até os calcanhares.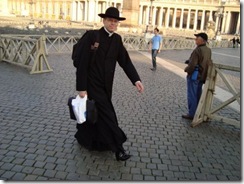 |
| Cáligas | Sapatilhas usadas pelos Bispos na forma extraordinária do rito romano. |
| Camauro | Paramento pontifício usado com vestes corais. Consta de um pequeno gorro vermelho (ou branco) com pele de arminho. |
| Capa magna | Grande capa usada pelos Bispos e Cardeais com vestes corais em sinal de solenidade. É violeta para os Bispos e vermelha para os Cardeais. Leia mais...  |
| Capelo | Chapéu negro sem ornamento usado pelos clérigos no dia-a-dia. |
| Casula | Manto sacerdotal usado sobre estola e alva. Seu significado remete ao caráter sacrificial da missa. Seu uso é obrigatório em todas as missas e proibido fora delas. Leia mais... .  |
| Chirotecoe | Luvas usadas pelos Bispos. Seguem a cor do tempo, como os demais paramentos.  |
| Cíngulo | Paramento usado para prender a alva junto ao corpo. Leia mais... |
| Clavi | Faixas verticais da dalmática. (cf. Dalmática) 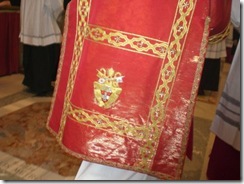 |
| Clergyman | Parte da batina usada próxima ao pescoço, possui algumas variações, constando sempre de uma fita branca que fica mais ou menos à mostra. (cf. Batina) |
| Cravos | Pequenos objetos usados pelos Arcebispos presos junto ao pálio |
| Cruz Peitoral | Insígnia Episcopal que consta de um crucifixo usado com um cordão ou em corrente simples. Leia mais... 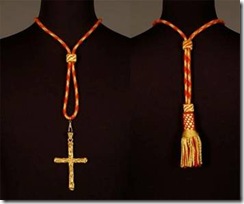 |
| Dalmática | Paramento diaconal usado sobre alva e estola. Ou insígnia episcopal que o bispo usa em ocasiões solenes sob a casula. Leia mais...  |
| Estola | Paramento usado pelos clérigos sobre a alva ou vestes corais. Os diáconos a usam a tiracolo, os sacerdotes ao redor do pescoço e caindo sobre o peito.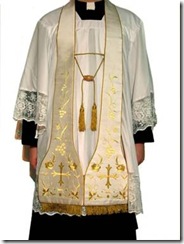 |
| Faixa da Batina | Faixa de tecido usado pelos clérigos sobre a batina na altura do estômago. (cf. Batina) |
| Fanon | Paramento pontifício com formato semelhante ao da murça, usado sobre a casula e sob o pálio. |
| Ferraiolo | Capa solene usada pelos clérigos sobre a batina em ocasiões solenes fora da liturgia como formaturas e atos cívicos. |
| Férula | Objeto semelhante ao báculo. O Sumo Pontífice usa uma em forma de cruz como insígnia. Alguns vigários usavam férula com um globo, simbolizando jurisdição.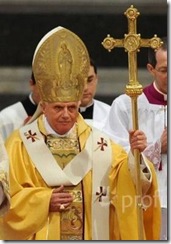 |
| Galero | Chapéu vermelho munido de várias borlas. Era o símbolo maior do cardinalato até sua abolição com o Motu Proprio de Paulo VI. |
| Gremial | Paramento quadrado usado pelos Bispos. Na forma ordinária, apenas para unções, imposição das cinzas e algumas outras ocasiões. Leia mais...  |
| Hábito Talar | Hábito usado pelos clérigos e religiosos ordinariamente. Exemplos são os hábitos beneditinos, franciscanos e também a batina. |
| Ínfulas | Tiras pendentes da parte posterior da mitra e do triregnum. |
| Manícoto | Pequeno paramento usado junto ao punho durante unções. Leia mais...  |
| Manípulo | Paramento cujo formato lembra o de uma pequena estola, usado no antebraço esquerdo pelo sacerdote durante a missa. |
| Mantel | Capa negra com mozeta usada sobre a batina ordinariamente. Antes do Motu Proprio de Paulo VI podia ser violeta para os Bispos e vermelha para os Cardeais. |
| Manteletta | Paramento usado nas vestes corais de alguns clérigos sobre roquete/sobrepeliz. |
| Mitra | Insígnia Episcopal, usada à cabeça possui a forma de dois pentágonos unidos, munida de duas faixas na parte de trás: as ínfulas. Leia mais... 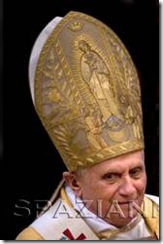 |
| Múleos | Sapatos vermelhos usados pelo Sumo Pontífice. |
| Murça | Pequena sobre-capa usada nas vestes corais sobre a sobrepeliz ou o roquete e sob a cruz peitoral. Sua cor varia de acordo com o grau hierárquico do clérigo.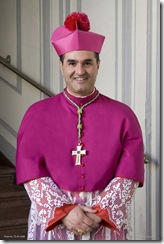 |
| Pálio | Insígnia Episcopal usada ao redor do pescoço pelos metropolitas como símbolo de poder e jurisdição. Leia mais...  |
| Pluvial | Capa ampla com um feixe à frente, usado pelos clérigos em procissões e ocasiões litúrgicas fora da missa. Leia mais aqui e aqui.  |
| Prelatício | Chapéu ornado com borlas usado pelos clérigos. O número e a cor das borlas variam de acordo com o grau hierárquico do clérigo. |
| Rationale | Paramento episcopal próprio de algumas Sés, usado sobre a casula e sob o pálio. "Rationale" ou "Razionale" também pode significar o feixe do pluvial (cf. Alamar) |
| Roquete | Paramento usado pelos prelados nas vestes corais sobre a batina e sob a murça. Leia mais...  |
| Segmentae | Faixa horizontal da dalmática que une as clavi (cf. Dalmática). |
| Sobrepeliz | Paramento semelhante a alva, curto e com mangas largas usados pelos acólitos ao servir a missa ou nas vestes corais de alguns clérigos. Leia mais... 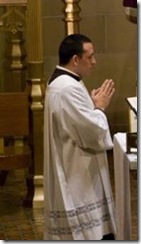 |
| Solidéu | Pequeno chapéu em forma de calota usado pelos clérigos sobre a cabeça. Sua cor varia em relação ao clérigo. Leia mais...  |
| Sotaina | cf. Batina. |
| Sudário | Pequeno tecido preso junto ao nó do báculo de Abades e Abadessas. |
| Tabarro | cf. Ferraiolo. |
| Tonacella | Paramento típico dos noviços franciscanos, usado sobre a alva. |
| Triregnum | Objeto formado por três coroas unidas, acimado por um globo e uma cruz. Usado pelo Romano Pontífice em ocasiões solenes, fora da liturgia. Não foi abolido, porém está em desuso. |
| Túnica | Espécie de alva com gola fechada. |
| Tunicela | Paramento do Subdiácono (forma extraordinária). |
| Vestes corais | Conjunto de vestimentas usadas pelos clérigos ao assistir celebrações sem oficiar nelas, chegar e sair solenemente da igreja, etc. Leia mais...  |
| Véu umeral | Usado para segurar o Santíssimo Sacramento, relíquias e os santos óleos, o véu umeral consta de um paramento quadrado posto sobre os ombros. |
| Vimpa | Paramento semelhante ao véu umeral, quadrado e posto nas costas. São usadas para portar as insígnias episcopais (mitra e báculo). Leia mais...  |
Encontro com os Ícones: um encontro de oração
 ais do que qualquer coisa este é um encontro de oração. Um encontro de experiência e aprofundamento de vida de oração. O ícone não é nada mais do que uma oração. É uma oração expressa em cores e formas. E é isto o que distingue o ícone de qualquer outra «obra de arte.»
ais do que qualquer coisa este é um encontro de oração. Um encontro de experiência e aprofundamento de vida de oração. O ícone não é nada mais do que uma oração. É uma oração expressa em cores e formas. E é isto o que distingue o ícone de qualquer outra «obra de arte.»
Assim como é impossível ensinar alguém a rezar simplesmente por palavras, também é impossível ensinar ou aprender a orar com os ícones sem que haja uma experiência. Por isso, nesse encontro, muito mais do que falar dos ícones vamos experimentar esse tipo de oração. É uma oração muito simples, pois os ícones são para os «pobres de coração» (cf.Mt.5,3). Não se reza com os ícones simplesmente com o intelecto, mas com o coração. É uma oração de humildade, onde temos que nos despojar de nossos pré-conceitos e concepções pessoais. Orar com os ícones significa entregar-se e participar daquilo que nele já está proposto. Como disse, o ícone mesmo já é uma oração.
Mas por que o homem tem tanto desejo em aprender a rezar? Mesmo que não seja consciente dessa necessidade, o homem é um ser criado para a oração. Ele foi criado para o convívio com Deus, para participar daquilo que é celeste. Antes de sua queda, o homem vivia em perfeita harmonia com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, porém, esta ordem foi quebrada e o homem se afastou de Deus; escondeu-se Dele. Mesmo longe de Deus, o homem continuou a trazer em si as marcas da divindade. Trazia dentro de si a semente original. Quando olhava para o seu interior via os traços de Deus, pois foi criado à sua imagem e semelhança. Porém, esta imagem havia se quebrado com o pecado. O Pai, então, para restabelecer esta relação de união e restaurar esta imagem perdida no homem, envia o seu Filho para reabrir para o homem as portas do paraíso perdido.
Depois do pecado, a oração passou a ser algo contra a natureza humana. Orar, para o homem, não é difícil; diria que é impossível. No entanto, Deus, em sua bondade, concede ao homem esta graça de estar em seu convívio, mesmo sendo indigno. O que o faz digno é a sua filiação, que acontece através de Jesus Cristo. A oração, portanto, não é um ato humano, que depende das capacidades de cada um. A oração é um dom de Deus.
É através da oração que estabelecemos esta relação de amizade e amor com Deus. Sem isso, não podemos viver. Talvez possamos sobreviver, mas não viver de fato. É como se tentássemos criar um peixe fora de seu ambiente natural: a água. O ambiente natural do homem é Deus, é o Céu. Talvez fora desse habitat natural ele possa até sobreviver, mas nunca poderá viver plenamente. Quando estamos longe desse habitat sentimo-nos deslocados. Não sabemos o que fazer, sentimo-nos desamparados e tristes. Diria que este é o grande mal pelo qual o mundo sofre: os homens não estão vivendo em seu habitat natural. O homem sente saudades de Deus.
O Senhor nos proporciona meios de oração. Meios de entrarmos em contato com Ele com maior facilidade: a Escritura (lectio divina), a liturgia (sacramentos), a música, a própria criação, a arte... Tudo o que esta relacionado a Deus mesmo pode nos levar à oração. Em tudo isso percebemos a presença de Deus, pois Ele se manifesta em toda a sua criação.
No relato da criação (Gn 1), vemos que a cada ato de criação, Deus profere uma Palavra: “isto é bom”. Com isso a Escritura quer nos dizer que todas as coisas existem e são sustentadas pela vontade e pela Palavra criadora de Deus. Em toda criação Deus imprimiu a sua Bondade – «e Deus viu que isto era bom».
É interessante perceber que para a Bíblia, enquanto palavra de revelação, Bondade e Beleza são sinônimOs, porque ambas deixam perceber tanto a ação criadora de Jhwh quanto seu fazer-se conhecer como o verdadeiro Deus. Deus imprime em toda a criação o seu caráter de bondade e de beleza.
O ser humano não poderia ser isento desta marca de Deus. E Deus vai além desta simples marca e cria o homem à sua «imagem e semelhança» e vê que o que fez «é muito bom-belo.» O homem não é uma cópia de Deus, nem muito menos tem os traços físicos de Deus, pois isto seria impossível, visto que Deus é espírito. Mas ele é semelhante a Deus na faculdade de poder decidir e amar.
É isto o que faz do homem um ser superir a toda a criação; Deus submete a criação ao poder do homem. É ele quem dá o nome a cada ser criado. O homem é, portanto, partícipe da criação. E é colaborador de Deus também enquanto capaz de gerar vida. O homem, enquanto criação de Deus, é reflexo de sua glória, vem do conteúdo da beleza de Deus.
O homem participa da criação do mundo a partir do momento em que é criado. Em tudo o que faz, todas as obras de suas mãos devem ser uma expressão da Bondade e da Beleza de Deus. A beleza e a harmonia fascinam o homem, pois fazem com que ele se lembre e tenha saudades de Deus, mesmo inconscientemente.
A iconografia está inserida dentro desta realidade da teofania da Beleza de Deus. Por isso constitui uma porta aberta à oração, ao encontro com o transcendente.
Não admiramos o ícone simplesmente por ser uma obra de arte. O ícone não quer nos transmitir o estético, mas a BELEZA mesma, que tem sua origem no próprio Deus. O ícone, portanto, é um reflexo do mundo celeste; uma janela para o invisível.
Mas, o que é o ícone?
A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente o Cristo. Ela não representa o Deus invisível e incompreensível; é a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova «economia» das imagens:
Antigamente Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus.
(...) Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. (S.J.Damasceno) (Catecismo da Igreja Católica 1159)
A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada. Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. A iconografia é uma sucinta profissão de fé, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem. (CIC 1160)
Toda a iconografia é referente ao Cristo, inclusive quando se trata da Virgem Mãe de Deus e dos santos. Significam o Cristo que é glorificado neles. Por meio de seus ícones, revela-se à nossa fé o homem criado «à imagem de Deus» (cf. Rm 8,29; IJo 3,2) e transfigurado «à sua semelhança», assim como os anjos, também recapitulamos em Cristo. (CIC 1161)
O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, «a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original» (S.Basílio), e «quem venera uma imagem venera a pessoa que nela está pintada» (Conc. de Nicéia; Trento; Vaticano II). A honra prestada às santas imagens é uma «veneração respeitosa», e não adoração, que só compete a Deus. (CIC 2132)
«A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus» (S.J.Damasceno). A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da Palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida dos fiéis.(CIC 1162)
A teologia da Presença
Um manuscrito do Monte Athos insiste sobre «a oração com as lagrimas, para que Deus penetre na alma» do iconógrafo (pintor/ou escritor de ícones), e aconselha «o temor de Deus, pois é uma arte divina, transmitida à nós por Deus mesmo», e ainda mais: «Tu que admiravelmente inspiraste o evangelista Lucas, iluminai a alma de teu servo, conduzi sua mão para que ele execute perfeitamente Teus traços misteriosos...» (Dom J. Dirks, Les Saint Icônes, p.44).
Segundo uma antiga tradição, S. Lucas foi ao mesmo tempo evangelista e primeiro iconógrafo. Suas duas inspirações, seus dois carismas inspirados por Deus na mesma medida, estavam a serviço da única verdade evangélica. Nas matinas da festa de Nossa Senhora de Vladimir, o primeiro canto do Cânon proclama: «fazendo teu venerável ícone, o divino Lucas, escritor do Evangelho de Cristo, inspirado pela voz divina, representa o Criador de todas as coisas nos teus braços.» Do mesmo modo, A vida de São João Evangelista exorta: «para aprender a iconografia e compreender o ícone, orai São João...» Assim, a inspiração dos evangelistas e a dos iconógrafos, sem ser iguais, são semelhantes quanto ao nível da revelação do Mistério. Dirigindo-se à Theotokos (Mãe de Deus), Denys lhe diz: «eu desejo que a tua imagem se reflita sem cessar no espelho das almas e as conservem puras; que ela levante aqueles que estão curvados e que ela dê esperança àqueles que consideram e imitam este eterno modelo de beleza.»
Para o Oriente, o ícone é um dos sacramentais, mais precisamente da presença pessoal. Nas Vésperas da Festa de Nossa Senhora de Vladimir sublinha-se: «contemplando o ícone, tu dizes com poder: minha graça e minha força estão com esta imagem.» É por isso que é necessário que o ícone seja abençoado por um padre, para que se lhe confira o caráter teofânico. O ícone estará cheio de presença, será uma testemunha autêntica e o «canal da graça à virtude santificadora» (São João Damasceno). O Concílio de 860 afirma a mesma coisa: «O que o Evangelho nos diz através da palavra, o ícone nos anuncia através das cores e o torna presente para nós.»
Quando o ícone nos apresenta um santo, testemunha a sua presença e exprime seu mistério de intercessão e de comunhão conosco e com toda a Igreja.
Certamente o ícone não tem realidade própria; em si, ele é somente uma prancha de madeira; é justamente porque ele tira todo seu valor teofânico de sua participação na Trindade, no «todo outro» por meio da semelhança, que ele não pode encerrar nada nele mesmo, mas irradia como que por irradiação esta presença. A ausência de volume exclui toda materialização, o ícone traduz uma presença energética que não pode ser localizada nem guardada, mas que irradia ao redor de seu ponto de condensação.
É esta teologia litúrgica da presença, que distingue absolutamente um ícone de um quadro religioso qualquer e faz a linha de demarcação entre os dois. Podemos dizer que toda obra puramente estética se realiza em um tríptico, onde o artista, a obra e o espectador formam as três portas ou partes. O artista procura, sobretudo expor seu dom e suscitar uma emoção de admiração na alma do espectador. O conjunto está contido neste triângulo de imanetismo estético. E mesmo se a emoção passa ao sentimento religioso, isso não é mais do que a capacidade subjetiva do espectador de a experimentar.
Uma obra de arte é para se olhar, ela encanta a alma; emocionante e admirável ao máximo, ela não tem função litúrgica. Ora, a arte sacra do ícone transcende o plano emotivo que é agitado pela sensibilidade. Uma certa aridez hierática desejada e o despojamento ascético da alma da obra se opõem a tudo isso que é suave e emoliente, a todo enfeite e gozo propriamente artísticos.
É por esta função litúrgica que o ícone quebra o triângulo estético e seu imanetismo; ele suscita não a emoção, mas o senso místico, o mysterium tremendum, diante a vinda de um quarto princípio em relação ao triângulo: a parusia do Transcendente de que o ícone atesta a presença. O artista se apaga atrás da Tradição que fala, os ícones não são quase nunca sinais; a obra de arte dá lugar a uma teofania; todo expectador à procura de um espetáculo se encontra aqui deslocado; o homem, tomado por uma revelação fulgurante, se prostra em um ato de adoração e de oração.
Ao contrario, no Ocidente, a respeito das imagens, o Concílio de Trento acentua a anamnese, a lembrança, mas não absolutamente epifânico, se colocando assim fora da perspectiva sacramental da presença. Ele afirmou todos os dogmas católicos, mas diante da Reforma, forçosamente iconoclasta, ele rejeitou o dogma iconográfico, aliás, abandonado pelo Ocidente desde o VII Concílio. Ora, essa perspectiva sacramental da presença é sintomática. Quando Bernadete foi convidada a escolher em um álbum a imagem que mais se assemelhava à sua visão, ela se deteve sem hesitar em um ícone bizantino da Virgem, pintado no séc. XI...
A primazia do acontecimento teofânico descentraliza toda composição iconográfica do contexto histórico imediato, guarda estritamente o necessário para reconhecer um acontecimento ou a visão de um santo através de seus traços desenhados pelo celeste. A visão é natural sem ser naturalista. Isso porque é impossível um ícone de um homem vivo e toda busca por uma semelhança carnal é excluída. A visão de um iconógrafo passa por uma ascese, pelo “jejum dos olhos” (S. Doroteu) a fim de coincidir com a da Igreja. Forma poderosa de pregação e expressão dos dogmas, o ícone é submisso às regras transcendentais da visão eclesial.
O Ícone e a Liturgia
As formas arquiteturais de um templo, os afrescos, ícones, objetos de culto, não estão simplesmente reunidos como objetos de um museu, mas, como os membros de um corpo, eles vivem de uma mesma vida de mistério, eles estão integrados ao mistério litúrgico. Isso é fundamental e nós não podemos entender um ícone fora desta integração. Na casa dos fiéis, o ícone é colocado em um lugar alto e de destaque na sala: ele guia o olhar para o alto, para o Altíssimo e para o único necessário. A contemplação orante atravessa, por assim dizer, o ícone e não se detém ao conteúdo vivo que ele traduz. Em sua função litúrgica, simbiose do senso e da presença, ele santifica os tempos e os lugares; de uma simples casa ele faz uma «igreja doméstica», da vida de um fiel, uma vida orante, liturgia interior e contínua. Ponto de contemplação, jamais de decoração, o ícone centra toda a casa sob a influência do céu.
Da mesma forma, todos aqueles que atravessam a soleira de um templo ortodoxo são tomados por uma forte sensação de vida incessante, de eternidade. Mesmo fora dos ofícios litúrgicos, tudo remete aos santos mistérios, tudo é animado e tende para Aquele que vem para se dar em comida.
Nos ofícios, os textos litúrgicos se harmonizam com o evento celebrado e o comentam; o mistério litúrgico o faz «presente» e transmite este conteúdo vivo ao ícone da festa. E tudo ao redor, o ícone faz ver, na liturgia mesmo, uma função iconográfica, uma representação e imagem de toda a economia da salvação. No canto do Chérubikon: «Nós, que misteriosamente representamos os querubins e que cantamos à vivificante Trindade o hino três vezes santo», ultrapassamos o terrestre e participamos «misteriosamente» da liturgia eterna celebrada pelo Cristo mesmo no céu. O ícone da «sinaxe», mostra a assembléia dos anjos, seus inumeráveis olhos e suas miríades de asas ruidosas; sobre o ícone da «liturgia eterna», eles cercam o Cristo, Grande Sacerdote oficiante, para «que o Evangelho da glória do Cristo, ícone de Deus, brilhe aos olhos dos crentes» (Dom J. Dirks, Les saintes icônes, p. 44.). Os fiéis «representam misteriosamente» os anjos, são os ícones vivos, as «angelofanias», lugar humano do mistério angélico de adoração e de oração. Hic et nunc, tudo é participação, oferta, presença e eucaristia: «isto que é teu, nós te oferecemos» e «te rendemos graças». Nesta sinfonia grandiosa, todo fiel olhando os ícones vê seus irmãos mais velhos, patriarcas, apóstolos, mártires, santos, como seres bem presentes, é com eles todos que ele participa do Mistério; ao lado dos anjos, ele canta: «Em Teus santos ícones, nós contemplamos os tabernáculos celestes e exultamos em uma alegria puríssima...»
BIBLIOGRAFIA:
EVDOKIMOV, Paul - L'art de l´icône-Théologie de la beauté - Desclée de Brouwer/1972;
Catecismo da Igreja Católica;
Dicionário de Espiritualidade – Ed. Paulinas/1989;
Dicionário de Teologia Fundamental – Ed. Santuário - Ed.Vozes/1994;
FONTE:
A mitra
Continuamos a nossa série de posts sobre os paramentos. Apesar de já termos falado das insígnias pontificais em geral, hoje retomamos uma em particular, com a finalidade de olhar melhor sua história, seu simbolismo e, também, seu uso dentro das celebrações litúrgicas.
1. Origem e desenvolvimento
A origem da mitra está em Roma. Entre as vestes não-litúrgicas próprias do papa, encontramos o camelauco. Este se constituía de um pequeno barrete, que passou do uso profano às vestes do papa no início do século VIII, tendo sido citado pela primeira vez durante o Pontificado de Celestino I no "Liber Pontificales".
O formato inicial do camelauco era cônico e era produzido em seda branca. Seu uso se dava principalmente durante as procissões solenes. E foi dessa forma que a mitra teve sua origem. O papa passou a não usar a cobertura para a cabeça não apenas na procissão, mas na celebração que se seguia, geralmente a Santa Missa.
Nesse momento a mitra era um distintivo do papa. Só tempos mais tarde que a mitra passou a ser insígnia episcopal. E, apenas no século XI, que a mitra passou a ser usada também pelos cardeais, ainda que não fossem bispos. Esse é certamente o primeiro caso de clérigos mitrados fora da ordem episcopal. O segundo, foi provavelmente os abades, quando o Papa Alexandre I concedeu o privilégio da mitra ao Abade Eugênio da Abadia de Canterbury, privilégio este que se disseminou até ser comum a todos os abades.
Caminhando um pouco mais na história, podemos ver o uso de mitra até mesmo por não-clérigos. Entre os leigos, podemos citar o uso de mitra pelo Imperador Alemão e pelo Duque da Boêmia. Também, à semelhança dos abades, a algumas abadessas a mitra foi concedida para ser usada sobre o véu.
Esses casos de uso por leigos não persistiram . As abadessas deixaram de usar mitras e também abandonou-se qualquer uso dela relacionado ao poder temporal dos nobres. Aos estes últimos, foram reservadas as insígnias nobiliarquicas, em relação à cabeça, o uso da coroa. As abadessas cobrem-se apenas o véu, embora outras insígnias pontificais lhes sejam mantidas até hoje.
Em relação ao formato, a mitra cônica do século XI, deu lugar, no século posterior, à mitra partida ao centro. Também se nota desse século a faixa junto à base que decora a mitra (círculus). Este formato de mitra, embora seja hoje estranho aos ritos latinos, é o mesmo modelo, ou ao menos muito semelhante, da mitra dos bispos de Rito Caldeu.
S. Beatitude Cardeal Varkey Vithayathil, arcebispo maior da Sui Iuris Sírio-Malabar
Aparentemente as ínfulas, que nem sempre foram unidas à parte trazeira da mitra, tornam-se parte integrante a partir desse período. Passado certo tempo, o formato bi-côncavo das mitra passou a ser mais pontiagudo e a depressão central mais evidente. Po conta da rigidez da estrutura para manter as pontas, foi acrescentada à estrutura da mitra uma espécie de intertela. Posteriormente, a mitra teve uma outra importante transformação, não tanto em seu formato, mas em sua decoração e seu uso. As mitra passaram a ser decoradas, além da faixa da base (círculus), também uma faixa que passada pelo meio da mitra, à frente e atrás (títulus). As mitras passaram a ser usadas não com as pontas aos lados, mas com uma atrás e outra voltada para frente.
Pouco depois, na parte posterior, ao invés das laterais, passaram a ser presas as ínfulas.
No século XIV, esse formato começou a ser distorcido. O formato que era pouco maior em altura do que em largura, quando dobrado, começou a ficar cada vez mais vertical, até que no século XVII tomou as maiores proporções que teria em toda a história, até a atualidade. Este tamanho foi mantido por vários séculos, até começar a diminuir no século XX.
2. As partes da mitra latina
A mitra latina, usado no Rito Romano e noutros ritos ocidentais, é munida de duas partes em formato aproximado de pentágono, cada um denominado cúspide; assim, dizemos que a mitra latina possui formato bicúspide.As cúspides apontam para cima e simbolizam que é de lá que provém a autoridade e a dignidade do bispo.
As cúspides estão unidas pelas laterais, na parte inferior e por um tecido no interior da mitra, o forro. Embora hajam variações, ste é geralmente da cor vermelha, sibolizando o Espírito Santo que assiste e aconselha o prelado em seu ministério.
Em destaque o forro dourado da mitra do papa Bento XVI
O então cardeal Ratzinger utilizando mitra com forro vermelho
Na parte posterior, ficam suspensas duas pequenas tiras munidas de franjas, ínfulas. Essas, segundo a tradição litúrgica têm o significado atrelado ao da estola. Enquanto a última significa o poder sacerdotal, as primeiras simbolizam a plenitude do sacerdócio. Também as ínfulas são forradas.
Mitra mostrando o formato da cúspide e também as ínfulas pendentes
3. Tipos de Mitras
No Rito Romano, as mitras são classificadas tradicionalmente segundo os seus ornamentos. De acordo com a celebração, o cerimonial prevê um tipo de mitra. Na forma extraordinária tem-se três tipos: a mitra simples, a mitra aurifrisada e a mitra preciosa. Na forma ordinária, o Cerimonial dos Bispos distingue apenas dois tipos: simples e ornada.
3.1 Mitra Simples ("simplex")
O primeiro dos tipos de mitra é a mitra simples, sua principal característica é a falta de ornamentos e a cor predominantemente branca. A mitra simples, ironicamente, possui a mais complexa variação entre os o colégio dos bispos, diferindo entre o papa, os cardeais e os demais prelados.
3.1.1 Mitra simples dos bispos e abades
A mitra simples do bispos é branca, exceto pelas franjas vermelhas das ínfulas. São feitas de seda e não possuem nenhum relevo ou bordado, nem mesmo o tradicional brasão nas ínfulas. O forro é geralmente branco, embora se veja por vezes mitras simples de bispos munidas de forro vermelho.
Bispo usando mitra simples por ocasião de ritos fúnebres
Bispos ingleses usando mitras simples durante concelebração
3.1.2 Mitra simples dos Cardeais
Tradicionalmente os cardeais usam nas celebrações do Sumo Pontífice a mitra pinha, uma mitra de tecido adamascado com relevo dessa fruta. Tanto para os cardeais diáconos, quanto para outras funções e, mais modernamente, para a concelebração.
A pinha é um símbolo muito antigo no império romano, ela representa a união de vários povos em torno da cidade de Roma; liturgicamente, representa a união de todo o mundo na pessoa dos cardeais ao redor do Sumo Pontífice.
Cardeais em mitra pinha ("della pigna")
As mitras pinhas por muito tempo tiveram grandes dimensões, durante o pontificado de João Paulo II, para que as mitras dos cardeais não fossem mais altas que as mitras do Papa, Dom Piero Marini diminuiu o tamanho máximo dessas mitras, mantendo, entretato, o relevo de pinha, o forro branco e as tradicionais franjas vermelhas nas ínfulas. Atualmente, com o crescente tamanho das mitras do papa Bento XVI, já se especula se as mitras cardinalícias não poderiam crescer algumas polegadas novamente.
Mitras pinhas de tamanho menor, em uso atualmente.
Mitra pinha em vitrine de loja litúrgica entre outras vestes cardinalícias
Detalhe para o vermelho na ponta das ínfulas
Mais recentemente ainda, Mons. Guido Marini, instituiu para os cardeais que concelebram com o papa uma mitra parecida com a mitra dita "faixada" que se deniminou extraoficialmente "levemente ornada". Essa mitra ainda é uma novidade nas celebrações litúrgicas, mal vista por alguns que tinham por via de regra o uso de mitras simples por concelebrantes, apesar de isso sempre se ter visto nas celebrações do papa, mas nunca escrito no cerimonial dos bispos.
A nova mitra cardinalícia
3.1.3Mitra simples do Papa
A mitra dita simplex usada pelo Sumo Pontífice é, como todas as demais, eminentemente branca, possui, porém, tanto na parte da frente quanto na de trás um estreito contorno dourado, as ínfulas são brancas e possum também um contorno dourado, além de franjas dessa cor.
Mitra simples pontifícia sendo usada no funeral de um cardeal
Papa usando mitra simples na quarta-feira de cinzas
Bento XVI usando mitra simples de maiores proporções
3.2 Mitra Aurifrisada (auriphigyata)
Essa mitra seria uma versão intermediária entre a mitra simples e a mitra ornada. Ao invés da predominância do branco, ela apresenta a cor dourada. Não possui, como a mitra simples pedras ou bordados, mas já pode conter pérolas. Também se observam mitras aurifrisadas com relevo. Seu forro é geralmente vermelho, embora também se encontre mitras usando forro dourado.
Cardeal Burke com mitra aurifrisada, durante homilia.
Essa mitra não apresenta diferenças entre as mitras papais, cardinalícias e as dos demais bispos. É usada no advento e quaresma e nos demais tempos para alternar com a mitra preciosa. No segundo caso,é usada na missa pontifical depois do Kyrie rezado até o fim do credo cantado, também para outras cerimônias, como no início da vigília pascal, para rezar as ladainhas nas ordenações e o lava-pés.
Dom Rifan, usando mitra aurifrisada para o lava-pés.
O prelado durante o início da vigília pascal.
Na forma ordinária, a mitra aurifrisada não está propriamente prescrita, mas poderia ser entendida como um dos tipos de mitra ornada. Tendo lugar nas missas pontificais do advento e quaresma.
Papa João XXIII ajoelhado ao faldistório.
3. 3 Mitra ornada, preciosa ("pretiosa")
O terceiro tipo de mitra é a mitra ornada (forma ordinária) ou preciosa (extraordinária). Essa se destaca das duas primeiras por ser mais ricamente decorada. Geralmente munida de pedras preciosas, bordados, prata e ouro.
Bispo usando mitra preciosa
Na forma extraordinária, não é usada em todos os ritos, mas apenas parte deles. Por exemplo, para a procissão de entrada, de saída, para ser incensado, para imposição das mãos. Noutros ritos se usa a mitra aurifrisada.
Cardeal Cañizares usando mitra preciosa durante o rito de imposição das mãos
Papa Bento XVI usando mitra ornada com faixas em destaque
4. Uso da mitra nas celebrações
A mitra é um dos paramentos com mais complexo ritual. Uma regra geral para usar ou tirar a mitra é o costume apostólico que os homens tem o dever de orar descobertos, assim o bispo tira a mitra para as orações.
4.1 Uso na forma Ordinária
No novus ordo, a mitra é uma só na mesma ação litúrgica. Como já foi dito, existem apenas dois tipos: simples e ornada. Usa-se a simples na Quarta-feira de cinzas, Sexta-feira santa, nas estações quaresmais, no rito de inscrição do nome, na comemoração de todos os fiéis defuntos, nos ritos exequiais e missas pelos mortos. Em todos os outros dias e celebrações, usa-se mitra ornada.
Dentro das celebrações, o bispo usa mitra quando está sentado, quando faz a homilia, as alocuções e os avisos, quando abençoa solenemente o povo, quando faz gestos sacramentais e quando vai nas procissões; e não usa nas preces introdutórias, nas orações presidenciais, na oração universal, durante a oração eucarística, durante os hinos cantados de pé, nas procissões em que se leva o Santíssimo Sacramento ou Relíquias da Santa Cruz e ainda, diante do Santíssimo Sacramento exposto.
De maneira prática podemos dizer que, na missa:
- O bispo entra com a mitra;
- Retira a mitra antes da reverência ao altar;
- Recebe a mitra imediatamente antes da primeira leitura;
- Retira depois da bênção do diácono;
- Recebe para a homilia;
- Depõe para o credo ou preces, se for o caso;
- Recebe para receber as oferendas;
- Retira ao chegar no altar;
- Recebe depois da oração depois da comunhão;
- Retira-se usando mitra.
Nas Vésperas (de forma semelhante nas Laudes):
- O bispo entra com a mitra;
- Depõe ao subir ao presbitério;
- Coloca no início da salmodia;
- Retira após abençoar o incenso para o Magnificat;
- Recebe após a oração, para a bênção;
- Retira-se usando mitra.
4.2 Uso na forma Extraordinária
A mitra simples é usada na sexta-feira santa, no ofícios e missa dos falecidos. Para quem está acostumado à forma ordinária, nota a ausencia na mitra simples na quarta-feira de cinzas. Também usam mitra simples bispos co-sagrantes e bispos com outros ministérios que não seja o de celebrante.
A mitra aurifrisada é usada nos dias da Septuagésima, da Quaresma e do Advento, exceto os Domingos Gaudete e Laetere; também nas Rogações e Quatro Têmporas; na festa dos Santos Inocentes, a menos que caia em domingo; nas ladainhas; nas procissões penitenciais; nas bênçãos e consagrações, quando feitas de maneira privada; nas vigílias das festas que possuem véspera com jejum;
O bispo faz uso de mitra preciosa apenas nos dias em que se diz Glória e Te Deum.
Lembrado-se que mesmo quando o bispo faz uso da mitra preciosa, não o faz durante toda a missa, mas durante a entrada, a saída, para ser incensado ao início da missa, para lavar as mãos e dar a bênção final. Durante a epístola e o gradual, para as outras partes faz uso da aurifrisada.
Esse uso, provavelmente se deve à grande ornamentação da mitra precisa, que tornava mais cômodo o uso de uma mitra mais leve durante o decorrer da missa, reservando a mitra preciosa para as partes mais solenes e expressivas.
O Cerimonial dos Bispos diz que, quando está prescrito o uso da mitra aurifrisada como "primeira mitra", pode-se usar a mitra simples como "segunda mitra". Isto é, usa-se a aurifrisada quando se usaria a preciosa e a simples quando se usaria a aurifrisada.
De maneira prática, na Santa Missa:
- O bispo entra com a mitra preciosa;
- Depõe a mitra preciosa para as orações ao pé do altar;
- Recebe a mitra preciosa para ser incensado e a depõe logo em seguida;
- Recebe a mitra aurifrisada para a leitura da epístola;
- Depõe a mitra aurifrisada após a bênção do diácono;
- Recebe novamente a mitra aurifrisada para a homilia;
- Depondo-a após a homilia para o credo;
- Recebe a mitra preciosa para as abluções;
- Depõe a mitra preciosa depois de chegar ao altar;
- Recebe a mitra preciosa para ser incensado;
- Depõe a mitra depois do Lavabo;
- Recebe a mitra preciosa para as abluções depois da homilia;
- Depõe a mitra antes da oração depois da comunhão;
- Recebe a mitra preciosa para a bênção;
- Depõe-na para o último evangelho;
- Retira-se usando mitra ornada.
Lembrando que quando a oração rezada excede em muito a cantada e o bispo se senta, recebe a mitra aurifrisada do fim da oração rezada até o fim da oração cantada.
5. Mitra para não-bispos
Apesar de ser uma insígnia episcopal, em vários casos a mitra foi concedida ordinária e extraordinariamente a não-bispos. Entre esses destacamos os monsenhores e cônegos que usaram como privilégio e também aos que usam também nos dias atuais, como os abades e outros clérigos que detém jurisdição sobre um território mesmo não tendo dignidade episcopal, como os administradores apostólicos.
5.1 Mitra para Abades
Dentre estes destacamos os abades que, como vimos, passaram a ter esse privilégio antes de qualquer outro clérigo. Embora por um pequeno período de tempo, por força de lei, fosse proibido aos abades alguns enfeites em suas insígnias, como o uso de enfeites dourados e modelos mais enfeitados; em geral, as insígnias abaciais são atualmente as mesmas que as usadas pelos bispos. Uma vez que são mitrados, usam também o solidéu à maneira dos bispos. Assim, cada um segundo a cor do próprio hábito monástico, os abades usam solidéu sob a mitra. Abaixo, abades mitrados:
5.2 Mitra para Cônegos
Não foi apenas aos abades que foi concedido o privilégio da mitra, também às mais altas classes de monsenhor e aos cabidos catedralicos de algumas importantes dioceses e cabidosde outras igrejas importantes. Por exemplo, o panteão em Roma possuiu até a reforma de Paulo VI, cônegos mitrados.
Quanto do Motu Proprio que reduziu o uso das insígnias, os clérigos que já haviam recebido tal privilégio poderiam mantê-lo. Assim, temos uma foto recente de uma celebração o Panteão em Roma, onde vemos um cônego de mais idade portando a mitra que lhe foi concedida quado de sua nomeação ao cabido.
Em alguns casos, o privilégio da mitra concedida aos cônegos sofriam limitações. Era comum que determinados cabidos só pudessem usar mitra simplex, independementemente da celebração.
5.3 Mitra para Monsenhores
Na classe dos monsenhores, os protonotários apostólicos numerários são, sem dúvida, os não-bispos que mais se serviram da mitra. A proximidade com a Santa Sé e o grande poder dentro dos discatérios certamente lhes proporcionaram uma intimidade muito grande com esse privilégio. Tanto que os protonotários chegaram a ter modelos de mitra próprios, como se lista abaixo.
Essa primeira é a mitra simples, nota-se uma grande semelhança com a mitra simples do próprio Papa. Tanto a mitra é munida de borda dourada, quanto as ínfulas de franjas da mesma cor.
Essa é a mitra chama "adamascada", muito parecida com as mitras pinhas dos cardeais, no lugar do relevo de pinha, leva relevos florais. Perde apenas em relação ao tamanho para os companheiros do colégio cardinalício.
Entretanto, essa familiaridade com as insígnias episcopais não fez com que Paulo VI os poupasse. Por meio de motu proprio, o Papa revogou os privilégios mitrais de praticamente todos os clérigos não-bispos, incluindo os protonotários numerários.
5.4 Anglicanorum Coetibus
Recentemente, o papa concedeu o privilégio do uso das insígnias episcopais, entre elas a mitra, aos ex-bispos anglicanos que foram ordenados até o grau de presbítero.
Nesta foto, vemos o Ordinário, Pe. Newton Keith, exercendo o seu direito, como ex-bispo anglicano, de acordo com a Anglicanorum Coetibus, de usar pontificais.
7. Conclusão
A mitra é, apesar de seus muitos tipos e complexo cerimonial, é uma insígnia de significado muito simples: autoridade. Não poder temporal, mas autoridade pastoral. Se o báculo representa a missão do bispo de pastorear o povo, a mitra representa a autoridade que lhe foi dada para desempenho deste ministério.
Assim, o uso da mitra nas celebrações, não apenas na catedral, mas também ao visitar cada uma das paróquias, é de grande proveito pastoral. Primeiro porque embeleza e enriquece a liturgia, tornando mais próxima dos fiéis a glória celeste; depois por que faz com que o bispo seja visto como Sumo-Sacerdote, uma distinção clara, que até aos menos esclarecidos faz entender o caráter distinto do bispo em relação aos seus presbíteros.
BIBLIOGRAFIA:
- Caeremoniale Episcoporum, edição de 1886, Liber Primus, caput XVII;
- Caeremoniale Episcoporum, edição de 1984, caput IV, n.60;
- The Catholic Encyclopedia, mitre;
- Forun Cattolici Romani, Dizionario Liturgico, mitra;
Continuamos a nossa série de posts sobre os paramentos. Apesar de já termos falado das insígnias pontificais em geral, hoje retomamos uma em particular, com a finalidade de olhar melhor sua história, seu simbolismo e, também, seu uso dentro das celebrações litúrgicas.
1. Origem e desenvolvimento
A origem da mitra está em Roma. Entre as vestes não-litúrgicas próprias do papa, encontramos o camelauco. Este se constituía de um pequeno barrete, que passou do uso profano às vestes do papa no início do século VIII, tendo sido citado pela primeira vez durante o Pontificado de Celestino I no "Liber Pontificales".
O formato inicial do camelauco era cônico e era produzido em seda branca. Seu uso se dava principalmente durante as procissões solenes. E foi dessa forma que a mitra teve sua origem. O papa passou a não usar a cobertura para a cabeça não apenas na procissão, mas na celebração que se seguia, geralmente a Santa Missa.
Nesse momento a mitra era um distintivo do papa. Só tempos mais tarde que a mitra passou a ser insígnia episcopal. E, apenas no século XI, que a mitra passou a ser usada também pelos cardeais, ainda que não fossem bispos. Esse é certamente o primeiro caso de clérigos mitrados fora da ordem episcopal. O segundo, foi provavelmente os abades, quando o Papa Alexandre I concedeu o privilégio da mitra ao Abade Eugênio da Abadia de Canterbury, privilégio este que se disseminou até ser comum a todos os abades.
Caminhando um pouco mais na história, podemos ver o uso de mitra até mesmo por não-clérigos. Entre os leigos, podemos citar o uso de mitra pelo Imperador Alemão e pelo Duque da Boêmia. Também, à semelhança dos abades, a algumas abadessas a mitra foi concedida para ser usada sobre o véu.
Esses casos de uso por leigos não persistiram . As abadessas deixaram de usar mitras e também abandonou-se qualquer uso dela relacionado ao poder temporal dos nobres. Aos estes últimos, foram reservadas as insígnias nobiliarquicas, em relação à cabeça, o uso da coroa. As abadessas cobrem-se apenas o véu, embora outras insígnias pontificais lhes sejam mantidas até hoje.
Em relação ao formato, a mitra cônica do século XI, deu lugar, no século posterior, à mitra partida ao centro. Também se nota desse século a faixa junto à base que decora a mitra (círculus). Este formato de mitra, embora seja hoje estranho aos ritos latinos, é o mesmo modelo, ou ao menos muito semelhante, da mitra dos bispos de Rito Caldeu.
S. Beatitude Cardeal Varkey Vithayathil, arcebispo maior da Sui Iuris Sírio-Malabar
Aparentemente as ínfulas, que nem sempre foram unidas à parte trazeira da mitra, tornam-se parte integrante a partir desse período. Passado certo tempo, o formato bi-côncavo das mitra passou a ser mais pontiagudo e a depressão central mais evidente. Po conta da rigidez da estrutura para manter as pontas, foi acrescentada à estrutura da mitra uma espécie de intertela. Posteriormente, a mitra teve uma outra importante transformação, não tanto em seu formato, mas em sua decoração e seu uso. As mitra passaram a ser decoradas, além da faixa da base (círculus), também uma faixa que passada pelo meio da mitra, à frente e atrás (títulus). As mitras passaram a ser usadas não com as pontas aos lados, mas com uma atrás e outra voltada para frente.
Pouco depois, na parte posterior, ao invés das laterais, passaram a ser presas as ínfulas.
No século XIV, esse formato começou a ser distorcido. O formato que era pouco maior em altura do que em largura, quando dobrado, começou a ficar cada vez mais vertical, até que no século XVII tomou as maiores proporções que teria em toda a história, até a atualidade. Este tamanho foi mantido por vários séculos, até começar a diminuir no século XX.
2. As partes da mitra latina
A mitra latina, usado no Rito Romano e noutros ritos ocidentais, é munida de duas partes em formato aproximado de pentágono, cada um denominado cúspide; assim, dizemos que a mitra latina possui formato bicúspide.As cúspides apontam para cima e simbolizam que é de lá que provém a autoridade e a dignidade do bispo.
As cúspides estão unidas pelas laterais, na parte inferior e por um tecido no interior da mitra, o forro. Embora hajam variações, ste é geralmente da cor vermelha, sibolizando o Espírito Santo que assiste e aconselha o prelado em seu ministério.
Em destaque o forro dourado da mitra do papa Bento XVI
O então cardeal Ratzinger utilizando mitra com forro vermelho
Na parte posterior, ficam suspensas duas pequenas tiras munidas de franjas, ínfulas. Essas, segundo a tradição litúrgica têm o significado atrelado ao da estola. Enquanto a última significa o poder sacerdotal, as primeiras simbolizam a plenitude do sacerdócio. Também as ínfulas são forradas.
Mitra mostrando o formato da cúspide e também as ínfulas pendentes
3. Tipos de MitrasNo Rito Romano, as mitras são classificadas tradicionalmente segundo os seus ornamentos. De acordo com a celebração, o cerimonial prevê um tipo de mitra. Na forma extraordinária tem-se três tipos: a mitra simples, a mitra aurifrisada e a mitra preciosa. Na forma ordinária, o Cerimonial dos Bispos distingue apenas dois tipos: simples e ornada.
3.1 Mitra Simples ("simplex")
O primeiro dos tipos de mitra é a mitra simples, sua principal característica é a falta de ornamentos e a cor predominantemente branca. A mitra simples, ironicamente, possui a mais complexa variação entre os o colégio dos bispos, diferindo entre o papa, os cardeais e os demais prelados.
3.1.1 Mitra simples dos bispos e abades
A mitra simples do bispos é branca, exceto pelas franjas vermelhas das ínfulas. São feitas de seda e não possuem nenhum relevo ou bordado, nem mesmo o tradicional brasão nas ínfulas. O forro é geralmente branco, embora se veja por vezes mitras simples de bispos munidas de forro vermelho.
Bispo usando mitra simples por ocasião de ritos fúnebres
Bispos ingleses usando mitras simples durante concelebração
Bispos ingleses usando mitras simples durante concelebração
3.1.2 Mitra simples dos Cardeais
Tradicionalmente os cardeais usam nas celebrações do Sumo Pontífice a mitra pinha, uma mitra de tecido adamascado com relevo dessa fruta. Tanto para os cardeais diáconos, quanto para outras funções e, mais modernamente, para a concelebração.
A pinha é um símbolo muito antigo no império romano, ela representa a união de vários povos em torno da cidade de Roma; liturgicamente, representa a união de todo o mundo na pessoa dos cardeais ao redor do Sumo Pontífice.
Cardeais em mitra pinha ("della pigna")
As mitras pinhas por muito tempo tiveram grandes dimensões, durante o pontificado de João Paulo II, para que as mitras dos cardeais não fossem mais altas que as mitras do Papa, Dom Piero Marini diminuiu o tamanho máximo dessas mitras, mantendo, entretato, o relevo de pinha, o forro branco e as tradicionais franjas vermelhas nas ínfulas. Atualmente, com o crescente tamanho das mitras do papa Bento XVI, já se especula se as mitras cardinalícias não poderiam crescer algumas polegadas novamente.
Mitras pinhas de tamanho menor, em uso atualmente.
Mitra pinha em vitrine de loja litúrgica entre outras vestes cardinalícias
Detalhe para o vermelho na ponta das ínfulas
Mais recentemente ainda, Mons. Guido Marini, instituiu para os cardeais que concelebram com o papa uma mitra parecida com a mitra dita "faixada" que se deniminou extraoficialmente "levemente ornada". Essa mitra ainda é uma novidade nas celebrações litúrgicas, mal vista por alguns que tinham por via de regra o uso de mitras simples por concelebrantes, apesar de isso sempre se ter visto nas celebrações do papa, mas nunca escrito no cerimonial dos bispos.
A nova mitra cardinalícia
3.1.3Mitra simples do Papa
A mitra dita simplex usada pelo Sumo Pontífice é, como todas as demais, eminentemente branca, possui, porém, tanto na parte da frente quanto na de trás um estreito contorno dourado, as ínfulas são brancas e possum também um contorno dourado, além de franjas dessa cor.
Mitra simples pontifícia sendo usada no funeral de um cardeal
Papa usando mitra simples na quarta-feira de cinzas
Bento XVI usando mitra simples de maiores proporções
3.2 Mitra Aurifrisada (auriphigyata)
Essa mitra seria uma versão intermediária entre a mitra simples e a mitra ornada. Ao invés da predominância do branco, ela apresenta a cor dourada. Não possui, como a mitra simples pedras ou bordados, mas já pode conter pérolas. Também se observam mitras aurifrisadas com relevo. Seu forro é geralmente vermelho, embora também se encontre mitras usando forro dourado.
Cardeal Burke com mitra aurifrisada, durante homilia.
Essa mitra não apresenta diferenças entre as mitras papais, cardinalícias e as dos demais bispos. É usada no advento e quaresma e nos demais tempos para alternar com a mitra preciosa. No segundo caso,é usada na missa pontifical depois do Kyrie rezado até o fim do credo cantado, também para outras cerimônias, como no início da vigília pascal, para rezar as ladainhas nas ordenações e o lava-pés.
Dom Rifan, usando mitra aurifrisada para o lava-pés.
O prelado durante o início da vigília pascal.
Na forma ordinária, a mitra aurifrisada não está propriamente prescrita, mas poderia ser entendida como um dos tipos de mitra ornada. Tendo lugar nas missas pontificais do advento e quaresma.
Papa João XXIII ajoelhado ao faldistório.
3. 3 Mitra ornada, preciosa ("pretiosa")
O terceiro tipo de mitra é a mitra ornada (forma ordinária) ou preciosa (extraordinária). Essa se destaca das duas primeiras por ser mais ricamente decorada. Geralmente munida de pedras preciosas, bordados, prata e ouro.
Bispo usando mitra preciosa
Na forma extraordinária, não é usada em todos os ritos, mas apenas parte deles. Por exemplo, para a procissão de entrada, de saída, para ser incensado, para imposição das mãos. Noutros ritos se usa a mitra aurifrisada.
Cardeal Cañizares usando mitra preciosa durante o rito de imposição das mãos
Papa Bento XVI usando mitra ornada com faixas em destaque
4. Uso da mitra nas celebraçõesA mitra é um dos paramentos com mais complexo ritual. Uma regra geral para usar ou tirar a mitra é o costume apostólico que os homens tem o dever de orar descobertos, assim o bispo tira a mitra para as orações.
4.1 Uso na forma Ordinária
No novus ordo, a mitra é uma só na mesma ação litúrgica. Como já foi dito, existem apenas dois tipos: simples e ornada. Usa-se a simples na Quarta-feira de cinzas, Sexta-feira santa, nas estações quaresmais, no rito de inscrição do nome, na comemoração de todos os fiéis defuntos, nos ritos exequiais e missas pelos mortos. Em todos os outros dias e celebrações, usa-se mitra ornada.
Dentro das celebrações, o bispo usa mitra quando está sentado, quando faz a homilia, as alocuções e os avisos, quando abençoa solenemente o povo, quando faz gestos sacramentais e quando vai nas procissões; e não usa nas preces introdutórias, nas orações presidenciais, na oração universal, durante a oração eucarística, durante os hinos cantados de pé, nas procissões em que se leva o Santíssimo Sacramento ou Relíquias da Santa Cruz e ainda, diante do Santíssimo Sacramento exposto.
De maneira prática podemos dizer que, na missa:
- O bispo entra com a mitra;
- Retira a mitra antes da reverência ao altar;
- Recebe a mitra imediatamente antes da primeira leitura;
- Retira depois da bênção do diácono;
- Recebe para a homilia;
- Depõe para o credo ou preces, se for o caso;
- Recebe para receber as oferendas;
- Retira ao chegar no altar;
- Recebe depois da oração depois da comunhão;
- Retira-se usando mitra.
- O bispo entra com a mitra;
- Depõe ao subir ao presbitério;
- Coloca no início da salmodia;
- Retira após abençoar o incenso para o Magnificat;
- Recebe após a oração, para a bênção;
- Retira-se usando mitra.
4.2 Uso na forma Extraordinária
A mitra simples é usada na sexta-feira santa, no ofícios e missa dos falecidos. Para quem está acostumado à forma ordinária, nota a ausencia na mitra simples na quarta-feira de cinzas. Também usam mitra simples bispos co-sagrantes e bispos com outros ministérios que não seja o de celebrante.
A mitra aurifrisada é usada nos dias da Septuagésima, da Quaresma e do Advento, exceto os Domingos Gaudete e Laetere; também nas Rogações e Quatro Têmporas; na festa dos Santos Inocentes, a menos que caia em domingo; nas ladainhas; nas procissões penitenciais; nas bênçãos e consagrações, quando feitas de maneira privada; nas vigílias das festas que possuem véspera com jejum;
O bispo faz uso de mitra preciosa apenas nos dias em que se diz Glória e Te Deum.
Lembrado-se que mesmo quando o bispo faz uso da mitra preciosa, não o faz durante toda a missa, mas durante a entrada, a saída, para ser incensado ao início da missa, para lavar as mãos e dar a bênção final. Durante a epístola e o gradual, para as outras partes faz uso da aurifrisada.
Esse uso, provavelmente se deve à grande ornamentação da mitra precisa, que tornava mais cômodo o uso de uma mitra mais leve durante o decorrer da missa, reservando a mitra preciosa para as partes mais solenes e expressivas.
O Cerimonial dos Bispos diz que, quando está prescrito o uso da mitra aurifrisada como "primeira mitra", pode-se usar a mitra simples como "segunda mitra". Isto é, usa-se a aurifrisada quando se usaria a preciosa e a simples quando se usaria a aurifrisada.
- O bispo entra com a mitra preciosa;
- Depõe a mitra preciosa para as orações ao pé do altar;
- Recebe a mitra preciosa para ser incensado e a depõe logo em seguida;
- Recebe a mitra aurifrisada para a leitura da epístola;
- Depõe a mitra aurifrisada após a bênção do diácono;
- Recebe novamente a mitra aurifrisada para a homilia;
- Depondo-a após a homilia para o credo;
- Recebe a mitra preciosa para as abluções;
- Depõe a mitra preciosa depois de chegar ao altar;
- Recebe a mitra preciosa para ser incensado;
- Depõe a mitra depois do Lavabo;
- Recebe a mitra preciosa para as abluções depois da homilia;
- Depõe a mitra antes da oração depois da comunhão;
- Recebe a mitra preciosa para a bênção;
- Depõe-na para o último evangelho;
- Retira-se usando mitra ornada.
5. Mitra para não-bispos
Apesar de ser uma insígnia episcopal, em vários casos a mitra foi concedida ordinária e extraordinariamente a não-bispos. Entre esses destacamos os monsenhores e cônegos que usaram como privilégio e também aos que usam também nos dias atuais, como os abades e outros clérigos que detém jurisdição sobre um território mesmo não tendo dignidade episcopal, como os administradores apostólicos.
5.1 Mitra para Abades
Dentre estes destacamos os abades que, como vimos, passaram a ter esse privilégio antes de qualquer outro clérigo. Embora por um pequeno período de tempo, por força de lei, fosse proibido aos abades alguns enfeites em suas insígnias, como o uso de enfeites dourados e modelos mais enfeitados; em geral, as insígnias abaciais são atualmente as mesmas que as usadas pelos bispos. Uma vez que são mitrados, usam também o solidéu à maneira dos bispos. Assim, cada um segundo a cor do próprio hábito monástico, os abades usam solidéu sob a mitra. Abaixo, abades mitrados:
5.2 Mitra para Cônegos
Não foi apenas aos abades que foi concedido o privilégio da mitra, também às mais altas classes de monsenhor e aos cabidos catedralicos de algumas importantes dioceses e cabidosde outras igrejas importantes. Por exemplo, o panteão em Roma possuiu até a reforma de Paulo VI, cônegos mitrados.
Quanto do Motu Proprio que reduziu o uso das insígnias, os clérigos que já haviam recebido tal privilégio poderiam mantê-lo. Assim, temos uma foto recente de uma celebração o Panteão em Roma, onde vemos um cônego de mais idade portando a mitra que lhe foi concedida quado de sua nomeação ao cabido.
5.3 Mitra para Monsenhores
Na classe dos monsenhores, os protonotários apostólicos numerários são, sem dúvida, os não-bispos que mais se serviram da mitra. A proximidade com a Santa Sé e o grande poder dentro dos discatérios certamente lhes proporcionaram uma intimidade muito grande com esse privilégio. Tanto que os protonotários chegaram a ter modelos de mitra próprios, como se lista abaixo.
Essa primeira é a mitra simples, nota-se uma grande semelhança com a mitra simples do próprio Papa. Tanto a mitra é munida de borda dourada, quanto as ínfulas de franjas da mesma cor.
Essa é a mitra chama "adamascada", muito parecida com as mitras pinhas dos cardeais, no lugar do relevo de pinha, leva relevos florais. Perde apenas em relação ao tamanho para os companheiros do colégio cardinalício.
Entretanto, essa familiaridade com as insígnias episcopais não fez com que Paulo VI os poupasse. Por meio de motu proprio, o Papa revogou os privilégios mitrais de praticamente todos os clérigos não-bispos, incluindo os protonotários numerários.
Nesta foto, vemos o Ordinário, Pe. Newton Keith, exercendo o seu direito, como ex-bispo anglicano, de acordo com a Anglicanorum Coetibus, de usar pontificais.
5.4 Anglicanorum CoetibusRecentemente, o papa concedeu o privilégio do uso das insígnias episcopais, entre elas a mitra, aos ex-bispos anglicanos que foram ordenados até o grau de presbítero.
Nesta foto, vemos o Ordinário, Pe. Newton Keith, exercendo o seu direito, como ex-bispo anglicano, de acordo com a Anglicanorum Coetibus, de usar pontificais.
7. Conclusão
A mitra é, apesar de seus muitos tipos e complexo cerimonial, é uma insígnia de significado muito simples: autoridade. Não poder temporal, mas autoridade pastoral. Se o báculo representa a missão do bispo de pastorear o povo, a mitra representa a autoridade que lhe foi dada para desempenho deste ministério.
Assim, o uso da mitra nas celebrações, não apenas na catedral, mas também ao visitar cada uma das paróquias, é de grande proveito pastoral. Primeiro porque embeleza e enriquece a liturgia, tornando mais próxima dos fiéis a glória celeste; depois por que faz com que o bispo seja visto como Sumo-Sacerdote, uma distinção clara, que até aos menos esclarecidos faz entender o caráter distinto do bispo em relação aos seus presbíteros.
BIBLIOGRAFIA:
- Caeremoniale Episcoporum, edição de 1886, Liber Primus, caput XVII;
- Caeremoniale Episcoporum, edição de 1984, caput IV, n.60;
- The Catholic Encyclopedia, mitre;
- Forun Cattolici Romani, Dizionario Liturgico, mitra;
Vocabulário de Alfaias e Objetos litúrgicos
Alfaias litúrgicas Chamam-se alfaias, os pequenos panos e objetos encapados com tecido que se usa junto aos vasos sagrados:
· Corporal;
· Pala;
· Sanguineo;
· Manustérgio;
· Véu do Cálice;
· Bolsa do Corporal.

Âmbula Vasos usados para guardar os Santos Óleos: o óleo dos catecúmenos, óleo dos enfermos e o Santo Crisma.
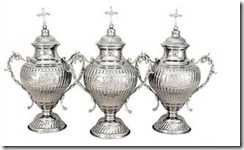
Em alguns lugares também se conhece por esse nome o Cibório. Aspersório Cf. Hissopo Ara Diz-se Ara ou, mais especificamente, Pedra D’Ara a pedra sobre o altar na qual se colocam as relíquias dos Santos.
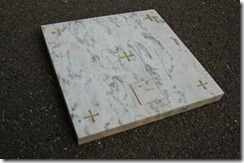
Bandeja de comunhão Pequeno prato, geralmente munido de aste, usado durante a comunhão sob o queixo daquele que comunga para evitar que se perca alguma partícula das sagradas espécies. 
Bolsa do Corporal / Burça Bolsa formada por duas partes rígidas encapadas e unidas por tecido. Usada para portar o corporal e colocada sobre o véu do cálice. Sua cor varia com a do tempo.

Caldeira Vaso litúrgico próprio para água benta.

Cálice O mais digno dos vasos sagrados. É usado para portar o preciosíssimo sague.
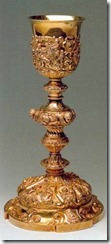
Carrilhão Cojunto de sinos, geralmente pequenos, unidos que tocam juntos. Geralmente é usado como campainha durante a consagração.

Castiçal Usado para portar as velas, durante a liturgia permanece sobre o altar em número de dois, quatro, seis ou, se missa do bispo, sete. Também é levado nas procissões.

Catafalco Denomina-se catafalco, o caixão e seus adornos, quando ele é deposto na Igreja para os ritos fúnebres, mormente missa de corpo presente.

Cerimonial dos Bispos
Livro que reúne as rubricas de todas as celebrações de cunho episcopal.

Cibório Vaso sagrado semelhante ao cálice. Possui copa mais larga e tampa. Porta o santíssimo corpo de Nosso Senhor para a comunhão dos fiéis. Quando tampada, exceto se conter apenas partículas que ainda não foram consagradas, leva sobre si o véu o cibório.

Círio Pascal Círio pascal é a vela abençoada e marcada com símbolos próprios que se acende com fogo santo na vigília pascal. Entre os símbolos, encontra-se a cruz, as letras alfa e ômega e os cravos (cf. cravos).
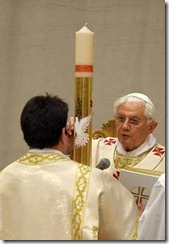
Conopéu Véu que cobre a porta do sacrário. Varia segundo a cor do tempo.

Em alguns lugares também se chama de conopéu o véu do cibório. Corporal Pano quadrado dobrado três vezes na vertical e três na horizontal. É desdobrado sobre o altar e sobre ele se põe os vasos sagrados que contém as sagradas espécies. É costume dobrá-lo e coloca-lo dentro da bolsa do corporal.
Cravos São chamados de cravos, os cinco pequenos pregos enfeitados com cera com que se marca a cruz do círio pascal, em memória das cinco chagas de Nosso Senhor mostrou aos discípulos depois de ressucitado.

Também se chamam cravos os enfeites do Pálio Episcopal. Cf. Cravos, Vocabulário de Paramentos. Crucifixo Crucifixo é a imagem na qual está representado Nosso Senhor crucificado. Na liturgia, deve-se tê-lo sempre junto do altar. O papa Bento XVI recolocou o crucifixo ao centro do altar nas missas em que celebra e nos altares das basílicas papais.

Custódia Cf. Ostensório Estauroteca Relicário em formato cruciforme para portar as relíquias da Santa Cruz. Para carrega-lo com a relíquia, usa-se véu umeral vermelho.
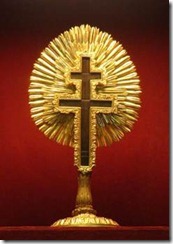
Evangeliário Evangeliário, ou Livro dos Evangelhos, é o livro litúrgico que reúne os evangelhos lidos na missa. É, dentro do rito romano, a representação física da palavra de Deus e, em particular, das sagradas escrituras. Ler mais... em breve.
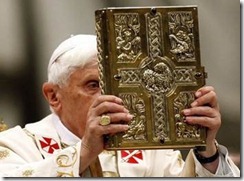
Faldistório Faldistório é um objeto usado pelo bispo para se sentar ou se ajoelhar em determinados momentos da liturgia. Ler mais...

Fístula Objeto próprio da liturgia pontificia, usado para comungar da espécie do vinho.

Flabelo Leque de plumas, representação do bater das asas dos serafins, usado junto à sédia gestatória.

Galhetas Vasos que portam a água e o vinho. O vinho com uma gota d’água só vai para o cálice quando da preparação do altar.

Hissopo Objeto usado para aspergir a assembléia ou um objeto com água benta.

Lavabo Conjunto de bacia e jarro com que o sacerdote lava as mãos ao fim do ofertório. O acompanha uma alfaia: o manustérgio.
Lecionário Lecionário é o livro usado para se fazer as leituras, na forma ordinária. Os lecionários contém leituras, sequências, salmos, aclamação ao evangelho e, ainda, o próprio evangelho. Dentre os lecionários temos:
· Lecionário Dominical;
· Lecionário Semanal (em dois volumes);
· Lecionário Santoral;
· Lecionário do Pontifical Romano;
Existem ainda os lecionários para a liturgia das horas. Usa-se os lecionários sempre do ambão.

Luneta Pequeno objeto em formato de meia lua, daí seu nome, usado para portar e sustentar a hóstia dentro do ostensório.

Manustérgio Pequena toalha usada junto do lavabo, com a qual o sacerdote enxuga as mãos depois de ar ter lavado.
Seu nome provém do antigo porta-toalha litúrgico que recebia o nome de manustérgio também, ilustrado abaixo.

Matraca Objeto de maneira de produz um som menos estridente que os sinos e carrilhões e os substituem durate a quaresma, ou parte dela.

Missal Principal livro da missa onde se encontra o ordinário, orações sacerdotais próprias de cada dia e, na forma extraordinária, também a epístola e o evangelho.

Naveta Vaso em forma de nave, de onde vem seu nome, que porta o incenso a ser colocado no turíbulo.

Ostensório Vaso sagrado usado para expor à Adoração Solene o Santíssimo Sacramento. Geralmente é munido de luneta.

Pala Objeto rígido, encapado com tecido utilizado para cobrir o cálice. Geralmente de forma quadrangular e bordadas.

pálio Objeto constituído de um tecido decorado, sob o qual se transporta o Ssmo de forma sonele.

Palmatória Castiçal usado junto ao bispo, na forma extraordinária, e portado por um acólito-assistente, para representar sua dignidade. Seu uso inicia-se nos tempos em que era necessária para que o bispo pudesse ler os textos nas missas noturnas.
Patena Junto com o cálice, um dos mais importantes. É um objeto circular, raso, usado para portar a hóstia grande.

Píxide Cf. Cibório Pontifical Livro que reúne os textos das celebrações presididas pelo bispo como crisma, ordenações, etc.
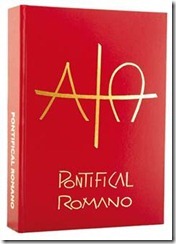
Presbiteral Uma copilação dos rituais sacramentos geralmente administrados pelo presbítero, anaálogo ao pontifical. Não é um livro tradicional do rito romano, mas vem se mostrando mais útil que o tradicional sacramentário.

Purificatório Cf. Sanguineo Relicário Objeto parecido com o ostensório, mas utilizado pra expor à veneração as relíquias dos santos.

Rituais Chamamos de rituais, os livros que contém os rito de sacramentos e sacramentais, listados a seguir:
· Ritual do Batismo de Crianças;
· Ritual das Exéquias;
· Ritual da Iniciação Cristã de Adultos;
· Ritual da Unção dos Enfermos;
· Ritual da Sagrada Comunhão e Culto Eucarístico Fora da Missa;
· Ritual da Penitência
· Ritual de Bênçãos;
· Ritual do Matrimônio;
· Ritual do Exercismo e outras súplicas.
No Brasil, algumas editoras produzem rituais, a partir dos ritos que existem dentro do Pontifical Romano.
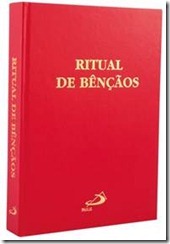
Sacramentário Livro que resume de maneira sucinta, os rituais dos principais sacramentos.
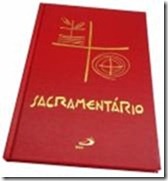
Sacrário Espaço reservado nos tempos para guardar a reserva eucarística. É ornado, trancado à chave e possui uma luz acesa constantemente para indicar a presença do Ssmo.

Sacras São orações emolduradas que figuram na forma extraordinária do rito romano no cento e em ambos os lados do altar com os textos do ordinário da Santa Missa recitados em cada um desses lugares.

Sanguineo/Sanguinho Pequena alfaia de formato retangular, que se encontra junto ao cálice. É usada para evitar que alguma partícula se perca e para limpar e secar os vasos sagrados. Teca
Pequeno vaso sagrado com tampa, usado para guardar hóstias consagradas no sacrário e, mormente, levá-las como viático aos enfermos.

Tintinábulo Insígnia basilical que consta de uma aste devidamente enfeitada, geralmente com o triregnum e as chaves, e munida de um sino. Junto com a umbela é levado à frente das procissões basilicais.

Trono do Ssmo. Objeto, geralmente metálico, em formato de coluna ou baldaquino que sustenta o ostensório quando da exposição do Santíssimo Sacramento.

Turíbulo O vaso sagrado, munido de uma parte inferior, onde se colocamas brasas incandescentes e se queima o incenso; uma parte intermédia móvel, chamada opérculo, e uma parte superior onde se predem as correstes de sustentação e a que suspende o opérculo.
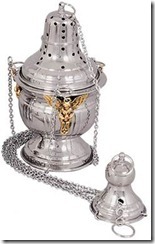
Umbela Objeto em formato de guarda-chuva, usado para transportar o santíssimo sacramento de forma menos solene que o pálio.

É usada ainda como insígnia das basílicas, nesse segundo caso, possui partes vermelhas e douradas que se alternam.

Véu do Cibório
Véu do Cálice Véu, sempre de cor branca, que cobre o cibório quando este porta óstias consagradas.

Véu do Cálice é um véu que cobre o cálice com o sanguineo, a pala e a patena. Seu cor varia de acordo com a do tempo. Sobre ele vai a bolsa do corporal com o corporal dentro.
| Alfaias litúrgicas | Chamam-se alfaias, os pequenos panos e objetos encapados com tecido que se usa junto aos vasos sagrados: · Corporal; · Pala; · Sanguineo; · Manustérgio; · Véu do Cálice; · Bolsa do Corporal.  |
| Âmbula | Vasos usados para guardar os Santos Óleos: o óleo dos catecúmenos, óleo dos enfermos e o Santo Crisma.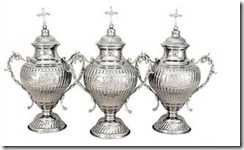 Em alguns lugares também se conhece por esse nome o Cibório. |
| Aspersório | Cf. Hissopo |
| Ara | Diz-se Ara ou, mais especificamente, Pedra D’Ara a pedra sobre o altar na qual se colocam as relíquias dos Santos.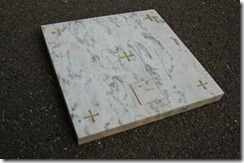 |
| Bandeja de comunhão | Pequeno prato, geralmente munido de aste, usado durante a comunhão sob o queixo daquele que comunga para evitar que se perca alguma partícula das sagradas espécies.  |
| Bolsa do Corporal / Burça | Bolsa formada por duas partes rígidas encapadas e unidas por tecido. Usada para portar o corporal e colocada sobre o véu do cálice. Sua cor varia com a do tempo. |
| Caldeira | Vaso litúrgico próprio para água benta. |
| Cálice | O mais digno dos vasos sagrados. É usado para portar o preciosíssimo sague.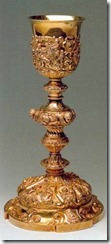 |
| Carrilhão | Cojunto de sinos, geralmente pequenos, unidos que tocam juntos. Geralmente é usado como campainha durante a consagração. |
| Castiçal | Usado para portar as velas, durante a liturgia permanece sobre o altar em número de dois, quatro, seis ou, se missa do bispo, sete. Também é levado nas procissões. |
| Catafalco | Denomina-se catafalco, o caixão e seus adornos, quando ele é deposto na Igreja para os ritos fúnebres, mormente missa de corpo presente. |
| Cerimonial dos Bispos |
Livro que reúne as rubricas de todas as celebrações de cunho episcopal. |
| Cibório | Vaso sagrado semelhante ao cálice. Possui copa mais larga e tampa. Porta o santíssimo corpo de Nosso Senhor para a comunhão dos fiéis. Quando tampada, exceto se conter apenas partículas que ainda não foram consagradas, leva sobre si o véu o cibório. |
| Círio Pascal | Círio pascal é a vela abençoada e marcada com símbolos próprios que se acende com fogo santo na vigília pascal. Entre os símbolos, encontra-se a cruz, as letras alfa e ômega e os cravos (cf. cravos).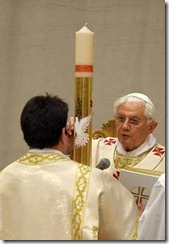 |
| Conopéu | Véu que cobre a porta do sacrário. Varia segundo a cor do tempo. Em alguns lugares também se chama de conopéu o véu do cibório. |
| Corporal | Pano quadrado dobrado três vezes na vertical e três na horizontal. É desdobrado sobre o altar e sobre ele se põe os vasos sagrados que contém as sagradas espécies. É costume dobrá-lo e coloca-lo dentro da bolsa do corporal. |
| Cravos | São chamados de cravos, os cinco pequenos pregos enfeitados com cera com que se marca a cruz do círio pascal, em memória das cinco chagas de Nosso Senhor mostrou aos discípulos depois de ressucitado. Também se chamam cravos os enfeites do Pálio Episcopal. Cf. Cravos, Vocabulário de Paramentos. |
| Crucifixo | Crucifixo é a imagem na qual está representado Nosso Senhor crucificado. Na liturgia, deve-se tê-lo sempre junto do altar. O papa Bento XVI recolocou o crucifixo ao centro do altar nas missas em que celebra e nos altares das basílicas papais. |
| Custódia | Cf. Ostensório |
| Estauroteca | Relicário em formato cruciforme para portar as relíquias da Santa Cruz. Para carrega-lo com a relíquia, usa-se véu umeral vermelho.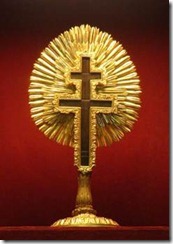 |
| Evangeliário | Evangeliário, ou Livro dos Evangelhos, é o livro litúrgico que reúne os evangelhos lidos na missa. É, dentro do rito romano, a representação física da palavra de Deus e, em particular, das sagradas escrituras. Ler mais... em breve.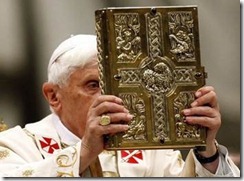 |
| Faldistório | Faldistório é um objeto usado pelo bispo para se sentar ou se ajoelhar em determinados momentos da liturgia. Ler mais... |
| Fístula | Objeto próprio da liturgia pontificia, usado para comungar da espécie do vinho. |
| Flabelo | Leque de plumas, representação do bater das asas dos serafins, usado junto à sédia gestatória. |
| Galhetas | Vasos que portam a água e o vinho. O vinho com uma gota d’água só vai para o cálice quando da preparação do altar. |
| Hissopo | Objeto usado para aspergir a assembléia ou um objeto com água benta. |
| Lavabo | Conjunto de bacia e jarro com que o sacerdote lava as mãos ao fim do ofertório. O acompanha uma alfaia: o manustérgio. |
| Lecionário | Lecionário é o livro usado para se fazer as leituras, na forma ordinária. Os lecionários contém leituras, sequências, salmos, aclamação ao evangelho e, ainda, o próprio evangelho. Dentre os lecionários temos: · Lecionário Dominical; · Lecionário Semanal (em dois volumes); · Lecionário Santoral; · Lecionário do Pontifical Romano; Existem ainda os lecionários para a liturgia das horas. Usa-se os lecionários sempre do ambão.  |
| Luneta | Pequeno objeto em formato de meia lua, daí seu nome, usado para portar e sustentar a hóstia dentro do ostensório. |
| Manustérgio | Pequena toalha usada junto do lavabo, com a qual o sacerdote enxuga as mãos depois de ar ter lavado. Seu nome provém do antigo porta-toalha litúrgico que recebia o nome de manustérgio também, ilustrado abaixo.  |
| Matraca | Objeto de maneira de produz um som menos estridente que os sinos e carrilhões e os substituem durate a quaresma, ou parte dela. |
| Missal | Principal livro da missa onde se encontra o ordinário, orações sacerdotais próprias de cada dia e, na forma extraordinária, também a epístola e o evangelho. |
| Naveta | Vaso em forma de nave, de onde vem seu nome, que porta o incenso a ser colocado no turíbulo. |
| Ostensório | Vaso sagrado usado para expor à Adoração Solene o Santíssimo Sacramento. Geralmente é munido de luneta. |
| Pala | Objeto rígido, encapado com tecido utilizado para cobrir o cálice. Geralmente de forma quadrangular e bordadas. |
| pálio | Objeto constituído de um tecido decorado, sob o qual se transporta o Ssmo de forma sonele. |
| Palmatória | Castiçal usado junto ao bispo, na forma extraordinária, e portado por um acólito-assistente, para representar sua dignidade. Seu uso inicia-se nos tempos em que era necessária para que o bispo pudesse ler os textos nas missas noturnas. |
| Patena | Junto com o cálice, um dos mais importantes. É um objeto circular, raso, usado para portar a hóstia grande. |
| Píxide | Cf. Cibório |
| Pontifical | Livro que reúne os textos das celebrações presididas pelo bispo como crisma, ordenações, etc.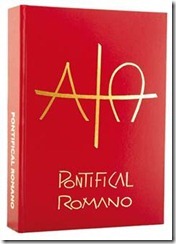 |
| Presbiteral | Uma copilação dos rituais sacramentos geralmente administrados pelo presbítero, anaálogo ao pontifical. Não é um livro tradicional do rito romano, mas vem se mostrando mais útil que o tradicional sacramentário. |
| Purificatório | Cf. Sanguineo |
| Relicário | Objeto parecido com o ostensório, mas utilizado pra expor à veneração as relíquias dos santos. |
| Rituais | Chamamos de rituais, os livros que contém os rito de sacramentos e sacramentais, listados a seguir: · Ritual do Batismo de Crianças; · Ritual das Exéquias; · Ritual da Iniciação Cristã de Adultos; · Ritual da Unção dos Enfermos; · Ritual da Sagrada Comunhão e Culto Eucarístico Fora da Missa; · Ritual da Penitência · Ritual de Bênçãos; · Ritual do Matrimônio; · Ritual do Exercismo e outras súplicas. No Brasil, algumas editoras produzem rituais, a partir dos ritos que existem dentro do Pontifical Romano. 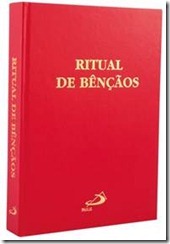 |
| Sacramentário | Livro que resume de maneira sucinta, os rituais dos principais sacramentos.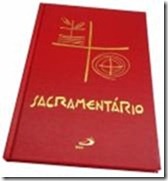 |
| Sacrário | Espaço reservado nos tempos para guardar a reserva eucarística. É ornado, trancado à chave e possui uma luz acesa constantemente para indicar a presença do Ssmo. |
| Sacras | São orações emolduradas que figuram na forma extraordinária do rito romano no cento e em ambos os lados do altar com os textos do ordinário da Santa Missa recitados em cada um desses lugares. |
| Sanguineo/Sanguinho | Pequena alfaia de formato retangular, que se encontra junto ao cálice. É usada para evitar que alguma partícula se perca e para limpar e secar os vasos sagrados. |
| Teca | Pequeno vaso sagrado com tampa, usado para guardar hóstias consagradas no sacrário e, mormente, levá-las como viático aos enfermos.  |
| Tintinábulo | Insígnia basilical que consta de uma aste devidamente enfeitada, geralmente com o triregnum e as chaves, e munida de um sino. Junto com a umbela é levado à frente das procissões basilicais. |
| Trono do Ssmo. | Objeto, geralmente metálico, em formato de coluna ou baldaquino que sustenta o ostensório quando da exposição do Santíssimo Sacramento. |
| Turíbulo | O vaso sagrado, munido de uma parte inferior, onde se colocamas brasas incandescentes e se queima o incenso; uma parte intermédia móvel, chamada opérculo, e uma parte superior onde se predem as correstes de sustentação e a que suspende o opérculo.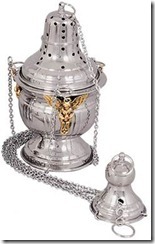 |
| Umbela | Objeto em formato de guarda-chuva, usado para transportar o santíssimo sacramento de forma menos solene que o pálio. É usada ainda como insígnia das basílicas, nesse segundo caso, possui partes vermelhas e douradas que se alternam.  |
| Véu do Cibório Véu do Cálice | Véu, sempre de cor branca, que cobre o cibório quando este porta óstias consagradas. Véu do Cálice é um véu que cobre o cálice com o sanguineo, a pala e a patena. Seu cor varia de acordo com a do tempo. Sobre ele vai a bolsa do corporal com o corporal dentro. |
Gestos e posições do povo na Missa
Fonte: www.adoremus.org
Tradução: Lucas Cardoso da Silveira Santos
Ritos Iniciais
Fazer o sinal da Cruz com água benta (sinal do batismo) ao entrar na igreja.
Fazer genuflexão ao sacrário contendo o Santíssimo Sacramento, e ao altar do Sacrifício, antes de se dirigir ao banco. (Se não houver sacrário no presbitério, ou se este não for visível, fazer inclinação profunda ao altar antes de se dirigir ao banco.)
Ajoelhar-se ao chegar no banco para oração privada antes do início da Missa.
Ficar de pé para a procissão de entrada.
Fazer inclinação de cabeça quando o crucifixo, sinal visível do sacrifício de Cristo, passar em procissão. (Se houver um bispo, fazer inclinação quando ele passar, como sinal de reconhecimento da sua autoridade da Igreja e de Cristo como pastor do seu rebanho.)
Permanecer de pé para os ritos iniciais. Fazer o sinal da Cruz junto com o sacerdote no começo da Missa.
Bater no peito ao “mea culpa(s)” (“por minha culpa, minha tão grande culpa”) no Confiteor.
Fazer inclinação de cabeça e o sinal da Cruz quando o sacerdote disser “Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós...”
Fazer inclinação de cabeça ao dizer o “Senhor, tende piedade de nós” no Kyrie.
Se houver o Rito da Aspersão (Asperges), fazer o sinal da Cruz quando o padre aspergir água em sua direção.
Durante a Missa, fazer inclinação de cabeça a cada menção do nome de Jesus e a cada vez que a Doxologia [“Glória ao Pai...”] for rezada ou cantada. Também quando pedir que o Senhor receba a nossa oração. (“Senhor, escutai a nossa prece” etc, e ao fim das orações presidenciais: “Por Cristo nosso Senhor” etc.)
Gloria: fazer inclinação de cabeça ao nome de Jesus. (“Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito...”, “Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo...”)
Liturgia da Palavra
Sentar-se para as leituras da Sagrada Escritura.
Ficar de pé para o Evangelho ao verso do Alleluia.
Quando o ministro anunciar o Evangelho, traçar o sinal da Cruz com o polegar na cabeça, nos lábios e no coração. Esse gesto é uma forma de oração para pedir a presença da Palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração.
Sentar-se para a homilia.
Credo: De pé; fazer inclinação ao nome de Jesus; na maioria dos Domingos durante o Incarnatus (“e se encarnou pelo Espírito Santo... e se fez homem”); nas solenidades do Natal e da Anunciação todos se ajoelham a essas palavras.
Fazer o sinal da Cruz na conclusão do Credo, às palavras: “..e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.”
Liturgia Eucarística
Sentar-se durante o ofertório.
Ficar de pé quando o sacerdote disser “Orai, irmãos e irmãs...” e permanecer de pé para responder “Receba o Senhor este sacrifício...”
Se for usado incenso, o povo se levanta e faz inclinação de cabeça ao turiferário quando ele fizer o mesmo, tanto antes como depois da incensação do povo.
Permanecer de pé até o final do Sanctus (Santo, Santo, Santo...”), quando se ajoelha durante toda a Oração Eucarística.
No momento da Consagração de cada espécie, inclinar a cabeça e pronunciar silenciosamente “Meu Senhor e meu Deus”, reconhecendo a presença de Cristo no altar. Estas são as palavras de São Tomé quando ele reconheceu verdadeiramente a Cristo quando Este apareceu diante dele (Jo 20,28). Jesus disse: “Acreditaste porque me viste. Felizes os que acreditaram sem ter visto” (Jo 20,29).
Ficar de pé ao convite do sacerdote para a Oração do Senhor.
Com reverência, unir as mãos e inclinar a cabeça durante a Oração do Senhor.
Manter-se de pé para o sinal da paz, após o convite. (O sinal da paz pode ser um aperto de mãos ou uma inclinação de cabeça à pessoa mais próxima, acompanhada das palavras “A paz esteja contigo”.)
Na recitação (ou canto) do Agnus Dei (“Cordeiro de Deus...”), bater no peito às palavras “Tende pedade de nós”.
Ajoelhar-se ao fim do Agnus Dei (“Cordeiro de Deus...”).
Fazer inclinação de cabeça e bater no peito ao dizer: “Domine, non sum dignus... (“Senhor, eu não sou digno...”).
Recepção da Comunhão
Deixar o banco (sem genuflexão) e caminhar com reverência até o altar, com as mãos unidas em oração.
Fazer um gesto de reverência ao se aproximar do ministro em procissão para receber a Comunhão. Se ela for recebida de joelhos, não se faz nenhum gesto adicional antes de recebê-la.
Pode-se receber a Hóstia tanto na língua como na mão.
Para o primeiro caso, abrir a boca e estender a língua, de modo que o ministro possa depositar a Hóstia de forma apropriada. Para o outro caso, posicionar uma mão sobre a outra, de palmas abertas, para receber a Hóstia. Com a mão de baixo, tomar a Hóstia e com reverência depositá-la na sua boca. (Ver as diretrizes da Santa Sé de 1985).
Quando carregando uma criança, é muito mais apropriado receber a Comunhão na língua.
Se comungar também do cálice, fazer o mesmo gesto de reverência ao se aproximar do ministro.
Fazer o sinal da Cruz após ter recebido a Comunhão.
Ajoelhar-se em oração ao retornar para o banco depois da Comunhão, até o sacerdote se sentar, ou até que ele diga “Oremos”.
Ritos Finais
Ficar de pé para os ritos finais.
Fazer o sinal da Cruz durante a bênção final, quando o sacerdote invocar a Trindade.
Permanecer de pé até que todos os ministros tenham saído em procissão. (Se houver procissão recessional, fazer inclinação ao crucifixo quando ele passar.)
Se houver um hino durante o recessional, permanecer de pé até o final da execução. Se não houver hino, permanecer de pé até que todos os ministros tenham se retirado da parte principal da igreja.
Depois da conclusão da Missa, pode-se ajoelhar para uma oração privada de ação de graças.
Fazer genuflexão ao Santíssimo Sacramento e ao Altar do Sacrifício ao sair do banco, e deixar a (parte principal da) igreja em silêncio.
Fazer o sinal da Cruz com água benta ao sair da igreja, como recordação batismal de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura.
Fonte: www.adoremus.org
Tradução: Lucas Cardoso da Silveira Santos
Ritos Iniciais
Fazer o sinal da Cruz com água benta (sinal do batismo) ao entrar na igreja.
Fazer genuflexão ao sacrário contendo o Santíssimo Sacramento, e ao altar do Sacrifício, antes de se dirigir ao banco. (Se não houver sacrário no presbitério, ou se este não for visível, fazer inclinação profunda ao altar antes de se dirigir ao banco.)
Ajoelhar-se ao chegar no banco para oração privada antes do início da Missa.
Ficar de pé para a procissão de entrada.
Fazer inclinação de cabeça quando o crucifixo, sinal visível do sacrifício de Cristo, passar em procissão. (Se houver um bispo, fazer inclinação quando ele passar, como sinal de reconhecimento da sua autoridade da Igreja e de Cristo como pastor do seu rebanho.)
Permanecer de pé para os ritos iniciais. Fazer o sinal da Cruz junto com o sacerdote no começo da Missa.
Bater no peito ao “mea culpa(s)” (“por minha culpa, minha tão grande culpa”) no Confiteor.
Fazer inclinação de cabeça e o sinal da Cruz quando o sacerdote disser “Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós...”
Fazer inclinação de cabeça ao dizer o “Senhor, tende piedade de nós” no Kyrie.
Se houver o Rito da Aspersão (Asperges), fazer o sinal da Cruz quando o padre aspergir água em sua direção.
Durante a Missa, fazer inclinação de cabeça a cada menção do nome de Jesus e a cada vez que a Doxologia [“Glória ao Pai...”] for rezada ou cantada. Também quando pedir que o Senhor receba a nossa oração. (“Senhor, escutai a nossa prece” etc, e ao fim das orações presidenciais: “Por Cristo nosso Senhor” etc.)
Gloria: fazer inclinação de cabeça ao nome de Jesus. (“Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito...”, “Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo...”)
Liturgia da Palavra
Sentar-se para as leituras da Sagrada Escritura.
Ficar de pé para o Evangelho ao verso do Alleluia.
Quando o ministro anunciar o Evangelho, traçar o sinal da Cruz com o polegar na cabeça, nos lábios e no coração. Esse gesto é uma forma de oração para pedir a presença da Palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração.
Sentar-se para a homilia.
Credo: De pé; fazer inclinação ao nome de Jesus; na maioria dos Domingos durante o Incarnatus (“e se encarnou pelo Espírito Santo... e se fez homem”); nas solenidades do Natal e da Anunciação todos se ajoelham a essas palavras.
Fazer o sinal da Cruz na conclusão do Credo, às palavras: “..e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.”
Liturgia Eucarística
Sentar-se durante o ofertório.
Ficar de pé quando o sacerdote disser “Orai, irmãos e irmãs...” e permanecer de pé para responder “Receba o Senhor este sacrifício...”
Se for usado incenso, o povo se levanta e faz inclinação de cabeça ao turiferário quando ele fizer o mesmo, tanto antes como depois da incensação do povo.
Permanecer de pé até o final do Sanctus (Santo, Santo, Santo...”), quando se ajoelha durante toda a Oração Eucarística.
No momento da Consagração de cada espécie, inclinar a cabeça e pronunciar silenciosamente “Meu Senhor e meu Deus”, reconhecendo a presença de Cristo no altar. Estas são as palavras de São Tomé quando ele reconheceu verdadeiramente a Cristo quando Este apareceu diante dele (Jo 20,28). Jesus disse: “Acreditaste porque me viste. Felizes os que acreditaram sem ter visto” (Jo 20,29).
Ficar de pé ao convite do sacerdote para a Oração do Senhor.
Com reverência, unir as mãos e inclinar a cabeça durante a Oração do Senhor.
Manter-se de pé para o sinal da paz, após o convite. (O sinal da paz pode ser um aperto de mãos ou uma inclinação de cabeça à pessoa mais próxima, acompanhada das palavras “A paz esteja contigo”.)
Na recitação (ou canto) do Agnus Dei (“Cordeiro de Deus...”), bater no peito às palavras “Tende pedade de nós”.
Ajoelhar-se ao fim do Agnus Dei (“Cordeiro de Deus...”).
Fazer inclinação de cabeça e bater no peito ao dizer: “Domine, non sum dignus... (“Senhor, eu não sou digno...”).
Recepção da Comunhão
Deixar o banco (sem genuflexão) e caminhar com reverência até o altar, com as mãos unidas em oração.
Fazer um gesto de reverência ao se aproximar do ministro em procissão para receber a Comunhão. Se ela for recebida de joelhos, não se faz nenhum gesto adicional antes de recebê-la.
Pode-se receber a Hóstia tanto na língua como na mão.
Para o primeiro caso, abrir a boca e estender a língua, de modo que o ministro possa depositar a Hóstia de forma apropriada. Para o outro caso, posicionar uma mão sobre a outra, de palmas abertas, para receber a Hóstia. Com a mão de baixo, tomar a Hóstia e com reverência depositá-la na sua boca. (Ver as diretrizes da Santa Sé de 1985).
Quando carregando uma criança, é muito mais apropriado receber a Comunhão na língua.
Se comungar também do cálice, fazer o mesmo gesto de reverência ao se aproximar do ministro.
Fazer o sinal da Cruz após ter recebido a Comunhão.
Ajoelhar-se em oração ao retornar para o banco depois da Comunhão, até o sacerdote se sentar, ou até que ele diga “Oremos”.
Ritos Finais
Ficar de pé para os ritos finais.
Fazer o sinal da Cruz durante a bênção final, quando o sacerdote invocar a Trindade.
Permanecer de pé até que todos os ministros tenham saído em procissão. (Se houver procissão recessional, fazer inclinação ao crucifixo quando ele passar.)
Se houver um hino durante o recessional, permanecer de pé até o final da execução. Se não houver hino, permanecer de pé até que todos os ministros tenham se retirado da parte principal da igreja.
Depois da conclusão da Missa, pode-se ajoelhar para uma oração privada de ação de graças.
Fazer genuflexão ao Santíssimo Sacramento e ao Altar do Sacrifício ao sair do banco, e deixar a (parte principal da) igreja em silêncio.
Fazer o sinal da Cruz com água benta ao sair da igreja, como recordação batismal de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura.
Tradução: Lucas Cardoso da Silveira Santos
Ritos Iniciais
Fazer o sinal da Cruz com água benta (sinal do batismo) ao entrar na igreja.
Fazer genuflexão ao sacrário contendo o Santíssimo Sacramento, e ao altar do Sacrifício, antes de se dirigir ao banco. (Se não houver sacrário no presbitério, ou se este não for visível, fazer inclinação profunda ao altar antes de se dirigir ao banco.)
Ajoelhar-se ao chegar no banco para oração privada antes do início da Missa.
Ficar de pé para a procissão de entrada.
Fazer inclinação de cabeça quando o crucifixo, sinal visível do sacrifício de Cristo, passar em procissão. (Se houver um bispo, fazer inclinação quando ele passar, como sinal de reconhecimento da sua autoridade da Igreja e de Cristo como pastor do seu rebanho.)
Permanecer de pé para os ritos iniciais. Fazer o sinal da Cruz junto com o sacerdote no começo da Missa.
Bater no peito ao “mea culpa(s)” (“por minha culpa, minha tão grande culpa”) no Confiteor.
Fazer inclinação de cabeça e o sinal da Cruz quando o sacerdote disser “Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós...”
Fazer inclinação de cabeça ao dizer o “Senhor, tende piedade de nós” no Kyrie.
Se houver o Rito da Aspersão (Asperges), fazer o sinal da Cruz quando o padre aspergir água em sua direção.
Durante a Missa, fazer inclinação de cabeça a cada menção do nome de Jesus e a cada vez que a Doxologia [“Glória ao Pai...”] for rezada ou cantada. Também quando pedir que o Senhor receba a nossa oração. (“Senhor, escutai a nossa prece” etc, e ao fim das orações presidenciais: “Por Cristo nosso Senhor” etc.)
Gloria: fazer inclinação de cabeça ao nome de Jesus. (“Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito...”, “Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo...”)
Liturgia da Palavra
Sentar-se para as leituras da Sagrada Escritura.
Ficar de pé para o Evangelho ao verso do Alleluia.
Quando o ministro anunciar o Evangelho, traçar o sinal da Cruz com o polegar na cabeça, nos lábios e no coração. Esse gesto é uma forma de oração para pedir a presença da Palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração.
Sentar-se para a homilia.
Credo: De pé; fazer inclinação ao nome de Jesus; na maioria dos Domingos durante o Incarnatus (“e se encarnou pelo Espírito Santo... e se fez homem”); nas solenidades do Natal e da Anunciação todos se ajoelham a essas palavras.
Fazer o sinal da Cruz na conclusão do Credo, às palavras: “..e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.”
Liturgia Eucarística
Sentar-se durante o ofertório.
Ficar de pé quando o sacerdote disser “Orai, irmãos e irmãs...” e permanecer de pé para responder “Receba o Senhor este sacrifício...”
Se for usado incenso, o povo se levanta e faz inclinação de cabeça ao turiferário quando ele fizer o mesmo, tanto antes como depois da incensação do povo.
Permanecer de pé até o final do Sanctus (Santo, Santo, Santo...”), quando se ajoelha durante toda a Oração Eucarística.
No momento da Consagração de cada espécie, inclinar a cabeça e pronunciar silenciosamente “Meu Senhor e meu Deus”, reconhecendo a presença de Cristo no altar. Estas são as palavras de São Tomé quando ele reconheceu verdadeiramente a Cristo quando Este apareceu diante dele (Jo 20,28). Jesus disse: “Acreditaste porque me viste. Felizes os que acreditaram sem ter visto” (Jo 20,29).
Ficar de pé ao convite do sacerdote para a Oração do Senhor.
Com reverência, unir as mãos e inclinar a cabeça durante a Oração do Senhor.
Manter-se de pé para o sinal da paz, após o convite. (O sinal da paz pode ser um aperto de mãos ou uma inclinação de cabeça à pessoa mais próxima, acompanhada das palavras “A paz esteja contigo”.)
Na recitação (ou canto) do Agnus Dei (“Cordeiro de Deus...”), bater no peito às palavras “Tende pedade de nós”.
Ajoelhar-se ao fim do Agnus Dei (“Cordeiro de Deus...”).
Fazer inclinação de cabeça e bater no peito ao dizer: “Domine, non sum dignus... (“Senhor, eu não sou digno...”).
Recepção da Comunhão
Deixar o banco (sem genuflexão) e caminhar com reverência até o altar, com as mãos unidas em oração.
Fazer um gesto de reverência ao se aproximar do ministro em procissão para receber a Comunhão. Se ela for recebida de joelhos, não se faz nenhum gesto adicional antes de recebê-la.
Pode-se receber a Hóstia tanto na língua como na mão.
Para o primeiro caso, abrir a boca e estender a língua, de modo que o ministro possa depositar a Hóstia de forma apropriada. Para o outro caso, posicionar uma mão sobre a outra, de palmas abertas, para receber a Hóstia. Com a mão de baixo, tomar a Hóstia e com reverência depositá-la na sua boca. (Ver as diretrizes da Santa Sé de 1985).
Quando carregando uma criança, é muito mais apropriado receber a Comunhão na língua.
Se comungar também do cálice, fazer o mesmo gesto de reverência ao se aproximar do ministro.
Fazer o sinal da Cruz após ter recebido a Comunhão.
Ajoelhar-se em oração ao retornar para o banco depois da Comunhão, até o sacerdote se sentar, ou até que ele diga “Oremos”.
Ritos Finais
Ficar de pé para os ritos finais.
Fazer o sinal da Cruz durante a bênção final, quando o sacerdote invocar a Trindade.
Permanecer de pé até que todos os ministros tenham saído em procissão. (Se houver procissão recessional, fazer inclinação ao crucifixo quando ele passar.)
Se houver um hino durante o recessional, permanecer de pé até o final da execução. Se não houver hino, permanecer de pé até que todos os ministros tenham se retirado da parte principal da igreja.
Depois da conclusão da Missa, pode-se ajoelhar para uma oração privada de ação de graças.
Fazer genuflexão ao Santíssimo Sacramento e ao Altar do Sacrifício ao sair do banco, e deixar a (parte principal da) igreja em silêncio.
Fazer o sinal da Cruz com água benta ao sair da igreja, como recordação batismal de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura.
A liturgia e a Palavra de Deus, segundo a Exortação Apostólica Verbum Domini
Clique na imagem acima para ter acesso à íntegra do documento
O pensamento litúrgico do Cardeal Ratzinger e a crise na liturgia
Ainda quando era Cardeal, o Santo Padre Bento XVI tinha como uma de suas fundamentais preocupações a questão da liturgia. Eleito para o trono de São Pedro, colocou o tema como um dos eixos principais de seu programa de renovação espiritual da Igreja.
De fato, sem a liturgia não há Igreja. É nela que a Igreja ora ao Senhor. Melhor dizendo, é nela que o próprio Cristo ora ao Pai (pelo Ofício Divino), se oferece ao Pai em sacrifício (pela Missa), e comunica aos fiéis o que conquistou diante do Pai (pelos sacramentos). A liturgia é o cerne da Igreja, e o meio pelo qual a Igreja cumpre sua função de salvar as almas.
Ademais, se, pelo Batismo, estamos incorporados a Cristo, a liturgia se torna não só a ação de Cristo, mas nossa unida a Cristo, ou seja, da Igreja toda, Corpo Místico de Cristo. Pio XII, na célebre Mediator Dei, definia a liturgia justamente como “o culto público integral do místico Corpo de Jesus Cristo, isto é, da cabeça e dos seus membros.”
Por essa razão, soa quase como natural a firme atenção de todos os Soberanos Pontífices na defesa das normas que regem o culto, evitando toda imprecisão e falta de zelo em sua celebração, e na incrementação da vida espiritual de clérigos e leigos mediante uma actuosa participatio na liturgia, tal qual foi, aliás, pedido pelo Concílio Vaticano II.
Se tal cuidado foi uma constante em quase todos os pontificados, notadamente os do início do séc. XX, com o chamado “movimento litúrgico” – iniciado por D. Gueranger, OSB, em sua luta contra o galicanismo que pretendia, também no terreno da liturgia, fazer escapar a Igreja das Gálias da autêntica submissão ao papado –, redobrou-se o alerta de Roma sobre o tema a partir das incompreensões advindas de uma má implementação da reforma litúrgica pós-conciliar. Não nos embrenharemos, no presente artigo, pois fugiria ao nosso escopo, discutir a própria reforma de Paulo VI, sua legitimidade ou pontos positivos e negativos. Sem embargo, cumpre notar que, a despeito de qualquer excelente intenção dos reformadores, e mesmo das claras rubricas do Missal Romano adotado, em 1969, pela virtual totalidade da Igreja latina, é notório o caos litúrgico que se instaurou desde então.
É evidente que os experimentos espúrios já vinham desde antes, mas com a crise da autoridade que tomou corpo na sociedade civil desde a revolução sorbonniana de 1968 (“é proibido proibir”), eles se avolumaram dos anos 70 para cá. Paulo VI mesmo confessava sentir que a “fumaça de Satanás entrou no templo de Deus” (Discurso em 29 de junho de 1972), o que, mais tarde, seria explicado pelo Cardeal Noé como uma apreensão diante de tantas manipulações em relação à Missa, tantas desobediências às rubricas, tantos desvios e antropocentrismos, a ponto de certos críticos católicos americanos falarem em “narcisismo clerical”: a liturgia, de serviço do povo a Deus, de culto público da Igreja, havia se transformado, na prática, em espetáculo pessoal na qual cada celebrante põe em andamento uma série de criatividades que considera “pastoralmente melhor”.
Esse o cenário com que se depararam, principalmente, João Paulo II e Bento XVI. O primeiro chegou a demonstrar, por sua grandiosa Encíclica Ecclesia de Eucharistia, que, ao lado de grandes luzes a partir da reforma litúrgica, havia também sombras. Em seu pontificado, para clarear as tais sombras, veio à lume não só uma melhor edição do Missale Romanum, como uma dezena de instruções para melhor aplicar as diretrizes litúrgicas, em que se destaca a direta Redemptionis Sacramentum.
Tal documento, ademais, é de responsabilidade do então Cardeal Ratzinger que, como acenamos, reiteradas vezes evidenciou a centralidade do tema da liturgia em sua monumental obra teológica.
Seu “Introdução ao espírito da liturgia” deixava já bem claras suas intenções como teólogo: era preciso resgatar, como diria mais tarde Mons. Nicola Bux, autor de “La reforma de Benedicto XVI”, os “direitos de Deus” na celebração. A liturgia não é um emaranhado de normas simplesmente positivas feitas por homens, não é um ordenamento puramente racional para que se tenha decência no culto. Mais do que isso, a liturgia é um culto disposto pelo próprio Deus, ainda que muitos de seus detalhes se dêem pela autoridade da Igreja e não diretamente por Revelação. É Cristo mesmo quem celebra a liturgia por meio da Igreja. Nessa seara, pois, todo cuidado é pouco, e toda reverência nunca é demais. Por bem menos do que os atuais abusos litúrgicos, Deus fulminou quem meramente tocava na arca da aliança, simples símbolo de Sua presença, e sombra do grande bem futuro que é a liturgia cristã...
O Magistério do Papa Bento XVI nos temas litúrgicos
Elevado à Sé Romana, o Cardeal Ratzinger assume o nome de Bento, em honra do grande patriarca do monaquismo ocidental, que evangelizou a hoje dessacralizada Europa exatamente pelo amor à celebração litúrgica, a tal ponto em que falar de Ordem beneditina importa em mencionar o canto litúrgico por excelência no rito romano, o canto gregoriano. Assim, Na Missa Pro Ecclesia, encerramento do Conclave que o elegeu, Bento XVI ordenou que essa comemoração fosse marcada “pela solenidade e retidão das celebrações.” Noutras palavras: rigoroso seguimento das rubricas do Missal; cessação de qualquer invencionice por parte dos sacerdotes; decoro e circunspeção; paramentos corretos; proibição de cantos estranhos à tradição católica e de não menos estranhas palmas e demonstrações efusivas de alegria, nada apropriadas para quem assiste, na Missa, a renovação do sacrifício da Cruz. “Peço isso de modo especial aos sacerdotes.”
O Papa tinha suas razões. A casula foi quase abandonada; certos padres inserem numa ou noutra parte da Missa gestos, símbolos (cartazes, plantas, fantasias, fogo etc) e palavras que são criações suas (em total desacordo com as regras vigentes); o povo reza orações reservadas aos sacerdotes e até por eles, às vezes, é incentivado a proferi-las (o “Por Cristo, com Cristo...”, a oração da paz, v.g.); os fiéis são convidados a atos não previstos (fechar os olhos, erguer as mãos, direcioná-las ao altar no “Por Cristo”, abri-las “para receber a bênção”, e outras provas bizarras de inesgotável e anticatólica criatividade, já atacada pelo então Cardeal Ratzinger em seu “A fé em crise?”); nem sempre as músicas são apropriadas; o incenso é raro; e os ministros extraordinários – leigos – são usados na proclamação do Evangelho e, ordinariamente, na distribuição da Comunhão (contrariando a Ecclesiae de Mysterio). Exemplos de um claro desrespeito às normas litúrgicas.
Não poderia Bento XVI se quedar inerte. Todos os atos de seu pontificado apontam para uma renovação da liturgia, no que alguns têm chamado de “reforma da reforma”: mais do que decretos corrigindo isso ou aquilo, o Papa aposta em uma reeducação litúrgica, em uma melhor vivência do rico patrimônio da liturgia, que, se não pode ficar estático nos livros antigos, também não foi inaugurado pelo Concílio. É a hermenêutica da continuidade, em que não fazem mais sentido as expressões “pré” e “pós-conciliar”: a doutrina e a Igreja são as mesmas, e os documentos devem ser interpretados à luz de uma tradição ininterrupta, também no campo da liturgia.
É com esse pensamento que Bento XVI liberou universalmente a celebração do rito romano antigo da Missa, celebrado anterior à reforma de Paulo VI, tornando-o “forma extraordinária” do rito romano, em pé de igualdade e ao lado do rito reformado, agora “forma ordinária”. Na mente do Papa, ambos devem se enriquecer e favorecer à pax liturgica.
Também é da lavra do atual Papa gloriosamente reinante a Exortação Apostólica Pós-sinodal Sacramentum Caritatis, sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Aliás, o tema da caridade é bastante presente nos documentos de Bento XVI: “Deus Caritas Est”, “Caritas in Veritate”, e, no caso em tela, “Sacramentum Caritatis”. Escolhendo o tema do amor, da caridade como central em seu Magistério, e unindo a preocupação litúrgica com ele, o Santo Padre parece querer mandar um recado claro: a liturgia, ação de Cristo por nós junto do Pai, mediante a Igreja, é manifestação da Sua caridade para com o mundo. Se não amasse o mundo, não teria se entregue por nós, como nos diz São João em seu Evangelho (cf. Jo 3,16).
Permito-me transcrever, enfim, trechos da monografia apresentada em 2010 pelo Sem. Gian Paulo Rangel Ruzzi, aluno do Seminário Interdiocesano Maria Mater Ecclesia, em Itapecerica da Serra, SP, tendo como orientador o Pe. Celso Nogueira, LC:
“A primeira medida foi tomada em outubro de 2007, quando o prefeito da Congregação para o Culto Divino, o Card. Arinze, escreveu para todas as conferências episcopais do mundo, em concordância com a Instrução do ano 2001 Liturgiam Authenticam, do Card. Estevez, que pedia uma revisão na tradução dos livros litúrgicos, ordenando a correção nas edições em vernáculo da expressão pro multis, muitas vezes traduzida como ‘por todos’.
A segunda ação parte da Congregação para o Clero. Em setembro de 2006 foi erigido o Instituto Bom Pastor, uma sociedade de vida apostólica que celebra a Missa exclusivamente na forma anterior ao Concílio. Depende ao mesmo tempo da Comissão Ecclesia Dei e da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.
Em março de 2007 o Santo Padre deu a conhecer a Exortação Apostólica pós-Sinodal Sacramentum Caritatis. Nela, o Papa Bento XVI reitera o dever dos sacerdotes em obedecer as “normas litúrgicas na sua integridade, pois é precisamente este modo de celebrar que, há dois mil anos, garante a vida de fé de todos os crentes”. Indica também, na segunda parte do documento, critérios para a ars celebrandi. Recomenda o uso do latim em concelebrações internacionais e a recitação de ao menos algumas partes fixas do cânon neste idioma.
(...)
Ainda em 2007 o Papa promulgou o Moto Próprio Summorum Pontificum, dando liberdade a todo padre para celebrar a missa tridentina sem a prévia permissão do bispo, como era anteriormente acordado. O documento insiste que o missal de Pio V e o missal de Paulo VI são duas expressões de um único Rito Romano, a primeira em sua forma extraordinária e a segunda em sua forma ordinária.” (pp. 26-27)
Não nos espanta, portanto, que um documento que trate não de liturgia, mas da Palavra de Deus na Igreja, como a recente Exortação Apostólica Pós-sinodal Verbum Domini, também seja ocasião para o Romano Pontífice oferecer profunda catequese sobre temas litúrgicos. Como de costume, o Papa nos brinda com densa reflexão sobre a liturgia, ligando-a ao assunto específico do documento.
A liturgia como um locus onde se encontra a Palavra divina
O Papa trata de, a partir do número 52 da citada Exortação Apostólica, especificar a liturgia como um local para encontrar a Palavra. Não apenas a Escritura, dado que não somos protestantes, a ponto de identificar, necessariamente, a Palavra de Deus com um livro em que ela também se exterioriza. A Palavra de Deus, para Bento XVI, é aqui tomada no sentido mais classicamente católico, como o Logos grego, o Verbum latino. Cristo é a Palavra que se encarna, armando sua tenda entre nós, a partir da aceitação da Virgem.
Se a liturgia é a oração pública de Cristo ao Pai pela Igreja, o ato do Corpo Místico, do Cristo total, em nosso benefício, natural que entre ela e o próprio Cristo haja uma correlação imprescindível. Cristo Jesus é a Palavra. A liturgia é ação de Cristo. A liturgia é ação da Palavra. O Filho de Deus se encarna, o Verbo, a Palavra, assume nossa carne, reveste-se de nossa natureza humana, para justamente cultuar ao Pai na Cruz e reviver, de modo incruento, esse sacrifício da Missa, perpetuando seus efeitos pelos sacramentos e, de certa forma, no Ofício Divino. A Palavra de Deus, i.e., o próprio Cristo, é o autor e o ator da liturgia. A liturgia é a ação da Palavra encarnada. E, como tal, Cristo nos fala, como Verbo que é, na liturgia por Ele celebrada mediante seus sacerdotes.
Daí o ensino do Papa na Exortação:
“Considerando a Igreja como «casa da Palavra», deve-se antes de tudo dar atenção à Liturgia sagrada. Esta constitui, efetivamente, o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida: fala hoje ao seu povo, que escuta e responde.” (VD, 52)
Evidentemente, ainda que não se possa identificar a Palavra apenas com a Escritura, é forçoso dizer que esta é um meio concreto e visível de a conhecermos. Encontramos a Cristo no sacrário e no crucifixo, mas também no contato com os Evangelhos e todas as demais páginas da Bíblia Sagrada. Assim, continua o Papa, a “ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada da Sagrada Escritura.” (VD, 52)
E não só na chamada “Missa dos Catecúmenos” ou “Liturgia da Palavra” se encontram disposições da Sagrada Escritura. Além das leituras – e um dos pontos positivos da reforma de Paulo VI foi justamente uma maior disposição das lições, com o acréscimo de uma perícope nos Domingos e solenidades (antigamente chamadas de “festas de primeira classe”) –, a Escritura está presente, em citações diretas, também na maioria das antífonas (Intróito, Ofertório e Comunhão), além de se fazer presente, quer na forma direta, quer como inspiração, nas preces, nas coletas, nas sequências, nos prefácios, e até em inúmeros trechos do Ordinário da Missa (como a Consagração, o Rito da Paz, o Pater Noster, o Gloria, o Sanctus, o Agnus, as bênçãos solenes).
Isso sem falar na Liturgia das Horas, que bebe entusiasticamente das fontes escriturísticas, com seus salmos, leituras breves e longas, cânticos e também nos hinos que, embora não bíblicos, estão impregnados de uma linguagem lírica comum à Escritura e não raras vezes utilizam-se de expressões consagradas no texto sacro.
 Dado que a Palavra é o Cristo, é Ele, pois, que, na liturgia que Ele mesmo celebra, nos fala, nos ensina, nos satura e penetra com a divina unção da Revelação.
Outro elemento que daí se infere é quanto à interpretação da Revelação divina. A Palavra De Deus só pode ser lida pela Igreja e com a Igreja. Sendo a Igreja a depositária da Revelação, cujas fontes são a Tradição e a Escritura, e tendo também a Igreja nos dado a Bíblia – selecionando o que era ou não inspirado para colocar no cânon –, sendo, por isso, em certo sentido, “mãe da Bíblia”, natural que os textos sagrados só ganhem seu real sentido na própria Igreja. Santo Agostinho já dizia que só cria no Evangelho pela autoridade da Santa Igreja, e outros autores recolhem o adágio de que, fora da interpretação da Igreja, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias.
Ora, se a Igreja que nos dá a Bíblia, que guarda o depósito da fé pela Palavra divina, é, como Corpo Místico de Cristo, a continuadora da ação do Senhor na história mediante a liturgia, e a mesma liturgia é um locus onde se encontra aquela Palavra, temos que a liturgia é o referencial para a autêntica leitura escriturística. Não é desconhecido, ademais, o adágio “lex orandi, lex credendi”, e sendo a leitura da Palavra de Deus uma forma de oração, com mais razão na liturgia, ela deve expressar o que cremos. De fato, assim se expressa o Papa:
Dado que a Palavra é o Cristo, é Ele, pois, que, na liturgia que Ele mesmo celebra, nos fala, nos ensina, nos satura e penetra com a divina unção da Revelação.
Outro elemento que daí se infere é quanto à interpretação da Revelação divina. A Palavra De Deus só pode ser lida pela Igreja e com a Igreja. Sendo a Igreja a depositária da Revelação, cujas fontes são a Tradição e a Escritura, e tendo também a Igreja nos dado a Bíblia – selecionando o que era ou não inspirado para colocar no cânon –, sendo, por isso, em certo sentido, “mãe da Bíblia”, natural que os textos sagrados só ganhem seu real sentido na própria Igreja. Santo Agostinho já dizia que só cria no Evangelho pela autoridade da Santa Igreja, e outros autores recolhem o adágio de que, fora da interpretação da Igreja, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias.
Ora, se a Igreja que nos dá a Bíblia, que guarda o depósito da fé pela Palavra divina, é, como Corpo Místico de Cristo, a continuadora da ação do Senhor na história mediante a liturgia, e a mesma liturgia é um locus onde se encontra aquela Palavra, temos que a liturgia é o referencial para a autêntica leitura escriturística. Não é desconhecido, ademais, o adágio “lex orandi, lex credendi”, e sendo a leitura da Palavra de Deus uma forma de oração, com mais razão na liturgia, ela deve expressar o que cremos. De fato, assim se expressa o Papa:
“Por isso, para a compreensão da Palavra de Deus, é necessário entender e viver o valor essencial da acção litúrgica. Em certo sentido, a hermenêutica da fé relativamente à Sagrada Escritura deve ter sempre como ponto de referência a liturgia, onde a Palavra de Deus é celebrada como palavra actual e viva: «A Igreja, na liturgia, segue fielmente o modo de ler e interpretar as Sagradas Escrituras seguido pelo próprio Cristo, quando, a partir do “hoje” do seu evento, exorta a perscrutar todas as Escrituras».” (VD, 52, grifos nossos)
O próprio ano litúrgico, imprimindo um ritmo pelo qual se vai aos poucos se desenrolando o drama da Redenção nas perícopes selecionadas para cada tempo e festa, indica bem a liturgia como lugar da Palavra. E tudo aponta, em tal mencionado ritmo, para o acontecimento central de nossa Salvação.
Isso está bastante claro no mesmo número 52 do documento:
“Aqui se vê também a sábia pedagogia da Igreja que proclama e escuta a Sagrada Escritura seguindo o ritmo do ano litúrgico. Vemos a Palavra de Deus distribuída ao longo do tempo, particularmente na celebração eucarística e na Liturgia das Horas. No centro de tudo, refulge o Mistério Pascal, ao qual se unem todos os mistérios de Cristo e da história da salvação actualizados sacramentalmente: «Com esta recordação dos mistérios da Redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo o tempo, para que os fiéis, em contacto com eles, se encham de graça». Por isso exorto os Pastores da Igreja e os agentes pastorais a fazer com que todos os fiéis sejam educados para saborear o sentido profundo da Palavra de Deus que está distribuída ao longo do ano na liturgia, mostrando os mistérios fundamentais da nossa fé. Também disto depende a correcta abordagem da Sagrada Escritura.” (VD, 52, grifos nossos)
Outros aspectos da relação entre a Escritura e as celebrações litúrgicas
Não podemos olvidar, ademais, segundo o Papa, “que a unidade íntima entre Palavra e Eucaristia está radicada no testemunho da Escritura (cf. Jo 6; L c 24)” (VD, 54).
Prossegue Sua Santidade:
“A este propósito, pensemos no grande discurso de Jesus sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum (cf. Jo 6, 22-69), que tem como pano de fundo o confronto entre Moisés e Jesus, entre aquele que falou face a face com Deus (cf. Ex 33, 11) e aquele que revelou Deus (cf. Jo 1, 18). De facto, o discurso sobre o pão evoca o dom de Deus que Moisés obteve para o seu povo com o maná no deserto, que na realidade é a Torah, a Palavra de Deus que faz viver (cf. Sl 119; Pr 9, 5). Em Si mesmo, Jesus torna realidade esta figura antiga: «O pão de Deus é o que desce do Céu e dá a vida ao mundo. (...) Eu sou o pão da vida» (Jo 6, 33.35). Aqui, «a Lei tornou-se Pessoa. Encontrando Jesus, alimentamo-nos por assim dizer do próprio Deus vivo, comemos verdadeiramente o pão do céu». No discurso de Cafarnaum, aprofunda-se o Prólogo de João: se neste o Logos de Deus Se faz carne, naquele a carne faz-Se «pão» dado para a vida do mundo (cf. Jo 6, 51), aludindo assim ao dom que Jesus fará de Si mesmo no mistério da cruz, confirmado pela afirmação acerca do seu sangue dado a «beber» (cf. Jo 6, 53). Assim, no mistério da Eucaristia, mostra-se qual é o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu: é o Logos de Deus que Se fez carne, que Se entregou a Si mesmo por nós no Mistério Pascal.” (VD, 54)
O reconhecimento do mesmo Logos divino após Sua Ressurreição, pelos discípulos do Emaús, passa por uma demonstração desta relação entre a Palavra/Escritura e a Eucaristia. Os discípulos, diz-nos a própria Escritura – novamente ela –, reconhecem que aquele que lhes falava pelo caminho era o Cristo quando Ele parte o pão, em um símbolo da Eucaristia que instituíra na Quinta-feira Santa. Todavia, a partir desse momento sagrado em que reconhecem o Senhor, lembram-se de que, quando Ele lhes falava (e aqui temos, então, a Palavra, ainda que não-escrita, mas no mesmo nível da escrita, para o entender da Igreja), seus corações ardiam. A Palavra de Deus é que lhes prepara para o reconhecimento de Jesus no partir do pão. E Jesus, recordemos, utilizou, durante todo o caminho com os discípulos, até chegar a Emaús, de trechos da Escritura, para mostrar, pelos profetas e pela lei, como deveria sofrer, morrer e ressuscitar pela salvação dos pecados. A Escritura, então, não só prepara o encontro com o Senhor, mas o justifica. A Palavra – em um tríplice aspecto (o próprio Senhor é a Palavra, suas palavras faladas no caminho, e sua palavra escrita nos profetas e na lei explicando os eventos da salvação) – aponta para a Eucaristia no partir do pão, e a Eucaristia se torna plenamente reconhecível pela Palavra. Há aqui um aspecto teológico profundo até mesmo para a tarefa da apologética com os protestantes, e penso que, em outra oportunidade, deveria ser melhor explorado.
O Santo Padre já adianta a abordagem sobre a relação entre a Palavra e a Eucaristia a partir de Emaús, no ponto seguinte da Exortação:
“Vê-se a partir destas narrações como a própria Escritura leva a descobrir o seu nexo indissolúvel com a Eucaristia. «Por conseguinte, deve-se ter sempre presente que a Palavra de Deus, lida e proclamada na liturgia pela Igreja, conduz, como se de alguma forma se tratasse da sua própria finalidade, ao sacrifício da aliança e ao banquete da graça, ou seja, à Eucaristia». Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra: a Palavra de Deus faz-Se carne, sacramentalmente, no evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos à inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e explica o Mistério eucarístico. Com efeito, sem o reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia, permanece incompleta a compreensão da Escritura. Por isso, «à palavra de Deus e ao mistério eucarístico a Igreja tributou e quis e estabeleceu que, sempre e em todo o lugar, se tributasse a mesma veneração embora não o mesmo culto. Movida pelo exemplo do seu fundador, nunca cessou de celebrar o mistério pascal, reunindo-se num mesmo lugar para ler, “em todas as Escrituras, aquilo que Lhe dizia respeito” (L c 24, 27) e actualizar, com o memorial do Senhor e os sacramentos, a obra da salvação».” (VD, 55)
Um ponto “difícil”: a sacramentalidade da Palavra
Segundo os teólogos, a palavra sacramento teve vários significados no início do cristianismo, e podemos resumi-los a três principais:
a) o sentido original e profano de um juramento usado pelos militares romanos;
b) o sentido religioso amplo, designando qualquer coisa que fosse sagrada, ou seja, retirada para uso espiritual;
c) o sentido religioso estrito, importando em um sinal sensível e visível da graça invisível, instituído por Cristo, e por meio do qual a graça operaria eficazmente em nós.
Embora os manuais de dogma, os catecismos e o nosso uso corriqueiro ordinariamente utilizem essa palavra apenas para o sentido estrito, não era estranha à Igreja, ao menos até o Concílio de Trento, a presença do vocábulo “sacramento” no segundo sentido, amplo, lato. Era algo relativamente comum, por exemplo, entre os Padres gregos, ao denominar a árvore da vida do Paraíso, os ícones, as bênçãos, os paramentos, as velas, e até as coroações de reis e imperadores, de sacramentos. Com isso, não se estava, evidentemente, aumentando a lista dos sacramentos além dos sete dogmaticamente reconhecidos. Sabia-se perfeitamente que uns eram os sacramentos como canais da graça, e estes eram apenas sete, como sempre foram e sempre serão; e outros eram simplesmente coisas sagradas a que se aplicava a palavra "sacramento" em um sentido amplo.
Justamente para evitar confusões é que a contra-reforma católica, combatendo os erros protestantes, passou a ressaltar apenas o sentido estrito.
Todavia, o Vaticano II passou a utilizar, novamente, já que quis usar uma linguagem mais agostiniana do que tomista, “sacramento” no sentido amplo. Daí a expressão, tão cara à Lumen Gentium: “Igreja, sacramento da salvação”. Não se está, como resta patente, criando ou reconhecendo um oitavo sacramento que seria a Igreja, até porque não há, na Igreja, uma “celebração”, um “rito”, “forma”, “matéria”... A Igreja não é uma ação ritual, e sim uma sociedade. A Igreja como sacramento não o é no sentido de que é sacramento o Batismo, ou a Crisma, ou a Ordem. Sacramento, para a Lumen Gentium, referindo-se à Igreja é um sinal, algo sagrado, e a Igreja é o “algo sagrado” por excelência, dado que dela ou por ela recebemos o necessário para nos salvarmos, inclusive os sete sacramentos em sentido estrito.
Retomando esse sentido amplo da palavra, Bento XVI, na Verbum Domini, indica a Palavra de Deus escrita e oral como sendo um sacramento. Vejamos, em suas linhas:
“Com o apelo ao carácter performativo da Palavra de Deus na acção sacramental e o aprofundamento da relação entre Palavra e Eucaristia, somos introduzidos num tema significativo, referido durante a Assembleia do Sínodo: a sacramentalidade da Palavra. A este respeito é útil recordar que o Papa João Paulo II já aludira «ao horizonte sacramental da Revelação e, de forma particular, ao sinal eucarístico, onde a união indivisível entre a realidade e o respectivo significado permite identificar a profundidade do mistério». Daqui se compreende que, na origem da sacramentalidade da Palavra de Deus, esteja precisamente o mistério da encarnação: «o Verbo fez-Se carne» (Jo 1, 14), a realidade do mistério revelado oferece-se a nós na «carne» do Filho. A Palavra de Deus torna-se perceptível à fé através do «sinal» de palavras e gestos humanos. A fé reconhece o Verbo de Deus, acolhendo os gestos e as palavras com que Ele mesmo se nos apresenta. Portanto, o horizonte sacramental da revelação indica a modalidade histórico-salvífica com que o Verbo de Deus entra no tempo e no espaço, tornando-Se interlocutor do homem, chamado a acolher na fé o seu dom.” (VD, 56)
Claro está que o Sumo Pontífice não ignora o dogma dos sete (e únicos) sacramentos, nem fere o entendimento da Igreja, apresentando a teologia da “sacramentalidade da Palavra”. A Palavra de Deus, ou mais especificamente, a Sagrada Escritura, não é um sacramento no sentido de uma celebração, de um sinal sensível e eficaz da graça, ou seja, não é sacramento no sentido estrito tomista, tridentino, dos catecismos, e que, claro, deve continuar a prevalecer como “sentido mais forte”, “sentido mais importante”, para que não haja confusão entre os fiéis. Sem embargo, a profunda sacralidade da Palavra não deve ser desprezada, e, além disso, insistindo-se na “sacramentalidade” da Palavra, demonstra-se com bastante eficácia a relação da Escritura com a Eucaristia, como em Emaús.
Noutros termos, os sete sacramentos, em sentido estrito, são revalorizados e diríamos provados pela Palavra como sacramento em sentido amplo. Ou a Palavra, sacramento em sentido amplo, aponta para os sete sacramentos, em sentido estrito. E, se aponta para os sete, com mais razão, para o sacramento do qual derivam os demais, o sacramento por antonomásia, o Santíssimo Sacramento, como se vê na continuação da Exortação Apostólica:
“Assim é possível compreender a sacramentalidade da Palavra através da analogia com a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho consagrados. Aproximando-nos do altar e participando no banquete eucarístico, comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. A proclamação da Palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que Se faz presente e Se dirige a nós para ser acolhido. Referindo-se à atitude que se deve adoptar tanto em relação à Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerónimo afirma: «Lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o Corpo de Cristo; penso que as santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando Ele fala em “comer a minha carne e beber o meu sangue” (Jo 6, 53), embora estas palavras se possam entender do Mistério [eucarístico], todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o Mistério [eucarístico], se cair uma migalha sentimo-nos perdidos. E, quando estamos a escutar a Palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a Palavra de Deus que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo?». Realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente, de modo análogo, também na Palavra proclamada na liturgia. Por isso, aprofundar o sentido da sacramentalidade da Palavra de Deus pode favorecer uma maior compreensão unitária do mistério da revelação em «acções e palavras intimamente relacionadas», sendo de proveito à vida espiritual dos fiéis e à acção pastoral da Igreja.” (VD, 56, grifo nosso)
Um novo mote a considerar. Há, evidentemente, uma indissociável relação entre a Sagrada Eucaristia e a Palavra de Deus, mas para reforçar tal nexo se vale a Igreja de analogias, dado que são "categorias" distintas. Mesmo a presença de Cristo na Escritura proclamada durante a celebração não é do mesmo nível de sua presença real no sacramento eucarístico. A presença de Cristo na Eucaristia é uma presença por antonomásia, por excelência.
Para ressaltar que, pela liturgia, existe uma presença de Cristo na Palavra proclamada, e que ela tem relação com a presença do mesmo Cristo no sacramento da Eucaristia celebrado, novamente, na idêntica liturgia, mas que, por outro lado, tais “presenças” são distintas, é que frisamos o vocábulo “análogo” no parágrafo supra. Cristo está na Palavra e está na Eucaristia, porém entre as duas presenças há uma analogia, significando que não são idênticas, não possuem a mesma substância.
Como já tivemos oportunidade de esclarecer, em outro artigo, publicado pelo conhecido site Veritatis Splendor –http://www.veritatis.com.br/article/3596, que passo a transcrever a título de aprofundamento, como um parêntesis em nosso estudo:
“Importa, antes de tudo, diferenciarmos os modos pelos quais Deus Se faz presente nas coisas, nos lugares e nos seres.
1) Presença de Cristo em todas as coisas, em todos os lugares, e em todos os seres, por Sua ubiqüidade ou onipresença, i.e., em virtude de seu poder.
2) Presença de Cristo em todos os homens, pecadores ou justos, pela ubiqüidade, mas também, e de modo mais especial, por amor e por semelhança.
3) Presença de Cristo nas almas dos justos, i.e., dos que estão em estado de graça ou já se encontram salvos, quer no céu quer no purgatório, pela inabitação, ou seja, mediante a graça santificante.
4) Presença de Cristo nas páginas das Sagradas Escrituras, nos ministros, em certos sacramentais, nas imagens, no altar, pelo uso que deles se faz.
5) Presença de Cristo na assembléia dos fiéis, pela graça, uma vez que é reunião de almas dos justos e, por isso, decorre da inabitação, presença essa que se chama, mui significativamente, espiritual.
6) Presença de Cristo na Santíssima Eucaristia pela realidade e pela substância, não como se nas outras Ele não estivesse real ou substancialmente presente, mas por antonomásia, de modo excelso.
Feitas essas diferenciações, por alto, passemos à consideração de cada uma dessas maneiras de Deus fazer-Se presente.
“‘Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós’ (Rm 8,34), está presente de múltiplas maneiras em sua Igreja: em sua Palavra, na oração de sua Igreja, ‘lá onde dois ou três estão reunidos em meu nome’ (Mt 18,20), nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas 'sobretudo (está presente) sob as espécies eucarísticas.’” (Cat., 1373)
Em todas as coisas, seres e lugares, faz-Se presente Deus, uma vez que um de Seus atributos é a imensidão ou ubiqüidade, também chamada onipresença.
Embora Deus esteja em sua Sua substância, nela não se convertem as substâncias das coisas onde Ele está presente em virtude de Seu poder. A substância de cada criatura permanece a mesma, não tendo ela substância divina, sob pena de cairmos no erro do panteísmo, que confunde o Criador com os seres criados.
No ser humano, mesmo pecador, Deus está presente também pela ubiqüidade. Em certo sentido, é a mesma presença divina com a qual o Senhor está em todas as coisas, lugares e seres. Em outro, é uma presença mais íntima, pois o homem é Sua imagem e semelhança. “Tu estavas comigo, mas não eu contigo.” (Santo Agostinho, Conf., X, 27, 38) Ainda assim, esta presença é inferior àquela efetuada por Deus mediante a graça. De fato, a presença de Deus no justo, chamada inabitação, é uma participação na vida divina, na natureza divina. Não muda o homem sua substância, mas participa, pela graça santificante, da de Deus.
“A pesar del pecado de los hombres, Dios siempre ha mantenido su presencia creacional en las criaturas. Sin ese contacto entitativo, ontológico, permanente, las criaturas hubieran recaído en la nada. León XIII, citando a Santo Tomás, recuerda esta clásica doctrina: «Dios se halla presente a todas las cosas, y está en ellas ‘por potencia, en cuanto se hallan sujetas a su potestad; por presencia, en cuanto todas están abiertas y patentes a sus ojos; por esencia, porque en todas ellas se halla él como causa del ser’» (enc. Divinum illud munus: STh I,8,3). Pero la Revelación nos descubre otro modo por el que Dios está presente a los hombres, la presencia de gracia, por la que establece con ellos una profunda amistad deificante. Toda la obra misericordiosa del Padre celestial, es decir, toda la obra de Jesucristo, se consuma en la comunicación del Espíritu Santo a los creyentes.”(RIVERA, Pe. José; IRABURU, Pe. José María. Síntesis de la Espiritualidad Católica, Fundación Gratis Date)
“Para melhor entender a natureza e efeitos desse dom, convém recordar o que, depois das Sagradas Escrituras, ensinaram os sagrados doutores, isto é, que Deus se acha presente em todas as coisas e que está nelas ‘por potência, enquanto se acham sujeitas a sua potestade; por presença, enquanto todas estão abertas e patentes a seus olhos; e por essência, porque em todas se acha como causa de seu ser.’ Mas, na criatura racional, encontra-se Deus já de outra maneira, isto é, enquanto é conhecido e amado, já que é segundo a natureza amar o bem, desejá-lo e buscá-lo. Finalmente, Deus, por meio de sua graça, está na alma do justo de forma mais íntima e inefável, como em seu templo; e disso se segue aquele mútuo amor pelo qual a alma está intimamente presente diante de Deus, e está nele mais do que se possa suceder entre os amigos mais queridos, e goza dele com a mais regalada doçura.
E esta admirável união (...) propriamente se chama inabitação (...).” (Sua Santidade, o Papa Leão XIII. Encíclica Divinum Illud Munus)
“Trabalhemos sempre vivendo conscientemente Sua inabitação em nós, sendo nós Seu templo, sendo Ele nosso Deus dentro de nós.” (Santo Inácio de Antioquia, Ad Eph., 15,3) A inabitação é formalmente uma união física e amistosa entre Deus e o homem, fundada na caridade e realizada pela graça, mediante a qual Deus Se dá à alma e nela Se torna presente pessoal e substancialmente, sem alteração da substância própria do homem, porém, fazendo-a participar da vida divina. “Deus mora secretamente no seio da alma” (São João da Cruz, Chama, 4, 14) Essa santificação ou divinização não é uma mudança da substância humana em divina, mas elevação da primeira à última. A grande reformadora do Carmelo sempre se referia às “(...) três Pessoas que trago na alma (...).” (Santa Teresa d'Ávila, Consc., 42)
Santo Tomás de Aquino explica: “O especial modo da presença divina própria da alma racional consiste precisamente em que Deus esteja com ela como o conhecido naquele que o conhece e o como o amado no amante. E porque, conhecendo e amando, a alma racional aplica sua operação ao mesmo Deus, por isso, segundo este modo especial, se diz que Deus não só é na criatura racional, senão que habita nela como em seu templo.” (S. Th., I, q. 43, a. 3)
Em virtude da Encarnação, Cristo é Deus, mas também homem, duas naturezas em uma só Pessoa. Evidentemente, quando nos referimos à onipresença, estamos falando de um atributo da divindade. Ainda que esta se una indissoluvelmente à humanidade de Cristo em Sua Encarnação, aquela é preexistente. Antes mesmo de tornar-se carne, o Verbo, por ser Deus, já estava em tudo e em todos (sem alterar-lhes, contudo, a substância, nem fazer-lhes participar de Sua natureza divina); na Eucaristia, porém, eis que é Cristo, Verbo feito carne, não só a divindade como a humanidade do Salvador estão presentes.
Deus não está presente na pedra ou na árvore de modo a fazê-las participar de Sua divindade. Cada ser conserva sua substância própria. A pedra é pedra, não Deus. Sua semelhança com o Criador se dá pela participação da perfeição divina enquanto tem, como Deus, o ser (no caso, o ser pedra). Assim também, o homem não é Deus por estar Este presente naquele; sua natureza humana, substância humana, resta inalterada. É o homem semelhante a Deus apenas na medida em que participa das faculdades da inteligência e da vontade, as quais são perfeições divinas. No homem, Deus está presente, pela ubiqüidade, sendo a ele semelhante, vez que é inteligente e possui vontade (Deus, que é puro espírito, também é inteligente e possui vontade).
No homem em estado de graça (e nos anjos do céu), Deus faz-Se presente de modo ainda mais excelso: pela participação na natureza divina. Ainda nesta, o homem continua homem (e o anjo, anjo), mas, pela graça, recebe algo da divindade, algo da substância divina, sem alterar a sua própria, contudo.
Nenhuma dessas presenças, entretanto, é a mesma de Deus na Eucaristia. Nela, Deus não está presente como em todos os lugares, seres e coisas. Nela, Deus não está presente apenas enquanto esta tem o ser. Nela, Deus não está presente pela participação na vontade e na inteligência, que caracterizam a semelhança. Nela, Deus não está presente pela graça ou elevando a substância, a natureza, até Si. Não! Se a pedra, ainda que Deus nela esteja presente, continua pedra, sem mudar a substância de pedra, sem assumir a natureza divina (daí que não adoramos a pedra nem a consideramos Deus, o que seria panteísmo); se o homem não-justificado continua homem, ainda que Deus nele esteja também presente e seja ele criado à Sua imagem e semelhança; se mesmo o homem em estado de graça continua homem, sem mudar sua substância, sua natureza humana (ainda que participando, pela graça santificante, da natureza divina); a Eucaristia é o próprio Deus! Não está Cristo nela como na pedra (que continua pedra) ou no homem (que continua homem, mesmo elevado pela graça à natureza divina), mas há verdadeira mudança de substância (transubstanciação): as substâncias do pão e do vinho, após a consagração e por ela, mudam-se em Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor, Deus, Rei e Salvador, Jesus Cristo. A pedra tem a presença de Deus, porém resta com a substância de pedra. O homem tem a presença de Deus, porém resta com a substância de homem. A Eucaristia tem a substância de Deus, pois nela Cristo não só está presente: a Eucaristia É Deus! Sob a aparência de pão, encontra-se o Criador do Universo! Daí que a adoremos, o que não se faz com uma pedra, ainda que Deus nela esteja presente pela ubiqüidade, nem com um homem, ainda que seja feito à Sua imagem e semelhança e, no caso do homem justificado, participe da natureza divina.
Cristo, pois faz-Se presente nas coisas, em virtude de sua onipresença; faz-Se presente nos homens pela grandiosa semelhança entre eles e Deus, criados à Sua imagem, com vontade e inteligência; faz-Se presente nas almas justas em razão da graça, presença essa chamada inabitação; faz-Se presente na Bíblia, nos ministros, nos sacramentais, pelo uso; e, muito especialmente, na Eucaristia. “Esta presença chama-se ‘real’ não por exclusão, como se as outras não fossem ‘reais’, mas por antonomásia”, diz Paulo VI, “porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo”. (Encíclica Mysterium Fidei, de 3 de setembro de 1965, nº 39) A Eucaristia não é apenas presença de Cristo: ela é o próprio Cristo! Ainda que estivesse em todos os lugares, uma vez que, sendo Deus, era onipresente, Cristo, em Sua vida terrena, após a Encarnação, estava, de modo especial, presente em locais específicos: em Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, na manjedoura, nas bodas de Caná, em um barco no mar da Galiléia... A presença de Jesus em um local específico e determinado não elimina Sua ubiqüidade, imensidão, onipresença. O mesmo em relação ao Santíssimo Sacramento: é Deus conosco, e Sua presença nele, específica, não invalida a ubiqüidade. De qualquer maneira, é uma presença excelente, real por antonomásia!
A presença de Jesus Cristo, outrossim, entre o povo fiel, é explicada de dois modos. Primeiro como conseqüência da inabitação: Cristo está presente, pela graça, nas almas de muitos. Segundo, pela promessa de estar presente no meio deles, como bem lembrou o consulente. É uma presença, ainda que real, que se dá de maneira espiritual. A substância do lugar não muda.”
Não se distorça, portanto, a Exortação do Papa para justificar espúrias teologias que tentam igualar a Escritura e a Eucaristia, reduzindo, na prática, a fé na presença real e substancial do Senhor no Santíssimo Sacramento.
Fecha parênteses. Sigamos o artigo.
Pontos práticos para a “reforma da reforma litúrgica” em relação à Palavra de Deus
Enfim, não se pode descurar toda a questão que falávamos no início deste artigo, sobre a “reforma da reforma” pretendida e iniciada por Bento XVI, e suas relações com o tema da presente Exortação Apostólica. E é nesse sentido que o próprio Papa já se adianta e, não querendo deixar somente para nossa criatividade e filosofia imaginar o cenário de como a Palavra de Deus se afina com o resgate de uma sacralidade mais “ostensiva” na liturgia, dá os caminhos por onde, com segurança, poderemos trilhar nos próximos anos, principalmente os envolvidos no “novo movimento litúrgico”, como nós, aqui em nosso blog.
O Papa já tinha, em 2006, em sua Mensagem para o Dia Mundial da Juventude, especificado a importância que dava à intimidade com a Escritura, tema da presente Exortação. O despertar para a liturgia, requerido por Bento XVI, passa por um contato mais estreito com a Palavra de Deus, que, como vimos, permeia não só a celebração litúrgica, como é a base da teologia que a sustenta.
Nesse diapasão, convém recordar as palavras do Pontífice àquela ocasião:
“Diletos jovens, exorto-vos a adquirir familiaridade com a Bíblia, a conservá-la ao alcance da mão, a fim de que seja para vós uma bússola que indique o caminho a seguir. Lendo-a, aprendereis a conhecer Cristo. A este propósito, São Jerônimo observa: "A ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo" (PL 24, 17; cf. Dei Verbum, 25). Um caminho bem experimentado para aprofundar e saborear a palavra de Deus é a lectio divina, que constitui um verdadeiro e próprio itinerário espiritual por etapas. Da lectio, que consiste em ler e reler um trecho da Sagrada Escritura e em frisar os seus aspectos principais, passa-se à meditatio, que é como que uma pausa interior, em que a alma se dirige a Deus, procurando compreender aquilo que a sua palavra diz hoje à vida concreta. Depois, vem a oratio, que nos faz entreter com Deus um diálogo directo, e enfim chega-se à presença de Cristo, cuja palavra é "luz que brilha num lugar escuro, até que venha o dia em que a estrela da manhã brilhe nos vossos corações" (2 Pd 1, 19). Em seguida, a leitura, o estudo e a meditação da Palavra devem desabrochar numa vida de adesão coerente a Cristo e aos seus ensinamentos.” (Mensagem em 22 de fevereiro de 2006)
A partir dessas linhas-mestras, o Papa sugere um programa muito prático para a valorização desse nexo entre a Sagrada Eucaristia e a ação litúrgica.
Um dos pontos desse programa é a formação dos que fazem leituras na Missa, e a redescoberta e promoção do ministério do leitor.
“Na assembleia sinodal sobre a Eucaristia, já se tinha pedido maior cuidado com a proclamação da Palavra de Deus. Como é sabido, enquanto o Evangelho é proclamado pelo sacerdote ou pelo diácono, a primeira e a segunda leitura na tradição latina são proclamadas pelo leitor encarregado, homem ou mulher. Quero aqui fazer-me eco dos Padres sinodais que sublinharam, também naquela circunstância, a necessidade de cuidar, com uma adequada formação, o exercício da função de leitor na celebração litúrgica e de modo particular o ministério do leitorado que enquanto tal, no rito latino, é ministério laical. É necessário que os leitores encarregados de tal serviço, ainda que não tenham recebido a instituição no mesmo, sejam verdadeiramente idóneos e preparados com empenho. Tal preparação deve ser não apenas bíblica e litúrgica mas também técnica: «A formação bíblica deve levar os leitores a saberem enquadrar as leituras no seu contexto e a identificarem o centro do anúncio revelado à luz da fé. A formação litúrgica deve comunicar aos leitores uma certa facilidade em perceber o sentido e a estrutura da liturgia da Palavra e os motivos da relação entre a liturgia da Palavra e a liturgia eucarística. A preparação técnica deve tornar os leitores cada vez mais idóneos na arte de lerem em público tanto com a simples voz natural, como com a ajuda dos instrumentos modernos de amplificação sonora».” (VD, 58)
A leitura das lições na Missa em rito romano, à exceção do Evangelho, é feita por alguém especialmente encarregado para tal. O Papa trata de sublinhar o necessário preparo técnico, mas também espiritual, de quem faz essas leituras. Não se pode apenas emprestar a voz à Palavra de Deus para fazer uma proclamação litúrgica: é preciso que tal seja fruto da coerência de vida, sem descuidar o aspecto técnico.
Além disso, o Santo Padre, ao prescrever tais conselhos a todos os que fazem leituras, diz que eles são ainda mais importantes quando elas são feitas pelos “leitores instituídos”. O leitorado, bem o sabemos, é um ministério, ou seja, uma tarefa especialmente dada pela autoridade da Igreja a alguém mediante um rito litúrgico específico. Hoje, esse rito, no âmbito da liturgia romana moderna, se chama instituição, mas houve tempo em que se a chamava “ordenação menor”, expressão que é conservada pelos que observam a forma antiga, extraordinária, do rito romano, e pelos inúmeros ritos orientais. Assim, historicamente, esse ministério do leitor era tão importante a ponto de o chamarmos “ordem menor”, em analogia ao sacramento da Ordem.
Se leituras todos podem fazer, homens e mulheres, desde que idôneos e bem preparados, o ministério do leitor, por sua vez, só é concedido aos homens pelo Bispo, nos termos do Direito Canônico.
Urge valorizá-lo. Não conferir tal ministério/ordem menor somente aos seminaristas em preparação ao sacerdócio, mas a varões que tenham o chamado específico. Se em uma Missa “comum”, se possa, sem maiores problemas, treinar um leigo para fazer uma leitura, tem maior peso litúrgico, e é mais conectado com a tradição, que nas Missas mais solenes, a leitura seja feita pelo leitor instituído, i.e., por quem recebeu o ministério do leitorado. Entre um simples fiel que faz uma leitura e um leitor instituído há um abismo enorme a diferenciá-lo, e esse abismo é saudável, encontra eco na tradição litúrgica, e faz a Palavra por ele proclamada ter uma significação litúrgica externa muito mais profunda.
Outro ponto ressaltado pelo Pontífice para enfatizar a posição litúrgica da Palavra de Deus na celebração é a maior popularização do canto por excelência do rito romano, o canto gregoriano. De fato, além de musicar as perícopes bíblicas ou, quando não o faça, se inspirar profundamente nas mesmas, o canto gregoriano, por sua métrica e técnica, subordina a melodia à palavra cantada. O centro, no canto gregoriano, é o que se canta, e não tanto como se canta.
“No âmbito da valorização da Palavra de Deus durante a celebração litúrgica, tenha-se presente também o canto nos momentos previstos pelo próprio rito, favorecendo o canto de clara inspiração bíblica capaz de exprimir a beleza da Palavra divina por meio de um harmonioso acordo entre as palavras e a música. Neste sentido, é bom valorizar aqueles cânticos que a tradição da Igreja nos legou e que respeitam este critério; penso particularmente na importância do canto gregoriano.” (VD, 70)
Falar em canto gregoriano, por sua vez, nos leva a falar no silêncio. O modo de cantar a música oficial da liturgia romana é uma lembrança da importância de silenciar para ouvir a Deus.
Também na liturgia esse silêncio tem seu lugar. Não se adora a Deus apenas falando, cantando, recitando uma oração. Silenciando também prestamos culto ao Senhor, e respondemos ao apelo do que foi lido nas Sagradas Escrituras. Por isso, o silêncio é um ponto muito concreto para valorizar a Palavra de Deus na liturgia.
“Várias intervenções dos Padres sinodais insistiram sobre o valor do silêncio para a recepção da Palavra de Deus na vida dos fiéis. De facto, a palavra pode ser pronunciada e ouvida apenas no silêncio, exterior e interior. O nosso tempo não favorece o recolhimento e, às vezes, fica-se com a impressão de ter medo de se separar, por um só momento, dos instrumentos de comunicação de massa. Por isso, hoje é necessário educar o Povo de Deus para o valor do silêncio. Redescobrir a centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja significa também redescobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. A grande tradição patrística ensina-nos que os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio e só nele é que a Palavra pode encontrar morada em nós, como aconteceu em Maria, mulher indivisivelmente da Palavra e do silêncio. As nossas liturgias devem facilitar esta escuta autêntica: Verbo crescente, verba deficiunt.
Que este valor brilhe particularmente na Liturgia da Palavra, que «deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação». O silêncio, quando previsto, deve ser considerado «como parte da celebração». Por isso, exorto os Pastores a estimularem os momentos de recolhimento, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a Palavra de Deus é acolhida no coração.” (VD, 66)
Ao contrário do que se poderia pensar, mais superficialmente, a promoção da Palavra no culto litúrgico não é feita somente quando se a proclama ou quando se a escuta, mas também quando se a digere e contempla. De nada adianta ouvir a Palavra, sem meditá-la, e só se medita quando se está em silêncio. O silenciar, por alguns instantes, na Missa, não é ocasião de tédio ou vazio, mas de sublime contemplação da Palavra de Deus liturgicamente anunciada.
Enfim, nos números seguintes da Exortação, Bento XVI enumera outras sugestões para que o culto litúrgico demonstre mais claramente sua relação com a Sagrada Escritura: a importância da explicação das leituras por uma atenta homilia (cf. VD, 59); a promoção das Laudes e Vésperas celebradas com o povo nas paróquias (de forma comunitária e, se houver condições, também na forma solene, conforme o Cerimonial dos Bispos, com pluvial, incenso, canto gregoriano; cf. VD, 62); o uso do Evangeliário, conduzido com especial dignidade nas procissões, não só na Missa pontifical, mas em outras Missas mais importantes, especialmente na Missa solene com diácono (cf. VD, 67); e a observação do ambão como um lugar de honra no presbitério, bem como do cuidado com o Lecionário (cf. VD, 57 e 68).
Não pretendemos terminar o presente artigo de forma abrupta. Sem embargo, após explanarmos – certamente sem ambicionar fornecer uma interpretação exaustiva dos trechos sobre liturgia na citada Exortação Apostólica Verbum Domini, antes dando uma pincelada em pontos que julgamos mais relevantes –, após explanarmos, dizíamos, sobre o nexo entre a Sagrada Escritura e o culto público da Igreja, não nos restaria senão recomendarmos a leitura direta do texto do documento, como forma de aproximação com o riquíssimo pensamento litúrgico do Papa Bento XVI. Pensamento, aliás, iniciado já antes, no seu tempo de padre, teólogo, Bispo e Cardeal da Santa Igreja Romana.
Para “salvar” a liturgia diante de tantas sombras e manipulações, fato denunciado por grandes Bispos e por três Papas (Paulo VI, João Paulo II e o próprio Bento XVI), temos que andar no passo da Igreja. No afã de promover um novo movimento litúrgico, que desperte nas almas a busca mais profunda de Deus mediante a oração oficial da Igreja, e uma compreensão das rubricas e dos ritos como instrumentos para a nossa santificação, nada é melhor do que trilhar o caminho que o Sucessor de Pedro nos indica. Responder ao chamado do Papa, obedecer ao que ele manda, e manifestar, assim, nossa mais sincera fidelidade ao seu Magistério, passa por escutar seu apelo em prol da liturgia.
Oxalá a leitura atenta deste despretensioso artigo leve o amigo a isso. Da Palavra à liturgia, da liturgia à Palavra, e de ambas à maior glória de Deus, à dilatação da Igreja, e à salvação das almas, começando pela nossa...
Clique na imagem acima para ter acesso à íntegra do documento
O pensamento litúrgico do Cardeal Ratzinger e a crise na liturgia
Ainda quando era Cardeal, o Santo Padre Bento XVI tinha como uma de suas fundamentais preocupações a questão da liturgia. Eleito para o trono de São Pedro, colocou o tema como um dos eixos principais de seu programa de renovação espiritual da Igreja.
De fato, sem a liturgia não há Igreja. É nela que a Igreja ora ao Senhor. Melhor dizendo, é nela que o próprio Cristo ora ao Pai (pelo Ofício Divino), se oferece ao Pai em sacrifício (pela Missa), e comunica aos fiéis o que conquistou diante do Pai (pelos sacramentos). A liturgia é o cerne da Igreja, e o meio pelo qual a Igreja cumpre sua função de salvar as almas.
Ademais, se, pelo Batismo, estamos incorporados a Cristo, a liturgia se torna não só a ação de Cristo, mas nossa unida a Cristo, ou seja, da Igreja toda, Corpo Místico de Cristo. Pio XII, na célebre Mediator Dei, definia a liturgia justamente como “o culto público integral do místico Corpo de Jesus Cristo, isto é, da cabeça e dos seus membros.”
Por essa razão, soa quase como natural a firme atenção de todos os Soberanos Pontífices na defesa das normas que regem o culto, evitando toda imprecisão e falta de zelo em sua celebração, e na incrementação da vida espiritual de clérigos e leigos mediante uma actuosa participatio na liturgia, tal qual foi, aliás, pedido pelo Concílio Vaticano II.
Se tal cuidado foi uma constante em quase todos os pontificados, notadamente os do início do séc. XX, com o chamado “movimento litúrgico” – iniciado por D. Gueranger, OSB, em sua luta contra o galicanismo que pretendia, também no terreno da liturgia, fazer escapar a Igreja das Gálias da autêntica submissão ao papado –, redobrou-se o alerta de Roma sobre o tema a partir das incompreensões advindas de uma má implementação da reforma litúrgica pós-conciliar. Não nos embrenharemos, no presente artigo, pois fugiria ao nosso escopo, discutir a própria reforma de Paulo VI, sua legitimidade ou pontos positivos e negativos. Sem embargo, cumpre notar que, a despeito de qualquer excelente intenção dos reformadores, e mesmo das claras rubricas do Missal Romano adotado, em 1969, pela virtual totalidade da Igreja latina, é notório o caos litúrgico que se instaurou desde então.
É evidente que os experimentos espúrios já vinham desde antes, mas com a crise da autoridade que tomou corpo na sociedade civil desde a revolução sorbonniana de 1968 (“é proibido proibir”), eles se avolumaram dos anos 70 para cá. Paulo VI mesmo confessava sentir que a “fumaça de Satanás entrou no templo de Deus” (Discurso em 29 de junho de 1972), o que, mais tarde, seria explicado pelo Cardeal Noé como uma apreensão diante de tantas manipulações em relação à Missa, tantas desobediências às rubricas, tantos desvios e antropocentrismos, a ponto de certos críticos católicos americanos falarem em “narcisismo clerical”: a liturgia, de serviço do povo a Deus, de culto público da Igreja, havia se transformado, na prática, em espetáculo pessoal na qual cada celebrante põe em andamento uma série de criatividades que considera “pastoralmente melhor”.
Esse o cenário com que se depararam, principalmente, João Paulo II e Bento XVI. O primeiro chegou a demonstrar, por sua grandiosa Encíclica Ecclesia de Eucharistia, que, ao lado de grandes luzes a partir da reforma litúrgica, havia também sombras. Em seu pontificado, para clarear as tais sombras, veio à lume não só uma melhor edição do Missale Romanum, como uma dezena de instruções para melhor aplicar as diretrizes litúrgicas, em que se destaca a direta Redemptionis Sacramentum.
Tal documento, ademais, é de responsabilidade do então Cardeal Ratzinger que, como acenamos, reiteradas vezes evidenciou a centralidade do tema da liturgia em sua monumental obra teológica.
Seu “Introdução ao espírito da liturgia” deixava já bem claras suas intenções como teólogo: era preciso resgatar, como diria mais tarde Mons. Nicola Bux, autor de “La reforma de Benedicto XVI”, os “direitos de Deus” na celebração. A liturgia não é um emaranhado de normas simplesmente positivas feitas por homens, não é um ordenamento puramente racional para que se tenha decência no culto. Mais do que isso, a liturgia é um culto disposto pelo próprio Deus, ainda que muitos de seus detalhes se dêem pela autoridade da Igreja e não diretamente por Revelação. É Cristo mesmo quem celebra a liturgia por meio da Igreja. Nessa seara, pois, todo cuidado é pouco, e toda reverência nunca é demais. Por bem menos do que os atuais abusos litúrgicos, Deus fulminou quem meramente tocava na arca da aliança, simples símbolo de Sua presença, e sombra do grande bem futuro que é a liturgia cristã...
O Magistério do Papa Bento XVI nos temas litúrgicos
Elevado à Sé Romana, o Cardeal Ratzinger assume o nome de Bento, em honra do grande patriarca do monaquismo ocidental, que evangelizou a hoje dessacralizada Europa exatamente pelo amor à celebração litúrgica, a tal ponto em que falar de Ordem beneditina importa em mencionar o canto litúrgico por excelência no rito romano, o canto gregoriano. Assim, Na Missa Pro Ecclesia, encerramento do Conclave que o elegeu, Bento XVI ordenou que essa comemoração fosse marcada “pela solenidade e retidão das celebrações.” Noutras palavras: rigoroso seguimento das rubricas do Missal; cessação de qualquer invencionice por parte dos sacerdotes; decoro e circunspeção; paramentos corretos; proibição de cantos estranhos à tradição católica e de não menos estranhas palmas e demonstrações efusivas de alegria, nada apropriadas para quem assiste, na Missa, a renovação do sacrifício da Cruz. “Peço isso de modo especial aos sacerdotes.”
O Papa tinha suas razões. A casula foi quase abandonada; certos padres inserem numa ou noutra parte da Missa gestos, símbolos (cartazes, plantas, fantasias, fogo etc) e palavras que são criações suas (em total desacordo com as regras vigentes); o povo reza orações reservadas aos sacerdotes e até por eles, às vezes, é incentivado a proferi-las (o “Por Cristo, com Cristo...”, a oração da paz, v.g.); os fiéis são convidados a atos não previstos (fechar os olhos, erguer as mãos, direcioná-las ao altar no “Por Cristo”, abri-las “para receber a bênção”, e outras provas bizarras de inesgotável e anticatólica criatividade, já atacada pelo então Cardeal Ratzinger em seu “A fé em crise?”); nem sempre as músicas são apropriadas; o incenso é raro; e os ministros extraordinários – leigos – são usados na proclamação do Evangelho e, ordinariamente, na distribuição da Comunhão (contrariando a Ecclesiae de Mysterio). Exemplos de um claro desrespeito às normas litúrgicas.
Não poderia Bento XVI se quedar inerte. Todos os atos de seu pontificado apontam para uma renovação da liturgia, no que alguns têm chamado de “reforma da reforma”: mais do que decretos corrigindo isso ou aquilo, o Papa aposta em uma reeducação litúrgica, em uma melhor vivência do rico patrimônio da liturgia, que, se não pode ficar estático nos livros antigos, também não foi inaugurado pelo Concílio. É a hermenêutica da continuidade, em que não fazem mais sentido as expressões “pré” e “pós-conciliar”: a doutrina e a Igreja são as mesmas, e os documentos devem ser interpretados à luz de uma tradição ininterrupta, também no campo da liturgia.
É com esse pensamento que Bento XVI liberou universalmente a celebração do rito romano antigo da Missa, celebrado anterior à reforma de Paulo VI, tornando-o “forma extraordinária” do rito romano, em pé de igualdade e ao lado do rito reformado, agora “forma ordinária”. Na mente do Papa, ambos devem se enriquecer e favorecer à pax liturgica.
Também é da lavra do atual Papa gloriosamente reinante a Exortação Apostólica Pós-sinodal Sacramentum Caritatis, sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Aliás, o tema da caridade é bastante presente nos documentos de Bento XVI: “Deus Caritas Est”, “Caritas in Veritate”, e, no caso em tela, “Sacramentum Caritatis”. Escolhendo o tema do amor, da caridade como central em seu Magistério, e unindo a preocupação litúrgica com ele, o Santo Padre parece querer mandar um recado claro: a liturgia, ação de Cristo por nós junto do Pai, mediante a Igreja, é manifestação da Sua caridade para com o mundo. Se não amasse o mundo, não teria se entregue por nós, como nos diz São João em seu Evangelho (cf. Jo 3,16).
Permito-me transcrever, enfim, trechos da monografia apresentada em 2010 pelo Sem. Gian Paulo Rangel Ruzzi, aluno do Seminário Interdiocesano Maria Mater Ecclesia, em Itapecerica da Serra, SP, tendo como orientador o Pe. Celso Nogueira, LC:
“A primeira medida foi tomada em outubro de 2007, quando o prefeito da Congregação para o Culto Divino, o Card. Arinze, escreveu para todas as conferências episcopais do mundo, em concordância com a Instrução do ano 2001 Liturgiam Authenticam, do Card. Estevez, que pedia uma revisão na tradução dos livros litúrgicos, ordenando a correção nas edições em vernáculo da expressão pro multis, muitas vezes traduzida como ‘por todos’.A segunda ação parte da Congregação para o Clero. Em setembro de 2006 foi erigido o Instituto Bom Pastor, uma sociedade de vida apostólica que celebra a Missa exclusivamente na forma anterior ao Concílio. Depende ao mesmo tempo da Comissão Ecclesia Dei e da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.Em março de 2007 o Santo Padre deu a conhecer a Exortação Apostólica pós-Sinodal Sacramentum Caritatis. Nela, o Papa Bento XVI reitera o dever dos sacerdotes em obedecer as “normas litúrgicas na sua integridade, pois é precisamente este modo de celebrar que, há dois mil anos, garante a vida de fé de todos os crentes”. Indica também, na segunda parte do documento, critérios para a ars celebrandi. Recomenda o uso do latim em concelebrações internacionais e a recitação de ao menos algumas partes fixas do cânon neste idioma.(...)Ainda em 2007 o Papa promulgou o Moto Próprio Summorum Pontificum, dando liberdade a todo padre para celebrar a missa tridentina sem a prévia permissão do bispo, como era anteriormente acordado. O documento insiste que o missal de Pio V e o missal de Paulo VI são duas expressões de um único Rito Romano, a primeira em sua forma extraordinária e a segunda em sua forma ordinária.” (pp. 26-27)
Não nos espanta, portanto, que um documento que trate não de liturgia, mas da Palavra de Deus na Igreja, como a recente Exortação Apostólica Pós-sinodal Verbum Domini, também seja ocasião para o Romano Pontífice oferecer profunda catequese sobre temas litúrgicos. Como de costume, o Papa nos brinda com densa reflexão sobre a liturgia, ligando-a ao assunto específico do documento.
A liturgia como um locus onde se encontra a Palavra divina
O Papa trata de, a partir do número 52 da citada Exortação Apostólica, especificar a liturgia como um local para encontrar a Palavra. Não apenas a Escritura, dado que não somos protestantes, a ponto de identificar, necessariamente, a Palavra de Deus com um livro em que ela também se exterioriza. A Palavra de Deus, para Bento XVI, é aqui tomada no sentido mais classicamente católico, como o Logos grego, o Verbum latino. Cristo é a Palavra que se encarna, armando sua tenda entre nós, a partir da aceitação da Virgem.
Se a liturgia é a oração pública de Cristo ao Pai pela Igreja, o ato do Corpo Místico, do Cristo total, em nosso benefício, natural que entre ela e o próprio Cristo haja uma correlação imprescindível. Cristo Jesus é a Palavra. A liturgia é ação de Cristo. A liturgia é ação da Palavra. O Filho de Deus se encarna, o Verbo, a Palavra, assume nossa carne, reveste-se de nossa natureza humana, para justamente cultuar ao Pai na Cruz e reviver, de modo incruento, esse sacrifício da Missa, perpetuando seus efeitos pelos sacramentos e, de certa forma, no Ofício Divino. A Palavra de Deus, i.e., o próprio Cristo, é o autor e o ator da liturgia. A liturgia é a ação da Palavra encarnada. E, como tal, Cristo nos fala, como Verbo que é, na liturgia por Ele celebrada mediante seus sacerdotes.
Daí o ensino do Papa na Exortação:
“Considerando a Igreja como «casa da Palavra», deve-se antes de tudo dar atenção à Liturgia sagrada. Esta constitui, efetivamente, o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida: fala hoje ao seu povo, que escuta e responde.” (VD, 52)
Evidentemente, ainda que não se possa identificar a Palavra apenas com a Escritura, é forçoso dizer que esta é um meio concreto e visível de a conhecermos. Encontramos a Cristo no sacrário e no crucifixo, mas também no contato com os Evangelhos e todas as demais páginas da Bíblia Sagrada. Assim, continua o Papa, a “ação litúrgica está, por sua natureza, impregnada da Sagrada Escritura.” (VD, 52)
E não só na chamada “Missa dos Catecúmenos” ou “Liturgia da Palavra” se encontram disposições da Sagrada Escritura. Além das leituras – e um dos pontos positivos da reforma de Paulo VI foi justamente uma maior disposição das lições, com o acréscimo de uma perícope nos Domingos e solenidades (antigamente chamadas de “festas de primeira classe”) –, a Escritura está presente, em citações diretas, também na maioria das antífonas (Intróito, Ofertório e Comunhão), além de se fazer presente, quer na forma direta, quer como inspiração, nas preces, nas coletas, nas sequências, nos prefácios, e até em inúmeros trechos do Ordinário da Missa (como a Consagração, o Rito da Paz, o Pater Noster, o Gloria, o Sanctus, o Agnus, as bênçãos solenes).
Isso sem falar na Liturgia das Horas, que bebe entusiasticamente das fontes escriturísticas, com seus salmos, leituras breves e longas, cânticos e também nos hinos que, embora não bíblicos, estão impregnados de uma linguagem lírica comum à Escritura e não raras vezes utilizam-se de expressões consagradas no texto sacro.
 Dado que a Palavra é o Cristo, é Ele, pois, que, na liturgia que Ele mesmo celebra, nos fala, nos ensina, nos satura e penetra com a divina unção da Revelação.
Dado que a Palavra é o Cristo, é Ele, pois, que, na liturgia que Ele mesmo celebra, nos fala, nos ensina, nos satura e penetra com a divina unção da Revelação.
Outro elemento que daí se infere é quanto à interpretação da Revelação divina. A Palavra De Deus só pode ser lida pela Igreja e com a Igreja. Sendo a Igreja a depositária da Revelação, cujas fontes são a Tradição e a Escritura, e tendo também a Igreja nos dado a Bíblia – selecionando o que era ou não inspirado para colocar no cânon –, sendo, por isso, em certo sentido, “mãe da Bíblia”, natural que os textos sagrados só ganhem seu real sentido na própria Igreja. Santo Agostinho já dizia que só cria no Evangelho pela autoridade da Santa Igreja, e outros autores recolhem o adágio de que, fora da interpretação da Igreja, a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias.
Ora, se a Igreja que nos dá a Bíblia, que guarda o depósito da fé pela Palavra divina, é, como Corpo Místico de Cristo, a continuadora da ação do Senhor na história mediante a liturgia, e a mesma liturgia é um locus onde se encontra aquela Palavra, temos que a liturgia é o referencial para a autêntica leitura escriturística. Não é desconhecido, ademais, o adágio “lex orandi, lex credendi”, e sendo a leitura da Palavra de Deus uma forma de oração, com mais razão na liturgia, ela deve expressar o que cremos. De fato, assim se expressa o Papa:
“Por isso, para a compreensão da Palavra de Deus, é necessário entender e viver o valor essencial da acção litúrgica. Em certo sentido, a hermenêutica da fé relativamente à Sagrada Escritura deve ter sempre como ponto de referência a liturgia, onde a Palavra de Deus é celebrada como palavra actual e viva: «A Igreja, na liturgia, segue fielmente o modo de ler e interpretar as Sagradas Escrituras seguido pelo próprio Cristo, quando, a partir do “hoje” do seu evento, exorta a perscrutar todas as Escrituras».” (VD, 52, grifos nossos)
O próprio ano litúrgico, imprimindo um ritmo pelo qual se vai aos poucos se desenrolando o drama da Redenção nas perícopes selecionadas para cada tempo e festa, indica bem a liturgia como lugar da Palavra. E tudo aponta, em tal mencionado ritmo, para o acontecimento central de nossa Salvação.
Isso está bastante claro no mesmo número 52 do documento:
“Aqui se vê também a sábia pedagogia da Igreja que proclama e escuta a Sagrada Escritura seguindo o ritmo do ano litúrgico. Vemos a Palavra de Deus distribuída ao longo do tempo, particularmente na celebração eucarística e na Liturgia das Horas. No centro de tudo, refulge o Mistério Pascal, ao qual se unem todos os mistérios de Cristo e da história da salvação actualizados sacramentalmente: «Com esta recordação dos mistérios da Redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo o tempo, para que os fiéis, em contacto com eles, se encham de graça». Por isso exorto os Pastores da Igreja e os agentes pastorais a fazer com que todos os fiéis sejam educados para saborear o sentido profundo da Palavra de Deus que está distribuída ao longo do ano na liturgia, mostrando os mistérios fundamentais da nossa fé. Também disto depende a correcta abordagem da Sagrada Escritura.” (VD, 52, grifos nossos)
Outros aspectos da relação entre a Escritura e as celebrações litúrgicas
Não podemos olvidar, ademais, segundo o Papa, “que a unidade íntima entre Palavra e Eucaristia está radicada no testemunho da Escritura (cf. Jo 6; L c 24)” (VD, 54).
Prossegue Sua Santidade:
“A este propósito, pensemos no grande discurso de Jesus sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum (cf. Jo 6, 22-69), que tem como pano de fundo o confronto entre Moisés e Jesus, entre aquele que falou face a face com Deus (cf. Ex 33, 11) e aquele que revelou Deus (cf. Jo 1, 18). De facto, o discurso sobre o pão evoca o dom de Deus que Moisés obteve para o seu povo com o maná no deserto, que na realidade é a Torah, a Palavra de Deus que faz viver (cf. Sl 119; Pr 9, 5). Em Si mesmo, Jesus torna realidade esta figura antiga: «O pão de Deus é o que desce do Céu e dá a vida ao mundo. (...) Eu sou o pão da vida» (Jo 6, 33.35). Aqui, «a Lei tornou-se Pessoa. Encontrando Jesus, alimentamo-nos por assim dizer do próprio Deus vivo, comemos verdadeiramente o pão do céu». No discurso de Cafarnaum, aprofunda-se o Prólogo de João: se neste o Logos de Deus Se faz carne, naquele a carne faz-Se «pão» dado para a vida do mundo (cf. Jo 6, 51), aludindo assim ao dom que Jesus fará de Si mesmo no mistério da cruz, confirmado pela afirmação acerca do seu sangue dado a «beber» (cf. Jo 6, 53). Assim, no mistério da Eucaristia, mostra-se qual é o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu: é o Logos de Deus que Se fez carne, que Se entregou a Si mesmo por nós no Mistério Pascal.” (VD, 54)
O reconhecimento do mesmo Logos divino após Sua Ressurreição, pelos discípulos do Emaús, passa por uma demonstração desta relação entre a Palavra/Escritura e a Eucaristia. Os discípulos, diz-nos a própria Escritura – novamente ela –, reconhecem que aquele que lhes falava pelo caminho era o Cristo quando Ele parte o pão, em um símbolo da Eucaristia que instituíra na Quinta-feira Santa. Todavia, a partir desse momento sagrado em que reconhecem o Senhor, lembram-se de que, quando Ele lhes falava (e aqui temos, então, a Palavra, ainda que não-escrita, mas no mesmo nível da escrita, para o entender da Igreja), seus corações ardiam. A Palavra de Deus é que lhes prepara para o reconhecimento de Jesus no partir do pão. E Jesus, recordemos, utilizou, durante todo o caminho com os discípulos, até chegar a Emaús, de trechos da Escritura, para mostrar, pelos profetas e pela lei, como deveria sofrer, morrer e ressuscitar pela salvação dos pecados. A Escritura, então, não só prepara o encontro com o Senhor, mas o justifica. A Palavra – em um tríplice aspecto (o próprio Senhor é a Palavra, suas palavras faladas no caminho, e sua palavra escrita nos profetas e na lei explicando os eventos da salvação) – aponta para a Eucaristia no partir do pão, e a Eucaristia se torna plenamente reconhecível pela Palavra. Há aqui um aspecto teológico profundo até mesmo para a tarefa da apologética com os protestantes, e penso que, em outra oportunidade, deveria ser melhor explorado.
O Santo Padre já adianta a abordagem sobre a relação entre a Palavra e a Eucaristia a partir de Emaús, no ponto seguinte da Exortação:
“Vê-se a partir destas narrações como a própria Escritura leva a descobrir o seu nexo indissolúvel com a Eucaristia. «Por conseguinte, deve-se ter sempre presente que a Palavra de Deus, lida e proclamada na liturgia pela Igreja, conduz, como se de alguma forma se tratasse da sua própria finalidade, ao sacrifício da aliança e ao banquete da graça, ou seja, à Eucaristia». Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra: a Palavra de Deus faz-Se carne, sacramentalmente, no evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos à inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e explica o Mistério eucarístico. Com efeito, sem o reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia, permanece incompleta a compreensão da Escritura. Por isso, «à palavra de Deus e ao mistério eucarístico a Igreja tributou e quis e estabeleceu que, sempre e em todo o lugar, se tributasse a mesma veneração embora não o mesmo culto. Movida pelo exemplo do seu fundador, nunca cessou de celebrar o mistério pascal, reunindo-se num mesmo lugar para ler, “em todas as Escrituras, aquilo que Lhe dizia respeito” (L c 24, 27) e actualizar, com o memorial do Senhor e os sacramentos, a obra da salvação».” (VD, 55)
Um ponto “difícil”: a sacramentalidade da Palavra
Segundo os teólogos, a palavra sacramento teve vários significados no início do cristianismo, e podemos resumi-los a três principais:
a) o sentido original e profano de um juramento usado pelos militares romanos;
b) o sentido religioso amplo, designando qualquer coisa que fosse sagrada, ou seja, retirada para uso espiritual;
c) o sentido religioso estrito, importando em um sinal sensível e visível da graça invisível, instituído por Cristo, e por meio do qual a graça operaria eficazmente em nós.
Embora os manuais de dogma, os catecismos e o nosso uso corriqueiro ordinariamente utilizem essa palavra apenas para o sentido estrito, não era estranha à Igreja, ao menos até o Concílio de Trento, a presença do vocábulo “sacramento” no segundo sentido, amplo, lato. Era algo relativamente comum, por exemplo, entre os Padres gregos, ao denominar a árvore da vida do Paraíso, os ícones, as bênçãos, os paramentos, as velas, e até as coroações de reis e imperadores, de sacramentos. Com isso, não se estava, evidentemente, aumentando a lista dos sacramentos além dos sete dogmaticamente reconhecidos. Sabia-se perfeitamente que uns eram os sacramentos como canais da graça, e estes eram apenas sete, como sempre foram e sempre serão; e outros eram simplesmente coisas sagradas a que se aplicava a palavra "sacramento" em um sentido amplo.
Justamente para evitar confusões é que a contra-reforma católica, combatendo os erros protestantes, passou a ressaltar apenas o sentido estrito.
Todavia, o Vaticano II passou a utilizar, novamente, já que quis usar uma linguagem mais agostiniana do que tomista, “sacramento” no sentido amplo. Daí a expressão, tão cara à Lumen Gentium: “Igreja, sacramento da salvação”. Não se está, como resta patente, criando ou reconhecendo um oitavo sacramento que seria a Igreja, até porque não há, na Igreja, uma “celebração”, um “rito”, “forma”, “matéria”... A Igreja não é uma ação ritual, e sim uma sociedade. A Igreja como sacramento não o é no sentido de que é sacramento o Batismo, ou a Crisma, ou a Ordem. Sacramento, para a Lumen Gentium, referindo-se à Igreja é um sinal, algo sagrado, e a Igreja é o “algo sagrado” por excelência, dado que dela ou por ela recebemos o necessário para nos salvarmos, inclusive os sete sacramentos em sentido estrito.
Retomando esse sentido amplo da palavra, Bento XVI, na Verbum Domini, indica a Palavra de Deus escrita e oral como sendo um sacramento. Vejamos, em suas linhas:
“Com o apelo ao carácter performativo da Palavra de Deus na acção sacramental e o aprofundamento da relação entre Palavra e Eucaristia, somos introduzidos num tema significativo, referido durante a Assembleia do Sínodo: a sacramentalidade da Palavra. A este respeito é útil recordar que o Papa João Paulo II já aludira «ao horizonte sacramental da Revelação e, de forma particular, ao sinal eucarístico, onde a união indivisível entre a realidade e o respectivo significado permite identificar a profundidade do mistério». Daqui se compreende que, na origem da sacramentalidade da Palavra de Deus, esteja precisamente o mistério da encarnação: «o Verbo fez-Se carne» (Jo 1, 14), a realidade do mistério revelado oferece-se a nós na «carne» do Filho. A Palavra de Deus torna-se perceptível à fé através do «sinal» de palavras e gestos humanos. A fé reconhece o Verbo de Deus, acolhendo os gestos e as palavras com que Ele mesmo se nos apresenta. Portanto, o horizonte sacramental da revelação indica a modalidade histórico-salvífica com que o Verbo de Deus entra no tempo e no espaço, tornando-Se interlocutor do homem, chamado a acolher na fé o seu dom.” (VD, 56)
Claro está que o Sumo Pontífice não ignora o dogma dos sete (e únicos) sacramentos, nem fere o entendimento da Igreja, apresentando a teologia da “sacramentalidade da Palavra”. A Palavra de Deus, ou mais especificamente, a Sagrada Escritura, não é um sacramento no sentido de uma celebração, de um sinal sensível e eficaz da graça, ou seja, não é sacramento no sentido estrito tomista, tridentino, dos catecismos, e que, claro, deve continuar a prevalecer como “sentido mais forte”, “sentido mais importante”, para que não haja confusão entre os fiéis. Sem embargo, a profunda sacralidade da Palavra não deve ser desprezada, e, além disso, insistindo-se na “sacramentalidade” da Palavra, demonstra-se com bastante eficácia a relação da Escritura com a Eucaristia, como em Emaús.
Noutros termos, os sete sacramentos, em sentido estrito, são revalorizados e diríamos provados pela Palavra como sacramento em sentido amplo. Ou a Palavra, sacramento em sentido amplo, aponta para os sete sacramentos, em sentido estrito. E, se aponta para os sete, com mais razão, para o sacramento do qual derivam os demais, o sacramento por antonomásia, o Santíssimo Sacramento, como se vê na continuação da Exortação Apostólica:
“Assim é possível compreender a sacramentalidade da Palavra através da analogia com a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho consagrados. Aproximando-nos do altar e participando no banquete eucarístico, comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. A proclamação da Palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que Se faz presente e Se dirige a nós para ser acolhido. Referindo-se à atitude que se deve adoptar tanto em relação à Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerónimo afirma: «Lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o Corpo de Cristo; penso que as santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando Ele fala em “comer a minha carne e beber o meu sangue” (Jo 6, 53), embora estas palavras se possam entender do Mistério [eucarístico], todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o Mistério [eucarístico], se cair uma migalha sentimo-nos perdidos. E, quando estamos a escutar a Palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a Palavra de Deus que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo?». Realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente, de modo análogo, também na Palavra proclamada na liturgia. Por isso, aprofundar o sentido da sacramentalidade da Palavra de Deus pode favorecer uma maior compreensão unitária do mistério da revelação em «acções e palavras intimamente relacionadas», sendo de proveito à vida espiritual dos fiéis e à acção pastoral da Igreja.” (VD, 56, grifo nosso)
Um novo mote a considerar. Há, evidentemente, uma indissociável relação entre a Sagrada Eucaristia e a Palavra de Deus, mas para reforçar tal nexo se vale a Igreja de analogias, dado que são "categorias" distintas. Mesmo a presença de Cristo na Escritura proclamada durante a celebração não é do mesmo nível de sua presença real no sacramento eucarístico. A presença de Cristo na Eucaristia é uma presença por antonomásia, por excelência.
Para ressaltar que, pela liturgia, existe uma presença de Cristo na Palavra proclamada, e que ela tem relação com a presença do mesmo Cristo no sacramento da Eucaristia celebrado, novamente, na idêntica liturgia, mas que, por outro lado, tais “presenças” são distintas, é que frisamos o vocábulo “análogo” no parágrafo supra. Cristo está na Palavra e está na Eucaristia, porém entre as duas presenças há uma analogia, significando que não são idênticas, não possuem a mesma substância.
Como já tivemos oportunidade de esclarecer, em outro artigo, publicado pelo conhecido site Veritatis Splendor –http://www.veritatis.com.br/article/3596, que passo a transcrever a título de aprofundamento, como um parêntesis em nosso estudo:
“Importa, antes de tudo, diferenciarmos os modos pelos quais Deus Se faz presente nas coisas, nos lugares e nos seres.1) Presença de Cristo em todas as coisas, em todos os lugares, e em todos os seres, por Sua ubiqüidade ou onipresença, i.e., em virtude de seu poder.2) Presença de Cristo em todos os homens, pecadores ou justos, pela ubiqüidade, mas também, e de modo mais especial, por amor e por semelhança.3) Presença de Cristo nas almas dos justos, i.e., dos que estão em estado de graça ou já se encontram salvos, quer no céu quer no purgatório, pela inabitação, ou seja, mediante a graça santificante.4) Presença de Cristo nas páginas das Sagradas Escrituras, nos ministros, em certos sacramentais, nas imagens, no altar, pelo uso que deles se faz.5) Presença de Cristo na assembléia dos fiéis, pela graça, uma vez que é reunião de almas dos justos e, por isso, decorre da inabitação, presença essa que se chama, mui significativamente, espiritual.6) Presença de Cristo na Santíssima Eucaristia pela realidade e pela substância, não como se nas outras Ele não estivesse real ou substancialmente presente, mas por antonomásia, de modo excelso.Feitas essas diferenciações, por alto, passemos à consideração de cada uma dessas maneiras de Deus fazer-Se presente.“‘Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós’ (Rm 8,34), está presente de múltiplas maneiras em sua Igreja: em sua Palavra, na oração de sua Igreja, ‘lá onde dois ou três estão reunidos em meu nome’ (Mt 18,20), nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas 'sobretudo (está presente) sob as espécies eucarísticas.’” (Cat., 1373)Em todas as coisas, seres e lugares, faz-Se presente Deus, uma vez que um de Seus atributos é a imensidão ou ubiqüidade, também chamada onipresença.Embora Deus esteja em sua Sua substância, nela não se convertem as substâncias das coisas onde Ele está presente em virtude de Seu poder. A substância de cada criatura permanece a mesma, não tendo ela substância divina, sob pena de cairmos no erro do panteísmo, que confunde o Criador com os seres criados.No ser humano, mesmo pecador, Deus está presente também pela ubiqüidade. Em certo sentido, é a mesma presença divina com a qual o Senhor está em todas as coisas, lugares e seres. Em outro, é uma presença mais íntima, pois o homem é Sua imagem e semelhança. “Tu estavas comigo, mas não eu contigo.” (Santo Agostinho, Conf., X, 27, 38) Ainda assim, esta presença é inferior àquela efetuada por Deus mediante a graça. De fato, a presença de Deus no justo, chamada inabitação, é uma participação na vida divina, na natureza divina. Não muda o homem sua substância, mas participa, pela graça santificante, da de Deus.“A pesar del pecado de los hombres, Dios siempre ha mantenido su presencia creacional en las criaturas. Sin ese contacto entitativo, ontológico, permanente, las criaturas hubieran recaído en la nada. León XIII, citando a Santo Tomás, recuerda esta clásica doctrina: «Dios se halla presente a todas las cosas, y está en ellas ‘por potencia, en cuanto se hallan sujetas a su potestad; por presencia, en cuanto todas están abiertas y patentes a sus ojos; por esencia, porque en todas ellas se halla él como causa del ser’» (enc. Divinum illud munus: STh I,8,3). Pero la Revelación nos descubre otro modo por el que Dios está presente a los hombres, la presencia de gracia, por la que establece con ellos una profunda amistad deificante. Toda la obra misericordiosa del Padre celestial, es decir, toda la obra de Jesucristo, se consuma en la comunicación del Espíritu Santo a los creyentes.”(RIVERA, Pe. José; IRABURU, Pe. José María. Síntesis de la Espiritualidad Católica, Fundación Gratis Date)“Para melhor entender a natureza e efeitos desse dom, convém recordar o que, depois das Sagradas Escrituras, ensinaram os sagrados doutores, isto é, que Deus se acha presente em todas as coisas e que está nelas ‘por potência, enquanto se acham sujeitas a sua potestade; por presença, enquanto todas estão abertas e patentes a seus olhos; e por essência, porque em todas se acha como causa de seu ser.’ Mas, na criatura racional, encontra-se Deus já de outra maneira, isto é, enquanto é conhecido e amado, já que é segundo a natureza amar o bem, desejá-lo e buscá-lo. Finalmente, Deus, por meio de sua graça, está na alma do justo de forma mais íntima e inefável, como em seu templo; e disso se segue aquele mútuo amor pelo qual a alma está intimamente presente diante de Deus, e está nele mais do que se possa suceder entre os amigos mais queridos, e goza dele com a mais regalada doçura.
E esta admirável união (...) propriamente se chama inabitação (...).” (Sua Santidade, o Papa Leão XIII. Encíclica Divinum Illud Munus)“Trabalhemos sempre vivendo conscientemente Sua inabitação em nós, sendo nós Seu templo, sendo Ele nosso Deus dentro de nós.” (Santo Inácio de Antioquia, Ad Eph., 15,3) A inabitação é formalmente uma união física e amistosa entre Deus e o homem, fundada na caridade e realizada pela graça, mediante a qual Deus Se dá à alma e nela Se torna presente pessoal e substancialmente, sem alteração da substância própria do homem, porém, fazendo-a participar da vida divina. “Deus mora secretamente no seio da alma” (São João da Cruz, Chama, 4, 14) Essa santificação ou divinização não é uma mudança da substância humana em divina, mas elevação da primeira à última. A grande reformadora do Carmelo sempre se referia às “(...) três Pessoas que trago na alma (...).” (Santa Teresa d'Ávila, Consc., 42)Santo Tomás de Aquino explica: “O especial modo da presença divina própria da alma racional consiste precisamente em que Deus esteja com ela como o conhecido naquele que o conhece e o como o amado no amante. E porque, conhecendo e amando, a alma racional aplica sua operação ao mesmo Deus, por isso, segundo este modo especial, se diz que Deus não só é na criatura racional, senão que habita nela como em seu templo.” (S. Th., I, q. 43, a. 3)Em virtude da Encarnação, Cristo é Deus, mas também homem, duas naturezas em uma só Pessoa. Evidentemente, quando nos referimos à onipresença, estamos falando de um atributo da divindade. Ainda que esta se una indissoluvelmente à humanidade de Cristo em Sua Encarnação, aquela é preexistente. Antes mesmo de tornar-se carne, o Verbo, por ser Deus, já estava em tudo e em todos (sem alterar-lhes, contudo, a substância, nem fazer-lhes participar de Sua natureza divina); na Eucaristia, porém, eis que é Cristo, Verbo feito carne, não só a divindade como a humanidade do Salvador estão presentes.Deus não está presente na pedra ou na árvore de modo a fazê-las participar de Sua divindade. Cada ser conserva sua substância própria. A pedra é pedra, não Deus. Sua semelhança com o Criador se dá pela participação da perfeição divina enquanto tem, como Deus, o ser (no caso, o ser pedra). Assim também, o homem não é Deus por estar Este presente naquele; sua natureza humana, substância humana, resta inalterada. É o homem semelhante a Deus apenas na medida em que participa das faculdades da inteligência e da vontade, as quais são perfeições divinas. No homem, Deus está presente, pela ubiqüidade, sendo a ele semelhante, vez que é inteligente e possui vontade (Deus, que é puro espírito, também é inteligente e possui vontade).No homem em estado de graça (e nos anjos do céu), Deus faz-Se presente de modo ainda mais excelso: pela participação na natureza divina. Ainda nesta, o homem continua homem (e o anjo, anjo), mas, pela graça, recebe algo da divindade, algo da substância divina, sem alterar a sua própria, contudo.Nenhuma dessas presenças, entretanto, é a mesma de Deus na Eucaristia. Nela, Deus não está presente como em todos os lugares, seres e coisas. Nela, Deus não está presente apenas enquanto esta tem o ser. Nela, Deus não está presente pela participação na vontade e na inteligência, que caracterizam a semelhança. Nela, Deus não está presente pela graça ou elevando a substância, a natureza, até Si. Não! Se a pedra, ainda que Deus nela esteja presente, continua pedra, sem mudar a substância de pedra, sem assumir a natureza divina (daí que não adoramos a pedra nem a consideramos Deus, o que seria panteísmo); se o homem não-justificado continua homem, ainda que Deus nele esteja também presente e seja ele criado à Sua imagem e semelhança; se mesmo o homem em estado de graça continua homem, sem mudar sua substância, sua natureza humana (ainda que participando, pela graça santificante, da natureza divina); a Eucaristia é o próprio Deus! Não está Cristo nela como na pedra (que continua pedra) ou no homem (que continua homem, mesmo elevado pela graça à natureza divina), mas há verdadeira mudança de substância (transubstanciação): as substâncias do pão e do vinho, após a consagração e por ela, mudam-se em Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor, Deus, Rei e Salvador, Jesus Cristo. A pedra tem a presença de Deus, porém resta com a substância de pedra. O homem tem a presença de Deus, porém resta com a substância de homem. A Eucaristia tem a substância de Deus, pois nela Cristo não só está presente: a Eucaristia É Deus! Sob a aparência de pão, encontra-se o Criador do Universo! Daí que a adoremos, o que não se faz com uma pedra, ainda que Deus nela esteja presente pela ubiqüidade, nem com um homem, ainda que seja feito à Sua imagem e semelhança e, no caso do homem justificado, participe da natureza divina.Cristo, pois faz-Se presente nas coisas, em virtude de sua onipresença; faz-Se presente nos homens pela grandiosa semelhança entre eles e Deus, criados à Sua imagem, com vontade e inteligência; faz-Se presente nas almas justas em razão da graça, presença essa chamada inabitação; faz-Se presente na Bíblia, nos ministros, nos sacramentais, pelo uso; e, muito especialmente, na Eucaristia. “Esta presença chama-se ‘real’ não por exclusão, como se as outras não fossem ‘reais’, mas por antonomásia”, diz Paulo VI, “porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente completo”. (Encíclica Mysterium Fidei, de 3 de setembro de 1965, nº 39) A Eucaristia não é apenas presença de Cristo: ela é o próprio Cristo! Ainda que estivesse em todos os lugares, uma vez que, sendo Deus, era onipresente, Cristo, em Sua vida terrena, após a Encarnação, estava, de modo especial, presente em locais específicos: em Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, na manjedoura, nas bodas de Caná, em um barco no mar da Galiléia... A presença de Jesus em um local específico e determinado não elimina Sua ubiqüidade, imensidão, onipresença. O mesmo em relação ao Santíssimo Sacramento: é Deus conosco, e Sua presença nele, específica, não invalida a ubiqüidade. De qualquer maneira, é uma presença excelente, real por antonomásia!A presença de Jesus Cristo, outrossim, entre o povo fiel, é explicada de dois modos. Primeiro como conseqüência da inabitação: Cristo está presente, pela graça, nas almas de muitos. Segundo, pela promessa de estar presente no meio deles, como bem lembrou o consulente. É uma presença, ainda que real, que se dá de maneira espiritual. A substância do lugar não muda.”
Não se distorça, portanto, a Exortação do Papa para justificar espúrias teologias que tentam igualar a Escritura e a Eucaristia, reduzindo, na prática, a fé na presença real e substancial do Senhor no Santíssimo Sacramento.
Fecha parênteses. Sigamos o artigo.
Pontos práticos para a “reforma da reforma litúrgica” em relação à Palavra de Deus
Enfim, não se pode descurar toda a questão que falávamos no início deste artigo, sobre a “reforma da reforma” pretendida e iniciada por Bento XVI, e suas relações com o tema da presente Exortação Apostólica. E é nesse sentido que o próprio Papa já se adianta e, não querendo deixar somente para nossa criatividade e filosofia imaginar o cenário de como a Palavra de Deus se afina com o resgate de uma sacralidade mais “ostensiva” na liturgia, dá os caminhos por onde, com segurança, poderemos trilhar nos próximos anos, principalmente os envolvidos no “novo movimento litúrgico”, como nós, aqui em nosso blog.
O Papa já tinha, em 2006, em sua Mensagem para o Dia Mundial da Juventude, especificado a importância que dava à intimidade com a Escritura, tema da presente Exortação. O despertar para a liturgia, requerido por Bento XVI, passa por um contato mais estreito com a Palavra de Deus, que, como vimos, permeia não só a celebração litúrgica, como é a base da teologia que a sustenta.
Nesse diapasão, convém recordar as palavras do Pontífice àquela ocasião:
“Diletos jovens, exorto-vos a adquirir familiaridade com a Bíblia, a conservá-la ao alcance da mão, a fim de que seja para vós uma bússola que indique o caminho a seguir. Lendo-a, aprendereis a conhecer Cristo. A este propósito, São Jerônimo observa: "A ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo" (PL 24, 17; cf. Dei Verbum, 25). Um caminho bem experimentado para aprofundar e saborear a palavra de Deus é a lectio divina, que constitui um verdadeiro e próprio itinerário espiritual por etapas. Da lectio, que consiste em ler e reler um trecho da Sagrada Escritura e em frisar os seus aspectos principais, passa-se à meditatio, que é como que uma pausa interior, em que a alma se dirige a Deus, procurando compreender aquilo que a sua palavra diz hoje à vida concreta. Depois, vem a oratio, que nos faz entreter com Deus um diálogo directo, e enfim chega-se à presença de Cristo, cuja palavra é "luz que brilha num lugar escuro, até que venha o dia em que a estrela da manhã brilhe nos vossos corações" (2 Pd 1, 19). Em seguida, a leitura, o estudo e a meditação da Palavra devem desabrochar numa vida de adesão coerente a Cristo e aos seus ensinamentos.” (Mensagem em 22 de fevereiro de 2006)
A partir dessas linhas-mestras, o Papa sugere um programa muito prático para a valorização desse nexo entre a Sagrada Eucaristia e a ação litúrgica.
Um dos pontos desse programa é a formação dos que fazem leituras na Missa, e a redescoberta e promoção do ministério do leitor.
“Na assembleia sinodal sobre a Eucaristia, já se tinha pedido maior cuidado com a proclamação da Palavra de Deus. Como é sabido, enquanto o Evangelho é proclamado pelo sacerdote ou pelo diácono, a primeira e a segunda leitura na tradição latina são proclamadas pelo leitor encarregado, homem ou mulher. Quero aqui fazer-me eco dos Padres sinodais que sublinharam, também naquela circunstância, a necessidade de cuidar, com uma adequada formação, o exercício da função de leitor na celebração litúrgica e de modo particular o ministério do leitorado que enquanto tal, no rito latino, é ministério laical. É necessário que os leitores encarregados de tal serviço, ainda que não tenham recebido a instituição no mesmo, sejam verdadeiramente idóneos e preparados com empenho. Tal preparação deve ser não apenas bíblica e litúrgica mas também técnica: «A formação bíblica deve levar os leitores a saberem enquadrar as leituras no seu contexto e a identificarem o centro do anúncio revelado à luz da fé. A formação litúrgica deve comunicar aos leitores uma certa facilidade em perceber o sentido e a estrutura da liturgia da Palavra e os motivos da relação entre a liturgia da Palavra e a liturgia eucarística. A preparação técnica deve tornar os leitores cada vez mais idóneos na arte de lerem em público tanto com a simples voz natural, como com a ajuda dos instrumentos modernos de amplificação sonora».” (VD, 58)
A leitura das lições na Missa em rito romano, à exceção do Evangelho, é feita por alguém especialmente encarregado para tal. O Papa trata de sublinhar o necessário preparo técnico, mas também espiritual, de quem faz essas leituras. Não se pode apenas emprestar a voz à Palavra de Deus para fazer uma proclamação litúrgica: é preciso que tal seja fruto da coerência de vida, sem descuidar o aspecto técnico.
Além disso, o Santo Padre, ao prescrever tais conselhos a todos os que fazem leituras, diz que eles são ainda mais importantes quando elas são feitas pelos “leitores instituídos”. O leitorado, bem o sabemos, é um ministério, ou seja, uma tarefa especialmente dada pela autoridade da Igreja a alguém mediante um rito litúrgico específico. Hoje, esse rito, no âmbito da liturgia romana moderna, se chama instituição, mas houve tempo em que se a chamava “ordenação menor”, expressão que é conservada pelos que observam a forma antiga, extraordinária, do rito romano, e pelos inúmeros ritos orientais. Assim, historicamente, esse ministério do leitor era tão importante a ponto de o chamarmos “ordem menor”, em analogia ao sacramento da Ordem.
Se leituras todos podem fazer, homens e mulheres, desde que idôneos e bem preparados, o ministério do leitor, por sua vez, só é concedido aos homens pelo Bispo, nos termos do Direito Canônico.
Urge valorizá-lo. Não conferir tal ministério/ordem menor somente aos seminaristas em preparação ao sacerdócio, mas a varões que tenham o chamado específico. Se em uma Missa “comum”, se possa, sem maiores problemas, treinar um leigo para fazer uma leitura, tem maior peso litúrgico, e é mais conectado com a tradição, que nas Missas mais solenes, a leitura seja feita pelo leitor instituído, i.e., por quem recebeu o ministério do leitorado. Entre um simples fiel que faz uma leitura e um leitor instituído há um abismo enorme a diferenciá-lo, e esse abismo é saudável, encontra eco na tradição litúrgica, e faz a Palavra por ele proclamada ter uma significação litúrgica externa muito mais profunda.
Outro ponto ressaltado pelo Pontífice para enfatizar a posição litúrgica da Palavra de Deus na celebração é a maior popularização do canto por excelência do rito romano, o canto gregoriano. De fato, além de musicar as perícopes bíblicas ou, quando não o faça, se inspirar profundamente nas mesmas, o canto gregoriano, por sua métrica e técnica, subordina a melodia à palavra cantada. O centro, no canto gregoriano, é o que se canta, e não tanto como se canta.
“No âmbito da valorização da Palavra de Deus durante a celebração litúrgica, tenha-se presente também o canto nos momentos previstos pelo próprio rito, favorecendo o canto de clara inspiração bíblica capaz de exprimir a beleza da Palavra divina por meio de um harmonioso acordo entre as palavras e a música. Neste sentido, é bom valorizar aqueles cânticos que a tradição da Igreja nos legou e que respeitam este critério; penso particularmente na importância do canto gregoriano.” (VD, 70)
Falar em canto gregoriano, por sua vez, nos leva a falar no silêncio. O modo de cantar a música oficial da liturgia romana é uma lembrança da importância de silenciar para ouvir a Deus.
Também na liturgia esse silêncio tem seu lugar. Não se adora a Deus apenas falando, cantando, recitando uma oração. Silenciando também prestamos culto ao Senhor, e respondemos ao apelo do que foi lido nas Sagradas Escrituras. Por isso, o silêncio é um ponto muito concreto para valorizar a Palavra de Deus na liturgia.
“Várias intervenções dos Padres sinodais insistiram sobre o valor do silêncio para a recepção da Palavra de Deus na vida dos fiéis. De facto, a palavra pode ser pronunciada e ouvida apenas no silêncio, exterior e interior. O nosso tempo não favorece o recolhimento e, às vezes, fica-se com a impressão de ter medo de se separar, por um só momento, dos instrumentos de comunicação de massa. Por isso, hoje é necessário educar o Povo de Deus para o valor do silêncio. Redescobrir a centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja significa também redescobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. A grande tradição patrística ensina-nos que os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio e só nele é que a Palavra pode encontrar morada em nós, como aconteceu em Maria, mulher indivisivelmente da Palavra e do silêncio. As nossas liturgias devem facilitar esta escuta autêntica: Verbo crescente, verba deficiunt.
Que este valor brilhe particularmente na Liturgia da Palavra, que «deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação». O silêncio, quando previsto, deve ser considerado «como parte da celebração». Por isso, exorto os Pastores a estimularem os momentos de recolhimento, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a Palavra de Deus é acolhida no coração.” (VD, 66)
Ao contrário do que se poderia pensar, mais superficialmente, a promoção da Palavra no culto litúrgico não é feita somente quando se a proclama ou quando se a escuta, mas também quando se a digere e contempla. De nada adianta ouvir a Palavra, sem meditá-la, e só se medita quando se está em silêncio. O silenciar, por alguns instantes, na Missa, não é ocasião de tédio ou vazio, mas de sublime contemplação da Palavra de Deus liturgicamente anunciada.
Enfim, nos números seguintes da Exortação, Bento XVI enumera outras sugestões para que o culto litúrgico demonstre mais claramente sua relação com a Sagrada Escritura: a importância da explicação das leituras por uma atenta homilia (cf. VD, 59); a promoção das Laudes e Vésperas celebradas com o povo nas paróquias (de forma comunitária e, se houver condições, também na forma solene, conforme o Cerimonial dos Bispos, com pluvial, incenso, canto gregoriano; cf. VD, 62); o uso do Evangeliário, conduzido com especial dignidade nas procissões, não só na Missa pontifical, mas em outras Missas mais importantes, especialmente na Missa solene com diácono (cf. VD, 67); e a observação do ambão como um lugar de honra no presbitério, bem como do cuidado com o Lecionário (cf. VD, 57 e 68).
Não pretendemos terminar o presente artigo de forma abrupta. Sem embargo, após explanarmos – certamente sem ambicionar fornecer uma interpretação exaustiva dos trechos sobre liturgia na citada Exortação Apostólica Verbum Domini, antes dando uma pincelada em pontos que julgamos mais relevantes –, após explanarmos, dizíamos, sobre o nexo entre a Sagrada Escritura e o culto público da Igreja, não nos restaria senão recomendarmos a leitura direta do texto do documento, como forma de aproximação com o riquíssimo pensamento litúrgico do Papa Bento XVI. Pensamento, aliás, iniciado já antes, no seu tempo de padre, teólogo, Bispo e Cardeal da Santa Igreja Romana.
Para “salvar” a liturgia diante de tantas sombras e manipulações, fato denunciado por grandes Bispos e por três Papas (Paulo VI, João Paulo II e o próprio Bento XVI), temos que andar no passo da Igreja. No afã de promover um novo movimento litúrgico, que desperte nas almas a busca mais profunda de Deus mediante a oração oficial da Igreja, e uma compreensão das rubricas e dos ritos como instrumentos para a nossa santificação, nada é melhor do que trilhar o caminho que o Sucessor de Pedro nos indica. Responder ao chamado do Papa, obedecer ao que ele manda, e manifestar, assim, nossa mais sincera fidelidade ao seu Magistério, passa por escutar seu apelo em prol da liturgia.
Oxalá a leitura atenta deste despretensioso artigo leve o amigo a isso. Da Palavra à liturgia, da liturgia à Palavra, e de ambas à maior glória de Deus, à dilatação da Igreja, e à salvação das almas, começando pela nossa...
A Liturgia é um culto prestado a Deus porque Ele é Deus! O interesse é Deus, o centro é Deus!
Dom Henrique Soares da Costa, Bispo auxiliar de Aracaju, nos presenteou com estas belas palavras e ensinamentos neste último domingo, 16 de fevereiro de 2014, em sua página pessoal no Facebook.
A liturgia é para nosso alimento, alento e transformação espiritual: ela nos cristifica, isto é, é obra do próprio Cristo que, na potência do Espírito, nos dá Sua própria Vida, aquela que Ele possui em plenitude na Sua humanidade glorificada no Céu.
Participar da liturgia é participar das coisas do Céu, é entrar em comunhão com a própria Vida plena e glorificada do Cristo nosso Senhor.
A liturgia é para nosso alimento, alento e transformação espiritual: ela nos cristifica, isto é, é obra do próprio Cristo que, na potência do Espírito, nos dá Sua própria Vida, aquela que Ele possui em plenitude na Sua humanidade glorificada no Céu.
Participar da liturgia é participar das coisas do Céu, é entrar em comunhão com a própria Vida plena e glorificada do Cristo nosso Senhor.
A liturgia não é feita produzida por nós, não é obra nossa! Ela é instituição do próprio Senhor.
Para se ter uma idéia, basta pensar em Moisés, que vai ao faraó e lhe diz: “Assim fala o Senhor: deixa o Meu povo partir para fazer-Me uma liturgia no deserto”. E, mais adiante, explica ao faraó que somente lá, no deserto, o Senhor dirá precisamente que tipo de culto e que coisas o povo Lhe oferte.
Isto tem a ação litúrgica de específico e encantador: não entramos nela para fazer do nosso modo, mas do modo de Deus; não entramos nela para nos satisfazer, mas para satisfazer a vontade de Deus.
Por isso digo tantas vezes que o espaço litúrgico não é primeiramente antropológico, mas teológico: a liturgia é espaço privilegiado para a manifestação e atuação salvífica de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nela, a obra salvífica de Cristo é perenemente continuada na Igreja: Deus é perfeitamente louvado e os que dela participam e toda a Igreja são santificados!
Para se ter uma idéia, basta pensar em Moisés, que vai ao faraó e lhe diz: “Assim fala o Senhor: deixa o Meu povo partir para fazer-Me uma liturgia no deserto”. E, mais adiante, explica ao faraó que somente lá, no deserto, o Senhor dirá precisamente que tipo de culto e que coisas o povo Lhe oferte.
Isto tem a ação litúrgica de específico e encantador: não entramos nela para fazer do nosso modo, mas do modo de Deus; não entramos nela para nos satisfazer, mas para satisfazer a vontade de Deus.
Por isso digo tantas vezes que o espaço litúrgico não é primeiramente antropológico, mas teológico: a liturgia é espaço privilegiado para a manifestação e atuação salvífica de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nela, a obra salvífica de Cristo é perenemente continuada na Igreja: Deus é perfeitamente louvado e os que dela participam e toda a Igreja são santificados!
A Liturgia é um culto prestado a Deus porque Ele é Deus! O interesse é Deus, o centro é Deus, o foco é Deus, o ponto focal para o qual se orienta a ação litúrgica é Deus, o Deus Santo a Quem elevamos o nosso louvor e adoração através do Filho, Sumo e Eterno Sacerdote na potência do Espírito Eterno; o mesmo Deus que, respondendo ao nosso louvor e oração, vem a nós através de Jesus, imolado e ressuscitado, na potência do Espírito. Deus vem a nós com a Sua Vida divina.
A Liturgia é algo devido a Deus e instituído pelo próprio Deus. Quando alguém participa de uma liturgia celebrada como a Igreja determina e sempre celebrou, se reorienta, se reencontra, toma consciência de sua própria verdade: sou pequeno, dependente de Deus e profundamente amado por Ele: Nele está minha vida, meu destino, minha verdade, minha paz. Nada é mais libertador que isto!
A Liturgia é algo devido a Deus e instituído pelo próprio Deus. Quando alguém participa de uma liturgia celebrada como a Igreja determina e sempre celebrou, se reorienta, se reencontra, toma consciência de sua própria verdade: sou pequeno, dependente de Deus e profundamente amado por Ele: Nele está minha vida, meu destino, minha verdade, minha paz. Nada é mais libertador que isto!
Na ação litúrgica, que é primeira e principalmente ação do Cristo ressuscitado, Eterno Sacerdote da Nova Aliança, e, somente de modo derivado, ação da Igreja unida a Cristo no Espírito, como Seu Corpo, estamos diante da Verdade que é Deus; verdade que não produzimos nem inventamos, mas vem a nós e enche o nosso coração!Devemos procurá-la? Certamente sim: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração andará inquieto enquanto não descansar em Ti!" Mas para isto é indispensável a capacidade de silêncio, de escuta, de abrir os olhos do coração para a beleza de Deus. A Liturgia nos dá isto - e não simplesmente como sentimento ou emoção, mas de modo real, efetivo, sacramental: aqueles gestos, símbolos, palavras, ritos, são cheios de Espírito Santo, Espírito de Vida divina, pois são gestos de Cristo feitos pela misericórdia do senhor, gestos da Igreja, ministra da obra da salvação.
Fonte: http://www.salvemaliturgia.com/
Participando da Missa Passo a Passo
» Primeira Leitura
» Salmo Responsorial
» Segunda Leitura
» Aclamação ao Evangelho
» Evangelho
» Homilia
» Profissão de Fé
» Oração Universal ou Oração dos Fiéis.
 PALAVRA PROCLAMADA:
PRESENÇA REAL DE JESUS NO MEIO DA ASSEMBLÉIA! “QUANDO SE LÊEM AS SAGRADAS
ESCRITURAS É O PRÓPRIO JESUS QUEM NOS
FALA!”- A PALAVRA DE DEUS RECORDA E PROLONGA A HISTÓRIA DA SALVAÇÃO- AS AÇÕES-
LITURGIA- SALVÍFICAS DE DEUS!
PALAVRA PROCLAMADA:
PRESENÇA REAL DE JESUS NO MEIO DA ASSEMBLÉIA! “QUANDO SE LÊEM AS SAGRADAS
ESCRITURAS É O PRÓPRIO JESUS QUEM NOS
FALA!”- A PALAVRA DE DEUS RECORDA E PROLONGA A HISTÓRIA DA SALVAÇÃO- AS AÇÕES-
LITURGIA- SALVÍFICAS DE DEUS!
DEVE SER CELEBRADA DE
TAL MODO QUE FAVOREÇA A MEDITAÇÃO- POR ISSO DEVE SER DE TODO EVITADA QUALQUER
PRESSA QUE IMPEÇA O RECOLHIMENTO. INTEGRAM-NA TAMBÉM BREVES MOMENTOS DE
SILÊNCIO, APÓS A PRIMEIRA E A SEGUNDA LEITURA E APÓS A HOMILIA.
Quando se lêem as
Sagradas Escrituras na Igreja, o próprio Deus fala a seu povo, e Cristo,
presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. Por isso, todos devem escutar com
veneração as leituras da Palavra de Deus, elemento de máxima importância da
Liturgia
Segundo a tradição, a função de proferir as leituras não
é presidencial, mas sim ministerial. Por
isso as leituras são proclamadas por um leitor, mas o Evangelho é anunciado
pelo diácono ou por outro sacerdote.
09- Motivação- Para as leituras e o Evangelho deve haver apenas
uma motivação, não sendo necessário um resumo, mas sim um convite para a escuta
da Palavra de Deus.
10 - Primeira Leitura- Os fiéis sentam-se para
ouvir primeiro a Palavra de Deus revelada pela Primeira Leitura, que é a leitura de um trecho do Antigo Testamento
e que, nos dias de semana, pode ser
também um trecho das Epístolas dos apóstolos ou do Apocalipse (No tempo
Pascal a leitura é dos Atos dos
Apóstolos).
Obs. 02: Para orientação do Leitor e/ animador equipes de
canto, O SILÊNCIO APÓS AS LEITURAS É LITÚRGICO!
Também se deve guardar, nos momentos
próprios, o silêncio sagrado, como parte da celebração . A natureza deste
silêncio depende do momento em que ele é observado no decurso da celebração.
Assim, no ato penitencial e a seguir ao
convite à oração, o silêncio destina-se ao recolhimento interior; a seguir
às leituras ou à homilia, é para uma breve
meditação sobre o que se ouviu; depois
da Comunhão, favorece a oração
interior de louvor e ação de graças.
IMPORTANTÍSSIMO –
LEMBREMO-NOS SEMPRE QUE A SACRISTIA É UM LUGAR DE SILÊNCIO E DE ORAÇÃO... PARA
SE PREPARAR
ANTES DA CELEBRAÇÃO... DEIXAR O ESPÍRITO
SANTO FALAR!
Salmo Responsorial (PARTE INTEGRANTE DA
PRIMEIRA LEITURA- FAVORECE A MEDITAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS E OS FIÉIS declaram aceitar a Palavra que acabaram de
ouvir.)- Deve ser feito do ambão
pelo salmista (com veste litúrgica), de preferência SEMPRE CANTADO, Mesmo quando toda a equipe de cantos
canta o salmo, um salmista deverá estar no ambão, pois o salmo é a resposta que
damos à Palavra de Deus.
Segunda Leitura: é reservada para os domingos e dias festivos
da Igreja. Esta leitura é feita das Epístolas ou dos Atos dos Apóstolos, ou do
Apocalipse e é reservada para os domingos e dias festivos da Igreja. A Segunda
Leitura procura ter sempre alguma relação com o texto da Primeira, tornando
mais fácil compreender a mensagem apresentada. Primeira, tornando mais
fácil compreender a mensagem apresentada.
Aclamação ao Evangelho- É UM RITO ATRAVÉS DO QUAL A ASSEMBLÉIA DOS FIÉIS ACOLHE
O SENHOR QUE LHE VAI FALAR NO EVANGELHO, SAÚDA-O E PROFESSA SUA FÉ PELO CANTO:
do Aleluia, Cantores devem estar atentos
à aclamação própria, que está sempre antecedendo o Evangelho.
 EvangelhoCONSTITUI O PONTO ALTO DA LITURGIA DA
PALAVRA... A PRÓPRIA LITURGIA ENSINA QUE SE DEVE MANIFESTAR A MAIOR
VENERAÇÃO... RECONHECENDO E PROFESSANDO QUE O CRISTO ESTÁ PRESENTE E NOS FALA..
EvangelhoCONSTITUI O PONTO ALTO DA LITURGIA DA
PALAVRA... A PRÓPRIA LITURGIA ENSINA QUE SE DEVE MANIFESTAR A MAIOR
VENERAÇÃO... RECONHECENDO E PROFESSANDO QUE O CRISTO ESTÁ PRESENTE E NOS FALA.. Jesus está presente através da Sua Palavra, como vai
estar presente também depois, no pão e no vinho consagrados.
Jesus está presente através da Sua Palavra, como vai
estar presente também depois, no pão e no vinho consagrados.
APÓS O EVANGELHO, AQUELE QUE NOS FALOU MERECE
UM MINUTO DE SILÊNCIO...
15 – Homilia - A homilia é parte da liturgia e muito recomendada é um elemento necessário para alimentar a vida
cristã. Deve ser a explanação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura
ou de algum texto do Ordinário ou do Próprio da Missa do dia, tendo sempre em
conta o mistério que se celebra, bem como as necessidades peculiares dos ouvintes
APÓS A HOMILIA CONVÉM OBSERVAR UM TEMPO
DE SILÊNCIO
Profissão de FéA profissão de fé, tem como
finalidade permitir que todo o povo reunido, responda à palavra de Deus
anunciada nas leituras da sagrada escritura professe os grandes mistérios da
fé.
Oração da Comunidade: Na oração universal
ou oração dos fiéis, o povo responde, de algum modo à palavra de Deus recebida
na fé e, exercendo a função do seu sacerdócio batismal, apresenta preces a Deus
pela salvação de todos.
São proferidas do ambão ou de outro lugar apropriado...
Normalmente a ordem das intenções é a
seguinte:
a) pelas necessidades da Igreja;
b) pelas autoridades civis e pela salvação do
mundo;
c) por aqueles que sofrem dificuldades;
d) pela comunidade local.
No próximo artigo tem mais.
Participando da Missa Passo a Passo
O MISTÉRIO DA EUCARISTIA É DEMASIADO GRANDE PARA QUE
ALGUÉM POSSA PERMITIR TRATÁ-LO COMO ARBÍTRIO PESSOAL, NÃO RESPEITANDO SEU
CARÁTER SAGRADO. NA SANTA MISSA FAZ-SE APENAS O QUE O MISSAL DETERMINA. –
“PRESENÇA REAL DO SENHOR SOB AS ESPÉCIES EUCARÍSTICAS.”de pão e de vinho.
TODOS PROCUREM QUE O SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA
EUCARISTIA SEJA DEFENDIDO DE TODA IRREVERÊNCIA! POIS ATRAVÉS DO RITO SE
MANIFESTA A SANTIDADE DE DEUS...
A Missa é simultaneamente sacrifício
de louvor, de ação de graças, de propiciação e de satisfação. Nela se encontra
tanto o ápice da ação pela qual Deus santificou o mundo em Cristo, como o do
culto que os homens oferecem ao Pai, adorando-o pelo Cristo, Filho de Deus.
A celebração da Eucaristia é uma ação de toda
a Igreja, onde cada um deve fazer tudo e só aquilo o que lhe compete, segundo o
lugar que ocupa no Povo de Deus.
Ritos Iniciais
Comentário
Introdutório: O comentário introdutório, feito pelo comentarista da
celebração, marca de certa maneira, o inicio da Santa Missa. Em algumas
comunidades é precedido pelo som do sininho, que indica aos fieis presentes
para que interrompam suas orações particulares e se unam na Oração Oficial e
Comum da Igreja.
O comentário inicial convida a participação
coletiva dos fieis e visa criar um ambiente propício para oração e a fé. Em
geral, o comentário situa os presentes num determinado “tema” que será abordado
mais profundamente nas leituras da Bíblia, durante o Rito da Palavra.
A assembléia pode ouvir o comentário sentado,
uma vez que a celebração, de fato, só tem inicio com o Canto de Entrada, quando
o sacerdote e os demais ministros entram em procissão, como veremos a seguir.
Canto de Entrada: Tem a função de
abrir a celebração, promover a união da assembléia,
introduzir os fieis no Mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a
procissão do sacerdote e dos ministros.
Se houver uso de incenso, prossegue até que o
altar seja incensado. O Canto de Entrada deve ser um canto que trate do mesmo
assunto e motivo da celebração. Os instrumentos musicais terão a função de
unir, incentivar e apoiar o canto não devendo cobrir as vozes. Todo este canto
como a procissão do sacerdote não deverá ser demasiado longa. O canto deve
terminar quando o sacerdote chega ao altar.
O ideal é que não falte, porém não havendo
canto de entrada, a antífona proposta pelo Missal é recitada pelos fieis,
leitor ou pelo Sacerdote.
Antífona de Entrada: São
breves palavras que o sacerdote ou diácono fazem para introduzir os fieis na
Missa do dia. Em regra, costuma a ser um versículo bíblico que tenha total
ligação com o “tema” da missa, com as leituras que serão feitas durante o Rito
da Palavra.
Saudação: Toda
a assembléia de pé. É um gesto de boas vindas feito pelo presidente da
celebração recebendo a todos com alegria. Após a saudação a assembléia
responde: “Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo”.
Ato Penitencial:
Toda a assembléia de pé. Todos são convidados pelo sacerdote a reverem suas
faltas, permanecendo-se em silêncio por um tempo. Neste Ato Penitencial, os
pecados Veniais (leves) são perdoados de acordo com a vontade. Pode ser
recitado ou cantado, conforme convite do presidente. Se cantado sua melodia
deve traduzir a contrição de quem pede perdão. Todo o povo deve participar
deste canto e os instrumentos devem o acompanhar de modo suave, quase
imperceptível.
No
domingo de Ramos pode ser substituído pela procissão. Na Quarta feira de Cinzas
é substituído pela imposição das cinzas ou pode também ser substituído pela
benção e aspersão da água.
Este
Ato é introduzido pelo sacerdote e concluído com a absolvição, também pelo
sacerdote que se inclui para deixar claro que não se trata do sacramento da
Penitência.
Kyrie, eleison - Senhor
Tende piedade: Toda a assembléia de pé. Depois do Ato Penitencial
inicia-se o Kyrie, eleison, a não ser que já tenha sido rezado ou cantado no
próprio ato penitencial. Nele os fieis aclamam o Senhor imploram a sua
misericórdia e também louvam ao Senhor Jesus pelo perdão, (por olhar por nós
com Sua misericórdia). Por via de regra, dada aclamação é repetida duas vezes,
não se excluindo nem incluído mais repetições. Se não for cantado, seja recitado.
Glória: Toda a assembléia de
pé. É o hino antiqüíssimo (século II) pelo qual a Igreja congregada no Espírito
Santo, glorifica a Deus Pai e ao Cordeiro. É um louvor as três pessoas da
Santíssima Trindade, cantado ou recitado nas Missas dominicais, solenidades ou
nas festas dos santos. No tempo do Advento e Quaresma não se reza nem se canta
o Glória. Também não se diz nos dias de semana porque perderia o sentido
solene. Às vezes são cantados uns hinos um pouco diferentes.
- Há uma proibição
explícita de se substituir o texto do hino do Glória por outro texto qualquer o
mesmo acontece com o Santo e o Cordeiro de Deus.
- Não é lícito
substituir os cantos colocados no Ordinário da Missa, por exemplo, o gloria
Cordeiro de Deus, e o santo por outros cantos devem ser a mesma letra.
Oração (Coleta): Toda a assembléia de pé. Esta
oração encerra o rito inicial da Missa. O sacerdote convida o povo a rezar
(quando ele diz, Oremos); todos se conservam em silêncio com o sacerdote por
alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e
formulando interiormente os seus pedidos. Depois
o sacerdote diz a oração que se costuma chamar “coleta”, pela qual se exprime a
índole da celebração. A assembléia conclui
a oração com o Amem. Dentro da oração da coleta podemos perceber os
seguintes elementos:
Próximo artigo veremos as
outras partes da missa.
Hoje,
dois mil anos depois, do nascimento de Jesus também nós, como os discípulos, continuamos nos reunindo em
comunidade, ouvindo as palavras de Jesus, tentando compreender, com a ajuda do
Espírito Santo, o que está acontecendo e buscando uma palavra de vida. Na
verdade, Deus continua nos falando hoje.com o mesmo amor por isso vamos
procurar entender melhor o que significa
a palavra liturgia. LITURGIA O SERVIÇO QUE SE FAZ EM FAVOR DE ALGUÉM.
Liturgia
da palavra é o
nome dado, na liturgia
da Igreja Católica, ao momento da celebração litúrgica
em que se proclama, escuta e reflete a palavra de Deus, através da leitura de
um ou mais trechos da Bíblia. A palavra diz
“Não só de pão vive o homem, mas de toda a
palavra que sai da boca de Deus!" (Mt 4,4)A Liturgia Cristã é a ação festiva, pública e comunitária das pessoas que professam sua Fé em Deus e se reúnem com Jesus Cristo para o memorial da sua vida, morte e ressurreição. Nesta ação litúrgica encontramos unidas as várias formas da presença de Cristo: na Igreja reunida, na Palavra proclamada e na Eucaristia partilhada
 Nós,
cristãos, herdamos da tradição judaica o costume de ler e orar a Palavra de
Deus. O próprio Jesus, no Templo, desde pequeno, já ensinava a Palavra de Deus
(Lc 2,41-52); e nas sinagogas, aos sábados, rezava salmos e lia trechos da
Sagrada Escritura, que apontavam a chegada do Reino de Deus (Lc 4,15-22).é como
a nossa catequese hoje
Nós,
cristãos, herdamos da tradição judaica o costume de ler e orar a Palavra de
Deus. O próprio Jesus, no Templo, desde pequeno, já ensinava a Palavra de Deus
(Lc 2,41-52); e nas sinagogas, aos sábados, rezava salmos e lia trechos da
Sagrada Escritura, que apontavam a chegada do Reino de Deus (Lc 4,15-22).é como
a nossa catequese hoje
A Liturgia da Palavra é
semelhante a um diálogo entre duas pessoas: Deus e seu povo, Jesus e sua
comunidade reunida no Espírito Santo. É o diálogo da Aliança (Êx 19 – 24).
Nela, há momentos em que ouvimos a fala do Senhor e há momentos em que a
comunidade aclama ou responde àquilo que ouviu. Isso requer de nossa parte:
atitude de fé, de acolhida, de profunda escuta; requer a disposição para entrar
em diálogo e comunhão com o Deus da Aliança. Não há Liturgia sem Palavra. Jesus é a Palavra de Deus que
se fez gente como nós
A
Liturgia da Palavra não é apenas um momento de se ouvir falar de Jesus ou de
acompanhar leituras que falam Dele; é o próprio Jesus que, estando no meio de
nós, fala à comunidade reunida. Sua Palavra tem a força de nos curar, converter
e De nos transformar. Por isso, nas celebrações devemos despertar as pessoas ao costume de ouvir as
leituras com amorosa atenção, sobretudo o Evangelho, não acompanhando sua
leitura nos folhetos,ou no telão pois
“quando se proclamam as Sagradas
Escrituras na Igreja, é Cristo que nos fala” assim como falava com os apóstolos
quando estavam reunidos e os ensinava e devemos dar toda a atenção  A PALAVRA DE DEUS PRECISA SER
PROCLAMADA E ENTENDIDA COM O MESMO ESPÍRITO QUE INSPIROU AQUELE QUE A ESCREVEU!
A PALAVRA DE DEUS PRECISA SER
PROCLAMADA E ENTENDIDA COM O MESMO ESPÍRITO QUE INSPIROU AQUELE QUE A ESCREVEU!
EIS
OS DESAFIOS DE NOSSAS EQUIPES DE CELEBRAÇÃO: AS PESSOAS PRECISAM VOLTAR PARA
CASA DIZENDO: hoje a palavra foi para mim OU
hoje DEUS falou NO MEU CORAÇÃO OU AINDA
“ENCONTREI JESUS!
POIS QUANDO SAIMOS DE CASA VAMOS COM UM
OBJETIVO PARTICULAR QUE POSAMOS
TRANSMITIR ESTA AJUDA DE ENCONTRO COM JESUS
PELA PALAVRA BEM PROCLAMADA
ATRAVES DO CANTO DA HOMILIA DAS
DINAMICAS DE ALGUMA MANEIRA DEVEMOS SER INSTRUMENTOS.
 LUCIA é coordenadora da Liturgia na Paróquia Santa Teresa D'Ávila.
LUCIA é coordenadora da Liturgia na Paróquia Santa Teresa D'Ávila.
 LUCIA é coordenadora da Liturgia na Paróquia Santa Teresa D'Ávila.
LUCIA é coordenadora da Liturgia na Paróquia Santa Teresa D'Ávila.


































































Nenhum comentário:
Postar um comentário